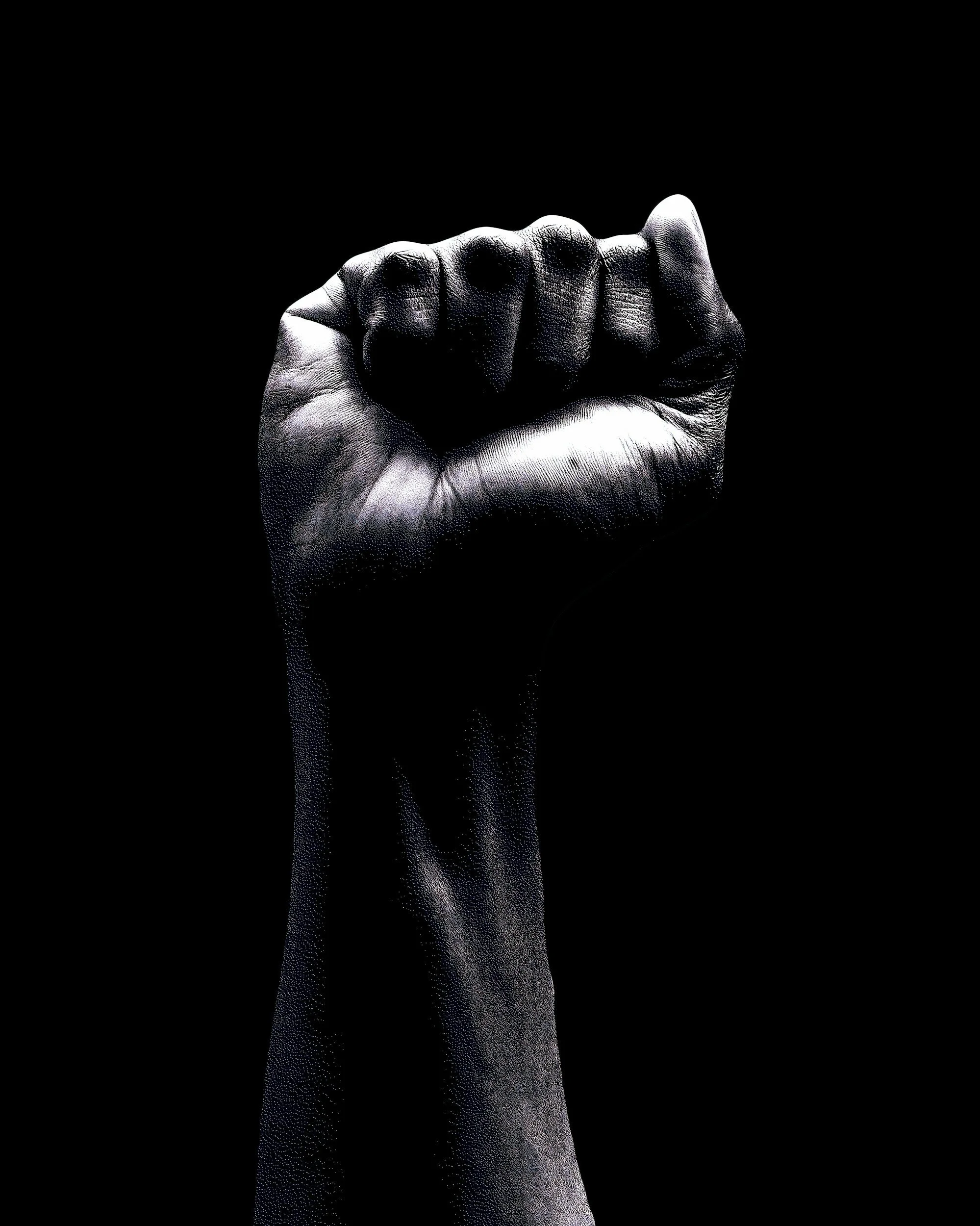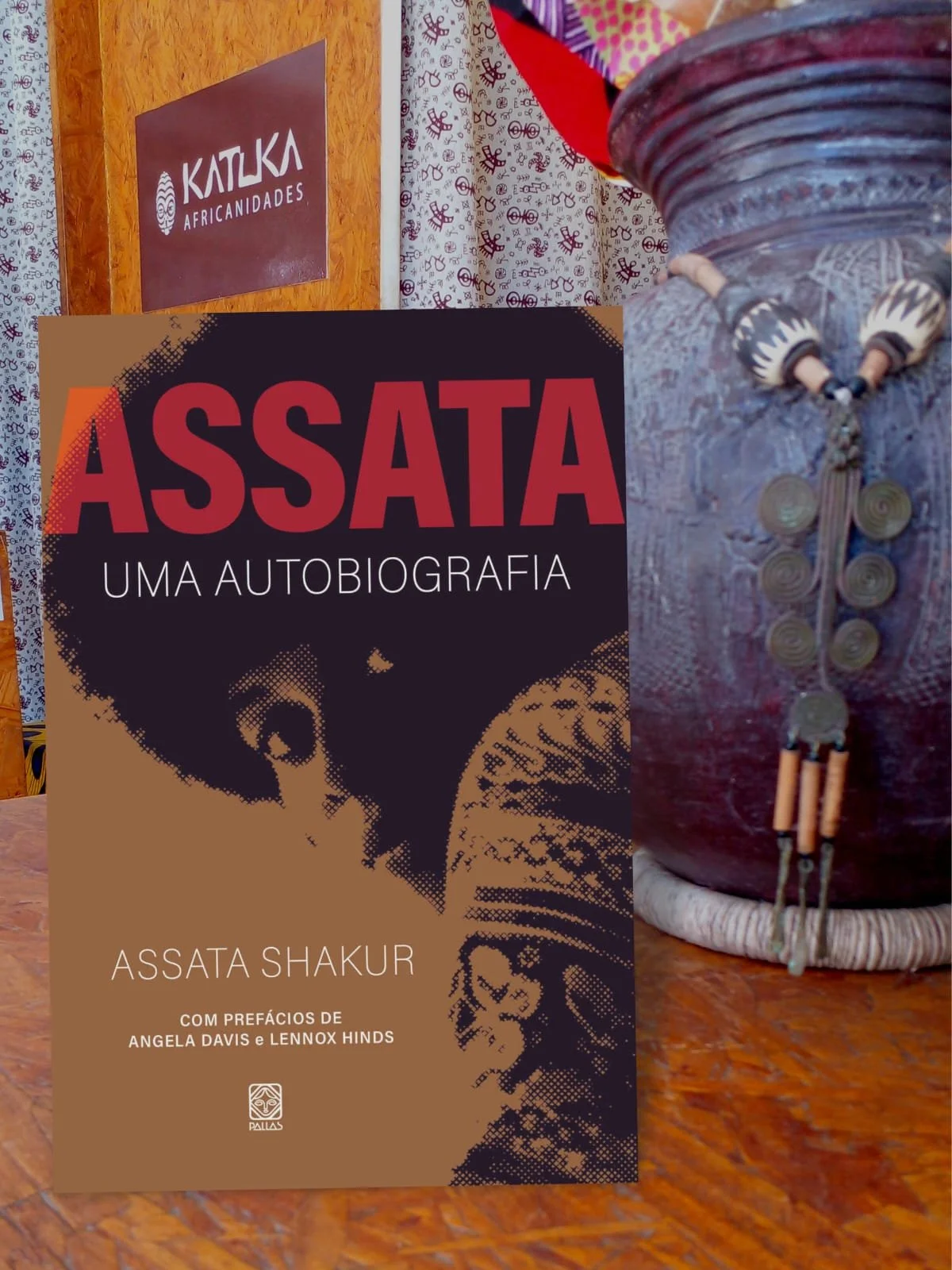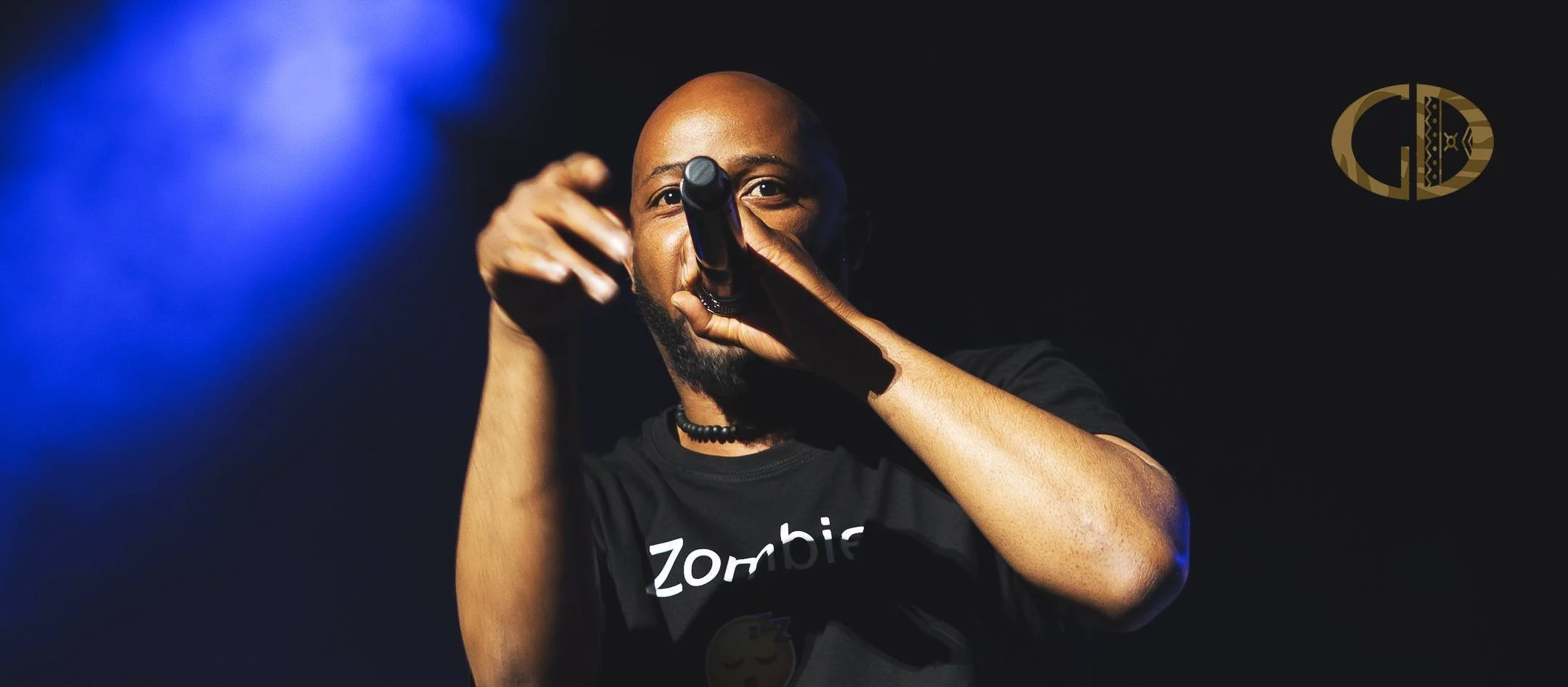HISTÓRIAS
Welket Bungué: “Sou sujeito e objeto daquilo que estou a registar”
"Contemplação Impasse Tentativa” é o mais recente filme de Welket Bungué, estreado em Outubro do ano passado em Portugal, no Festival Internacional de Cinema Doc Lisboa. Com a Guiné-Bissau como palco, a curta-metragem transporta-nos para a atualidade do caos de uma feira, epicentro de uma série de observações sobre o passado político, marcado pela luta de libertação, e a presente governação, manchada de autoritarismo. Cinquenta e dois anos depois da Independência, o que o povo diria a Amílcar Cabral diante da questão: “Como é que veem o país neste momento, relativamente ao país pelo qual lutámos e sonhámos?”. Sem perder de vista o olhar sobre o futuro, Welket usa o cinema como resistência, e faz do telemóvel uma força de intervenção. Para conhecer nesta conversa conduzida pela estudante Naya Chardon, de 16 anos, que partilha com o Afrolink, o resultado de um encontro com o ator, performer, modelo e realizador.
"Contemplação Impasse Tentativa” é o mais recente filme de Welket Bungué, estreado em Outubro do ano passado em Portugal, no Festival Internacional de Cinema Doc Lisboa. Com a Guiné-Bissau como palco, a curta-metragem transporta-nos para a atualidade do caos de uma feira, epicentro de uma série de observações sobre o passado político, marcado pela luta de libertação, e a presente governação, manchada de autoritarismo. Cinquenta e dois anos depois da Independência, o que o povo diria a Amílcar Cabral diante da questão: “Como é que veem o país neste momento, relativamente ao país pelo qual lutámos e sonhámos?”. Sem perder de vista o olhar sobre o futuro, Welket usa o cinema como resistência, e faz do telemóvel uma força de intervenção. Para conhecer nesta conversa conduzida pela estudante Naya Chardon, de 16 anos, que partilha com o Afrolink, o resultado de um encontro com o ator, performer, modelo e realizador.
Welket Bungué, fotos de Kristin Berhge
Por Naya Chardon*
Entre poesia e paisagens pitorescas, o telemóvel de Welket Bungué atravessa o caos de uma feira guineense – a Lumo –, protegido por uma manta de invisibilidade. "Contemplação Impasse Tentativa" nasce ali, nesse olhar que observa sem ser visto — uma metáfora para fazer cinema num país onde ver é, em si, um ato político.
Mas quem é Welket Bungué?
Ator, performer, modelo e realizador, Welket Bungué nasceu na Guiné-Bissau em 1988, tem atuado em vários projetos, cofundou a produtora KUSSA, e escreveu o livro “Corpo Periférico”. Mais conhecido pelo papel principal que interpretou em “Berlin Alexanderplatz” (2020), Welket também realizou “Memória”, sobre Amílcar Cabral.
Em Novembro passado, numa das suas últimas passagens por Lisboa – enquadrada numa intensa rotina de filmagens e viagens – encontrámo-nos na Fundação Calouste Gulbenkian para uma conversa.
Sem reservas, Welket revelou como a arte sempre foi uma forma de se exprimir, pessoal e politicamente; e descreveu a sua metodologia como sendo de autorrepresentação: o ato de o próprio sujeito periférico se filmar, narrar e pensar, em vez de ser apenas objeto do olhar de outros.
"As imagens são filmadas enquanto ponto subjetivo, porque na minha obra eu sou sujeito e objeto daquilo que estou a registar", concretiza o cineasta.
“Contemplação Impasse Tentativa”, o seu mais recente projeto, permite observar como o realizador passa das palavras à ação.
Estreado no Festival Internacional de Cinema Doc Lisboa, no final do ano passado, o filme serve de mote para esta conversa, na qual abordámos temas como identidade, e refletimos sobre o cinema como ferramenta de resistência política.
Começámos pelo nome da produção: porquê “Contemplação Impasse Tentativa”?
Welket explica que, embora as três palavras se sustentem autonomamente, juntas ganham importância reforçada. "São convergentes, têm também como objetivo abrir uma perceção mais ampla e crítica sobre o filme".
Apresentando uma a uma, o realizador nota que "Contemplação" deve ser entendida não só no seu significado literal, mas também como conceito abstrato: enquanto movimento de sair de si próprio para ver as coisas acontecerem, com um olhar não-intrusivo.
Já o termo "Impasse" refere-se à situação política na Guiné-Bissau, gerida sob evidentes tendências autocráticas, e em que não se sabe se o país está a viver numa democracia ou numa ditadura.
Nem de propósito, uma das cenas centrais do filme acontece na feira de Lumo, onde a negligência de um trabalhador do Estado leva a que estacione a viatura num lugar indevido, interrompendo o negócio de todos, e gerando uma grande desordem.
“Foi apenas um carro, mas desestabilizou tudo”, nota o também ator, sublinhando a consequência: “As pessoas têm de trabalhar muito para tentar corrigir uma coisa que não foi provocada por elas”.
Não será assim demasiadas vezes? Welket assinala que, nesse cenário, o impasse é uma metáfora para o impasse em que o seu país se encontra, sem saber se vai andar "para a frente, para trás ou para o lado".
Finalmente, a palavra "Tentativa" traduz o sentimento rebelde e otimista de persistir, expressão de uma resiliência capaz de transportar o povo do país para "um lugar melhor."
A Manta de Invisibilidade
Enquadrado o título do filme, a conversa retorna ao primeiro conceito – de “Contemplação” –para adicionar um olhar concreto a essa ideia abstrata, possível a partir da figura do "missionário invisível".
“Era preciso que houvesse um olhar não intrusivo, para que pudéssemos testemunhar realmente o que está a acontecer no país, como as pessoas estão a lidar com tudo", explica o cineasta, acrescentando que aí reside o manto de invisibilidade que acompanha a câmara enquanto se filma.
Por isso, mais do que uma invenção cinematográfica, o “missionário invisível” é a projeção do próprio realizador, que põe em prática o método de autorrepresentação. Além disso, num contexto como o guineense, no qual a crítica pública é reprimida, a câmara invisível oferece a vantagem de se mover livremente, conseguindo ver, escutar e registar o que não pode ser dito.
Regressar em imagens
O processo vai-se revelando, na autodescoberta que tem sido o reencontro do realizador com as origens, iniciado em 2019, quase três décadas depois da saída da Guiné, em 1991. A essa primeira viagem seguiram-se outras, roteiro onde se destaca o regresso a Xitole, a sua localidade-berço.
Aconteceu em 2023, e envolveu um improviso sobre rodas: para poder registar e capturar esse momento, Welket, que seguia de autocarro, teve de pedir ao condutor para desencascar uma paragem.
"Houve um fracasso, no sentido em que embora o autocarro passasse por lá, Xitole não era uma paragem da viagem".
O "áudio" em audiovisual
A par do registo visual, Welket firma créditos no registo sonoro, compilando anos de viagem num mosaico audiovisual. Não estranha, por isso, que em “Contemplação Impasse Tentativa” encontremos imagens de arquivo, que vão muito além da Guiné-Bissau. É o caso do mar em São Tomé e Príncipe, da vista aérea de Portugal, ou dos planos da Nigéria e da Alemanha, todos extraídos de uma compilação seleta das suas idas e vindas.
‘Arrumadas’ as imagens, qual será o raciocínio que guia os diversos sons do filme? Por cada escolha, há uma intencionalidade, garante o realizador, sem descurar um único áudio. Seja o canto dos pássaros, o movimento do mar em São Tomé e Príncipe, ou a voz-off que lê a poesia do seu pai, Paulo T. Bungué.
“Cabral” é um dos poemas que se ouve na produção, aponta Welket, explicando que o mesmo representa uma homenagem a Amílcar Cabral.
Mais do que cuidar da escolha dos sons, o guineense sublinha a importância de afinar a edição: as alterações técnicas permitiram-lhe "deslocar as pessoas para um outro lugar" – o de contemplação.
"Embora fale na primeira pessoa, há a intenção de que a voz pareça também consciência”.
Cabral em eco: cinema entre memória e revolução
“Contemplação Impasse Tentativa” aborda vários temas políticos, seja direta ou indiretamente. Ao longo do filme, encontramos, por exemplo, alusões e homenagens a Amílcar Cabral, líder da luta pela independência contra o domínio colonial português, em Cabo Verde e na Guiné-Bissau.
A determinada altura, a ação encaminha-nos para um exercício de imaginação de uma pergunta que Cabral poderia fazer: “Como é que vocês veem o vosso país neste momento, relativamente ao país pelo qual lutámos e sonhámos?”.
Com esta proposta, Cabral deixa de ser apenas uma figura histórica para tornar-se consciência coletiva.
"Qual é a nossa responsabilidade, enquanto cidadãos e cidadãs, quando abrimos mão dos nossos direitos ou desacreditamos no sistema eleitoral democrático, que é o que se passa no país? É muito difícil ter-se um posicionamento político, porque há quase sempre represálias”, lamenta o guineense, prosseguindo: “Sem falar na questão dos recursos para poderes viver, para te poderes deslocar. Essas coisas acabam por suplantar o desejo de ser criativo".
As mensagens políticas ressaltam igualmente no diálogo que os poemas de Paulo T. Bungué criam através do tempo: entre o sonho revolucionário dos anos 1970 e o presente autoritário de um país em busca de voz.
Filmando o silêncio, o cineasta faz o país responder sem palavras.
"Por isso é que o filme manda uma pessoa invisível, que possa andar pelo país. [Sob este regime] já não temos manifestações públicas livres no país. Tu não podes ir agora para a rua com panfletos a dizer ‘Somos mais a favor dos direitos das mulheres, ou somos mais a favor dos direitos para a educação’. Não podes. Porque eles vão usar a polícia de intervenção rápida; vão disparar balas de borracha e jatos de água quente contra a população para a desmobilizar. Por isso é que o filme manda uma pessoa invisível, que possa andar pelo país — o governo não sabe que ele está lá, o povo também não sabe".
Pequenos ecrãs, grandes revoluções: um novo cinema guineense
Atento à realidade, Welket acredita que para criar uma indústria cinematográfica na Guiné-Bissau, que vê hoje como mínima, é preciso reinventar a arte, e recorrer aos telemóveis. O artista nota que cineastas como Flora Gomes ou Sana Na N'Hada têm produzido filmes desde o final dos anos 80 com as câmaras típicas, mas defende que para tornar o cinema mais acessível e democratizante - enquanto ferramenta de expressão política –, é preciso aprender a contar histórias usando o dispositivo móvel.
"Tendo em conta a conjuntura política em que vivemos, acredito que há muita coisa que precisa ser denunciada ou documentada para que possa haver um tratamento apropriado nos próximos anos. E o telemóvel é que o pode fazer. Usar os dispositivos móveis pode capacitar pessoas com um instrumento que pode mudar vidas."
Entre as histórias que devem ser contadas, o realizador inclui as que têm sido invisibilizadas, lembrando que é preciso desocultar vários capítulos do passado. O cineasta recorda, por exemplo, que durante a sua primeira viagem à Guiné-Bissau, ao conhecer o Memorial da Escravatura e Tráfico Negreiro de Cacheu, percebeu que teria de se comprometer com "um retorno mais pragmático e recorrente ao país, para poder resgatar novas histórias e contribuir para uma reinvenção do cinema guineense”.
“Contemplação Impasse Tentativa” é indissociável dessa consciência. No filme, Welket recorre à herança poética paterna como forma de manter viva a memória da libertação e promover esperança para uma sociedade onde a arte é também uma responsabilidade cívica.
Enraizado entre a memória de Cabral e o futuro de uma nova geração armada de telemóveis, o realizador usa o cinema como resistência, e incentiva outros a fazerem o mesmo.
*com edição de Paula Cardoso
A democracia somos nós, a anti-democracia também. O que o futuro nos reserva?
Numa acção de campanha de Catarina Martins, candidata que tem o meu apoio à Presidência da República, tive a oportunidade de fazer uma intervenção sobre o momento político que vivemos, de recuo democrático e avanço fascista. Aconteceu no passado dia 8, no Clube União Banheirense "O Chinquilho", na Moita, e partilho agora, em vésperas de eleições, a minha intervenção, para recordar que a Democracia somos nós. Votemos por ela! Eu voto com a Catarina! Para que Viva a Democracia.
Numa acção de campanha de Catarina Martins, candidata que tem o meu apoio à Presidência da República, tive a oportunidade de fazer uma intervenção sobre o momento político que vivemos, de recuo democrático e avanço fascista. Aconteceu no passado dia 8, no Clube União Banheirense "O Chinquilho", na Moita, e partilho agora, em vésperas de eleições, a minha intervenção, para recordar que a Democracia somos nós. Votemos por ela! Eu voto com a Catarina! Para que Viva a Democracia.
Estou contigo nesta campanha, Catarina, porque sei – aliás, sabemos – que não é de mentalidades individualistas e egóicas que Portugal precisa. O país precisa de colectivo, e ele constrói-se todos os dias com a nossa participação.
A Democracia somos nós.
E ela será tão mais forte, quão mais capazes formos de construir colectivo, agregando – e não segregando – todas as diferenças que compõem a nossa sociedade.
A Democracia somos nós.
E ela continuará a definhar se insistirmos na ideia do outro como ameaça, na narrativa do diferente como menos humano, e em modelos de sociedade onde a exigência de desempenho laboral se sobrepõe ao empenho em defesa da existência humana.
A Democracia somos nós.
Defendê-la exige participação, muito além dos actos eleitorais. É no dia a dia, em casa, nos transportes públicos, nas escolas, nos hospitais, nas ruas, nas redes sociais, em todos os espaços da nossa vida que os valores da democracia têm de ser concretizados e consolidados.
Se hoje enfrentamos a maior ameaça à nossa democracia, e a democracia somos nós, isso significa que está nas nossas mãos protegê-la.
Infelizmente, não é isso que temos feito enquanto país.
De ciclo em ciclo político, o que se observa é que cada vez mais de nós ficam de fora das preocupações de quem tem o dever de incluir todas as pessoas.
Por isso mesmo, a anti-democracia também somos nós. Os que por não serem directamente visados, se resignam diante do racismo, da xenofobia, da misoginia, lgbtfobia e todas as manifestações contra o direito a ser.
A anti-democracia também somos nós. Os que diante da precarização das condições de trabalho, da redução dos salários, especulação imobiliária e aumento do custo de vida culpam os mais vulneráveis e idolatram os responsáveis.
A anti-democracia também somos nós. Os que negam a existência de barreiras estruturais que mantêm pessoas negras e ciganas afastadas do exercício da cidadania, e vedam a nacionalidade a quem nasceu em Portugal.
Se a democracia somos nós, e a anti-democracia também, o que é que o futuro nos reserva como país?
Acredito que a resposta a esta pergunta passa, com importância decisiva, pelas presidenciais do próximo dia 18.
Também por isso estou aqui. Contigo Catarina, e com todas as pessoas que querem que a Democracia resista a todas as ameaças.
Numa altura em que temos um governo alinhado à extrema-direita, com propostas de normas anti-constitucionais e conivente com políticas imperialistas, é vital impedir que a Presidência da República esteja, também ela, ao serviço da anti-democracia.
Nunca, como hoje, precisámos tanto de uma chefia de Estado que actue em defesa da Constituição da República e, já agora, do Direito Internacional.
Estou contigo, Catarina, porque sei que, mais do que respeitar os princípios fundadores da nossa Democracia, tu lutas para que eles se cumpram.
Desde logo o princípio da igualdade, que consagra que “todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei”.
À luz do mesmo princípio, “ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual”.
Ainda estamos longe de cumprir este princípio, mas ele é tão estruturante para a vida democrática que desistir dele é desistir da Democracia.
Eu não desisto. E também por isso estou aqui. Contigo, Catarina.
Não desisto, porque assumo o dever de honrar quem me antecedeu, quem deu a vida para que hoje eu esteja aqui, em liberdade, com direito de voto e agência política.
Não desisto porque acredito que um país melhor, coeso e fraterno é possível, com consciência e mobilização colectiva.
Não desisto porque a luta pela igualdade é a luta pela vida.
Neste 2026, que marca os 50 anos da nossa Constituição e 100 desde o golpe militar que impôs a ditadura, somos desafiados a escolher entre as trevas do passado, e novos dias inteiros e limpos. Entre a democracia e a anti-democracia. Entre a vida e a morte.
Eu voto contigo Catarina. Pela Vida, pela Democracia, reiterando que ela não existe sem igualdade.
Viva a Democracia!
Mais do que “votar em”, no próximo dia 18 eu “votarei com” Catarina Martins
O ano começa com mais um repto democrático. No próximo dia 18 de Janeiro teremos eleições presidenciais e, nunca como agora, importa perceber que o cargo em disputa não é decorativo, ao contrário do que outros ciclos políticos possam ter sugerido. Hoje é a defesa da própria Constituição da República que está em disputa, perante o avanço da extrema-direita no Parlamento e no Governo. Embora os alertas à anti-democratização do país não venham de hoje, eles agravam-se dia após dia, por terem sido repetidamente desvalorizados e até ignorados. Como se Portugal beneficiasse de um estatuto de excepcionalidade, fruto da particularidade de terem sido os militares a libertar a nação do fascismo. Neste 2026 que agora se inicia, desejo que sejamos capazes de defender o nosso Estado de Direito Democrático, votando uns com os outros, com quem, como nós, luta por um país digno para todas as pessoas. Catarina Martins é a minha escolha presidencial, e este texto a expressão pública do meu apoio. Votemos pela nossa Democracia.
O ano começa com mais um repto democrático. No próximo dia 18 de Janeiro teremos eleições presidenciais e, nunca como agora, importa perceber que o cargo em disputa não é decorativo, ao contrário do que outros ciclos políticos possam ter sugerido. Hoje é a defesa da própria Constituição da República que está em disputa, perante o avanço da extrema-direita no Parlamento e no Governo. Embora os alertas à anti-democratização do país não venham de hoje, eles agravam-se dia após dia, por terem sido repetidamente desvalorizados e até ignorados. Como se Portugal beneficiasse de um estatuto de excepcionalidade, fruto da particularidade de terem sido os militares a libertar a nação do fascismo. Neste 2026 que agora se inicia, desejo que sejamos capazes de defender o nosso Estado de Direito Democrático, votando uns com os outros, com quem, como nós, luta por um país digno para todas as pessoas. Catarina Martins é a minha escolha presidencial, e este texto a expressão pública do meu apoio. Votemos pela nossa Democracia.
Neste 1.º de Janeiro de 2026, proponho-me imaginar não apenas os próximos 364 dias, mas os cinco anos que temos pela frente. Faço-o na primeira pessoa do plural porque o mundo e o país que idealizo constrói-se colectivamente, sem muros nem fronteiras humanas, e com mais Democracia.
“Uma Democracia forte que ocupa todos os lugares das nossas vidas, nas escolas, nas empresas, nos bairros”, à letra do compromisso que assume Catarina Martins, e que me alia à sua candidatura à Presidência da República.
Mais do que “votar em”, no próximo dia 18 eu “votarei com”, posicionando-me do lado da candidata que, com todas as pessoas, seja onde for, luta por um país mais livre, justo e fraterno.
Vejo-a fazê-lo em múltiplas frentes, todos os dias, e não apenas a cada ciclo eleitoral. Vejo-a fazê-lo em defesa do nosso direito à habitação; pela continuidade e melhoria do nosso Serviço Nacional de Saúde; em nome da valorização do sector cultural; no combate ao racismo, xenofobia e todas as formas de discriminação; pela salvaguarda dos nossos direitos trabalhistas, estudantis e tantos mais. Vejo-a fazer, e não apenas prometer.
Esta é uma intervenção que nos aproxima, porque sei que as pessoas de palavra são aquelas que cumprem – e se cumprem – com a força da acção.
Reconheço na Catarina a rara e cada vez mais valiosa capacidade de dialogar e encontrar convergências políticas, sem perder de vista a promoção e protecção da igualdade e dignidade humanas, inegociáveis.
Como ela, e com ela, defendo que “temos em nós a força para o fazer”. Uma força tão mais consequente quão mais conscientes estivermos do valor da nossa Democracia, e da importância de a defendermos sem reservas.
Por isso, neste 1.º de Janeiro de 2026, ao imaginar os próximos 364 dias – em que elegeremos um(a) novo(a) Chefe de Estado –, e ao visualizar os anos que temos pela frente, antecipo a urgência de reflectirmos sobre o que está em jogo nestas Presidenciais. Pensemos no quanto a nossa Constituição, documento que todas as forças partidárias deveriam reconhecer e proteger como basilar, parece existir (e resistir) apenas 'à condição'.
E enquanto se dissemina a narrativa de que a quase cinquentenária Lei Fundamental precisa de ser revista, em vez de cumprida, quem nos defende de um novo e derradeiro não-é-não-que-afinal-é-sim?
"Temos em nós a força para o fazer”, nunca é demais repetir.
Mas isso exige que sonhemos juntos o nosso futuro, que em vez de ‘votarmos em’, ou ‘votarmos contra’, sejamos capazes de ‘votar uns com os outros’, por um Portugal com todas as vozes e para todas as pessoas. Exactamente como nos propõe Catarina Martins, a candidata que conjuga a vida, Portugal e a política no plural. Eu voto com o mesmo compromisso colectivo. Votemos todos. Uns com os outros. Com a Catarina.
Seguimos o ritmo da alma de Anna Joyce, e mergulhamos em “Ondas do Mar”
Aos 10 anos compunha temas infantis, animada pelo sonho de se tornar cantora, talvez como a brasileira Xuxa. Já na adolescência amadureceu letras, depois de também escrever refrões para os amigos rappers, mas foi na fase adulta da vida que a música se tornou carreira, impulsionada por sucessos como “Te Amar”, “Puro”, “Outra Vez”, ou “Curtição”. Agora ligada à Universal Music Portugal, Anna Joyce esteve em Lisboa no último mês de Novembro, e falou com o Afrolink sobre “Ondas do Mar”, escrita a seis mãos, e cantada com Ivandro. A novidade antecipa a estreia da artista angolana no palco do Sagres Campo Pequeno, marcada para 28 de Fevereiro de 2026. Uma oportunidade para conversarmos também sobre os desafios da indústria musical, e os seus quase 12 anos gravações e espectáculos. “Temos ouvido muitas influências de música africana aqui, a serem tratadas por artistas portugueses, o que é muito bom, mas também é bom sermos nós próprios a dar cara à nossa música”.
Aos 10 anos compunha temas infantis, animada pelo sonho de se tornar cantora, talvez como a brasileira Xuxa. Já na adolescência amadureceu letras, depois de também escrever refrões para os amigos rappers, mas foi na fase adulta da vida que a música se tornou carreira, impulsionada por sucessos como “Te Amar”, “Puro”, “Outra Vez”, ou “Curtição”. Agora ligada à Universal Music Portugal, Anna Joyce esteve em Lisboa no último mês de Novembro, e falou com o Afrolink sobre “Ondas do Mar”, escrita a seis mãos, e cantada com Ivandro. A novidade antecipa a estreia da artista angolana no palco do Sagres Campo Pequeno, marcada para 28 de Fevereiro de 2026. Uma oportunidade para conversarmos também sobre os desafios da indústria musical, e os seus quase 12 anos gravações e espectáculos. “Temos ouvido muitas influências de música africana aqui, a serem tratadas por artistas portugueses, o que é muito bom, mas também é bom sermos nós próprios a dar cara à nossa música”.
Dez músicas celebraram, em 2024, os primeiros 10 anos de carreira de Anna Joyce, embrulhados para os fãs no disco “A Peça”, lançado sem amarras comerciais.
“Foi mais sobre uma comemoração, do que sobre lançar um álbum para ser top nas paradas”, assinala ao Afrolink a cantora angolana, firme no palmilhar de novos caminhos.
“Não podes estar sempre a fazer as mesmas coisas”, nota a autora de sucessos como “Puro”, “Outra Vez” ou “Curtição”. Agora ligada à casa portuguesa da Universal Music, a artista juntou-se a duas outras referências da editora, Ivandro e Prodígio, no tema “Ondas do Mar”.
Composto pelos três e cantado em dueto, por Anna e Ivandro, o tema soma quase meio milhão de visualizações no YouTube, cerca de um mês após o lançamento, aumentando as expectativas para o próximo espectáculo da cantora em palcos portugueses.
“Estávamos à espera deste tema, demorou um bocadinho mais do que era suposto, mas não fazia sentido sair depois do show, porque as pessoas não iam poder cantar a música connosco”, explica a cantora, feliz com a parceria. “Decidimos mudar a data para 28 de Fevereiro, para haver tempo e disponibilidade de ambas as partes para fazermos esta canção, e acho que valeu a pena”.
Pela primeira vez ao lado de Ivandro, Anna conta que a ligação aconteceu a partir de Prodígio, que agora também é seu manager.
“Eu disse: olha, eu quero cantar com o Ivandro, e ele é que tratou, ele é que foi atrás. Então, foi muito mais do que só escrever, ele foi o maestro por detrás dessa música”.
O resultado ouve-se em todas as plataformas digitais, e, revela a cantora, tem por detrás um entendimento raro.
“Foi quase uma coisa inédita para mim, um processo muito bonito e satisfatório: escrevemos, gravamos, e a música estava feita num dia”.
Com tanto alinhamento, talvez venham aí novas marés de parceria?
“O objectivo é também expandirmos um bocadinho as nossas raízes, e levarmos a nossa música a ser conhecida pelas pessoas que a fazem. Porque temos ouvido muitas influências de música africana aqui, a serem tratadas por artistas portugueses, o que é muito bom, mas também é bom sermos nós próprios a dar cara à nossa música”.
Batimentos e abatimentos de tecnologia
Entre os desafios de manter a autenticidade – num mercado cheio de apropriações e pressões comerciais –, e as facilidades de produção – aceleradas por artificialidades tecnológicas – estará a originalidade artística comprometida?
“Se for em termos de expandir a música, e cada um poder mostrar o seu valor, acho que está definitivamente mais fácil. Com as redes sociais, há pessoas que nem precisam ser agenciadas para ter sucessos a tocar. Vemos vários exemplos nos TikToks da vida”, nota Anna, sem esquecer o reverso da medalha. “Acho que as tecnologias limitam o artista, porque é tão fácil agora gravar, que, com ou sem talento, uma pessoa consegue cantar uma música, e soa relativamente bem”.
No meio de tantas “inteligências” não humanas, estará o público a ser enganado?
“Eu não quero dizer isso, porque há pessoas que sonham com a música e podem não ter todo o talento do mundo. Então, não acho que seja enganador, porque vem de um lugar de querer. Diria até que lesa mais o artista do que o público, porque depois há certas alturas em que tu precisas, por exemplo, de te apresentares ao vivo e torna-se complicado”.
Capacidades vocais à parte, para quem ouve, muitas vezes o que fica é uma incapacidade de diferenciação, como se estivéssemos sempre diante das mesmas composições.
“Quando as pessoas fazem música pelo que está no hype, ou, como os miúdos dizem, pelo que está a bater, acho que há a tendência de se fazer o mesmo, com as mesmas batidas, as mesmas letras. Então, acho que existe essa facilidade de acabarem todos a cantar as mesmas coisas”.
Como quebrar esse ciclo de descaracterização?
Independentemente de compromissos e pressões comerciais, Anna Joyce defende a importância de cada artista encontrar e expressar a sua autenticidade.
“Não acho que seja uma obrigação do artista ser activista social ou um exemplo para a juventude, como muitas vezes se faz pensar. Nem todos somos assim. O artista, antes de ser artista, é uma pessoa e, dentro da nossa individualidade, somos o que somos”.
o que me vem na alma”.
O exemplo brasileiro
Nos estúdios, nos palcos ou na intimidade, a cantora angolana garante que não se adultera. “Sou enquanto artista o que sou como pessoa. Então, o que eu vou escrever vai ser fruto da minha criação, da minha família, das oportunidades que tive”, aponta, demarcando-se dos ouvidos e olhos que condenam outras formas de expressão musical.
“Quando falamos de kuduro, por exemplo, pensamos no contexto dos kuduristas? É um contexto do gueto, do subúrbio, de pobreza, de fome, e eles são fruto disso. Então, como é que vamos exigir que uma pessoa que venha daí se comporte como uma pessoa que vive dentro de um condomínio, com água, energia e todas as condições? Ouve quem quer ouvir”.
Fã assumida desse estilo, ao qual reconhece mestria, a cantora também retira dos artistas a responsabilidade de se moderarem na linguagem.
“Acho que é uma questão de escolha, porque, na verdade, as pessoas dizem palavrões. Apenas defendo que, em relação às crianças, nós, os pais, é que temos de estar atentos. Não podemos condenar os artistas que têm letras com asneiras, e depois, pormos a tocar essas músicas quando damos uma festa, que também tem crianças. Depois, quando elas estiverem a cantar, é culpa é do kudurista? Não é”.
Acima das diferenças, que vê como uma riqueza, Anna Joyce defende a necessidade de se valorizar a produção cultural.
“Os governos PALOP [Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa] não olham para a música como uma força, como algo que possa trazer retorno aos próprios países”, observa a cantora, lembrando que foi a exportação da cultura que tornou o Brasil mundialmente conhecido.
“Onde é que estaríamos hoje se tivéssemos valorizado, apostado e investido na nossa cultura, como por exemplo o Brasil fez, com o Carnaval, samba, pagode, sertanejo, caipirinhas? Era bom que se fizesse isso nos nossos países, porque não é tarde”.
A esse propósito, acrescenta a angolana, convém não esquecer que muitas das maiores referências brasileiras vêm de África, como por exemplo a capoeira.
Potenciar o mercado PALOP
Ainda a pensar no que falta fazer, embora sublinhe que não tem razões de queixa, “porque a música angolana circula pela comunidade PALOP inteira”, Anna Joyce reconhece que o inverso não acontece.
“Chega pouca música moçambicana a Angola, pouca música de São Tomé e Príncipe e da Guiné, e um bocadinho mais de Cabo Verde, porque durante muitos anos foi um músculo no nosso mercado. Agora, acho que tem de haver trabalho de divulgação e investimento, porque há muito boa música a ser feita”.
Presença habitual em Moçambique – “vou pelo menos 10 vezes por ano” –, a cantora partilha também uma reclamação que ouve recorrentemente. “Um artista angolano chega, ganha um cachê infinitamente maior e tem condições melhores do que os músicos moçambicanos”.
O que fazer, então, para equilibrar os pratos da balança?
“Falta apoio aos artistas, e criação de mais oportunidades”, defende, certa de que, contra ventos e marés, a música permanecerá central nas nossas vidas.
“Nós somos música. Ela faz parte do nosso ADN, e não precisamos de um curso de arte e cultura ou de Belas Artes para a entendermos. Cantamos quando estamos tristes, e também quando estamos felizes. É a forma de arte mais acessível e, desde bebés, a nossa mãe canta musiquinhas para adormecermos”.
Na sua própria história, revela Anna, a música é também “terapia, cura, e um lugar bom”, que começou a ocupar ainda criança.
Talento precoce, inspiração familiar
“Comecei a compor aos 10 anos, com o sonho de ser cantora. Queria ser a Xuxa ou o que fosse”, recorda, de volta aos planos infantis.
“Na altura, havia um programa na SIC, que era o Buereré. Então, eu escrevi o meu repertório para ter as minhas músicas prontas quando lá fosse. Mas nunca fui”.
O engenho para compor, precocemente exercitado, estendeu-se também à escrita de refrões de rap para amigos, já na adolescência substituídos por letras “mais maduras”.
“Uma das minhas músicas de maior sucesso, que tem o título ‘Final’, foi feita quando eu tinha 18 anos”, conta Anna que, cerca de uma década depois, resgatou-a de velhas anotações.
Antes como agora, a voz feminina de “Ondas do Mar” assenta a sensibilidade e identidade musical num sólido património de referências familiares. “Sou de uma casa onde se ouvia música todos os dias e, no fundo, tudo o que fui ouvindo foi-me moldando”.
Do fado aos ritmos latinos e brasileiros, passando pela Pop, o Reggae, a Kizomba e o Zouk, Anna Joyce revê nas suas criações “o resultado dessa mistura toda”, profundamente sintonizada na sua maior inspiração: Mariah Carey.
“Ela é uma artista-compositora e, como eu sempre tive essa veia de composição, acabei por me inspirar muito nela para cantar e fazer músicas com qualidade. Por isso é que sou muito exigente com o meu conteúdo”.
Em contagem decrescente para o novo ano, e o próximo concerto em Portugal, a cantora angolana faz questão de renovar, a cada criação, a sua força artística: : “Faço aquilo que me vem na alma”.
“Racismo: uma descolonização em curso”
Ao saber da existência do “Prémio Mário Soares, Liberdade e Democracia” que, a partir de 2025, será atribuído anualmente pela Assembleia da República, não resisti a concorrer. Desde logo porque considero que o meu trabalho contribui, ao encontro do que a distinção se propõe reconhecer, “para a formação da opinião pública, em total liberdade e diversidade de opiniões, no respeito dos valores democráticos, contribuindo dessa forma para o robustecimento da democracia em Portugal e no mundo”. Não é um trabalho isolado, é uma prática, e, por isso mesmo, fui a jogo na opção “relato de actividades”, desconfiada de que talvez seja uma via reservada a organizações não governamentais. Em todo o caso, avancei, e no final da semana passada, fiquei a saber que a jornalista Sofia Craveiro foi a vencedora, com a série de artigos “Arquivos de Media — Memória Sem Garantia de Preservação”, que vale a pena ler, enquanto a historiadora Ângela Coutinho recebeu uma menção honrosa pelo seu “Dossier África”, que vale a pena ouvir. Ficou, assim, demonstrado que, para o júri, o dever de memória merece atenção e premiação, tal como a promoção da participação cívica, distinguida numa segunda menção honrosa, atribuída à associação MyPolis. Espero, por isso, que nas futuras edições do Prémio se compreenda o quanto uma memória colectiva selectiva, como o é a portuguesa, tem fracturado a nossa democracia. Até lá, parabéns, à Sofia pela merecida distinção, e também à Ângela e à MyPolis. Para minha memória, partilho convosco a sinopse que submeti para enquadrar a minha candidatura, composta por um livro (Força Africana), vários textos publicados no Afrolink, um artigo integrado numa publicação académica, e outro numa edição alusiva aos 50 anos do 25 de Abril. Gravei o texto como: “Racismo: uma descolonização em curso”.
Ao saber da existência do “Prémio Mário Soares, Liberdade e Democracia” que, a partir deste 2025, será atribuído anualmente pela Assembleia da República, não resisti a concorrer. Desde logo porque considero que o meu trabalho contribui, ao encontro do que a distinção se propõe reconhecer, “para a formação da opinião pública, em total liberdade e diversidade de opiniões, no respeito dos valores democráticos, contribuindo dessa forma para o robustecimento da democracia em Portugal e no mundo”. Não é um trabalho isolado, é uma prática, e, por isso mesmo, fui a jogo na opção “relato de actividades”, desconfiada de que talvez seja uma via reservada a organizações não governamentais. Em todo o caso, avancei, e no final da semana passada, fiquei a saber que a jornalista Sofia Craveiro foi a vencedora, com a série de artigos “Arquivos de Media — Memória Sem Garantia de Preservação”, que vale a pena ler, enquanto a historiadora Ângela Coutinho recebeu uma menção honrosa pelo seu “Dossier África”, que vale a pena ouvir. Ficou, assim, demonstrado que, para o júri, o dever de memória merece atenção e premiação, tal como a promoção da participação cívica, distinguida numa segunda menção honrosa, atribuída à associação MyPolis. Espero, por isso, que nas futuras edições do Prémio se compreenda o quanto uma memória colectiva selectiva, como o é a portuguesa, tem fracturado a nossa democracia. Até lá, parabéns, à Sofia pela merecida distinção, e também à Ângela e à MyPolis. Para minha memória, partilho convosco a sinopse que submeti para enquadrar a minha candidatura, composta por um livro (Força Africana), vários textos publicados no Afrolink, um artigo integrado numa publicação académica, e outro numa edição alusiva aos 50 anos do 25 de Abril. Gravei o texto como: “Racismo: uma descolonização em curso”.
Imprimo a esta sinopse o título do recém-estreado documentário da jornalista Joana Gorjão Henriques, co-realizado por Mariana Godet.
“Racismo: uma descolonização em curso” dá continuidade audiovisual a uma série de reportagens escritas para o diário Público, transformado, por força do trabalho incansável da Joana, num oásis mediático no deserto nacional de literacia e memória racial.
Como ex-titular da carteira profissional de jornalista, filha de moçambicanos, neta de sino e luso-moçambicanos, bisneta de chineses e portugueses, conheço bem esse deserto porque o sinto na pele.
Apesar de viver em Portugal desde os meus dois-quase-três anos, e embora tenha adquirido a nacionalidade dos meus bisavós paternos, originários de Almacave, nunca me senti portuguesa.
Não por desejo de autoexclusão ou incapacidade cultural de integração – narrativas que têm acentuado os discursos anti-imigração –, mas porque todos os espaços que frequentei e frequento me devolvem despertença.
Ser uma pessoa negra em Portugal era e continua a ser sinónimo de imparidade humana.
Poupo-vos aos tomos de agressões racistas que pesam sobre a minha história, e salto logo para o chão a que me agarrei: o conhecimento.
Percebi cedo que ser boa aluna me tornava uma “negra melhor” – menos desigual do que os outros negros, mas ainda assim nunca igual. Mais tarde, já licenciada e inserida no mercado de trabalho, percebi que nem mesmo sendo a melhor profissional da equipa teria hipóteses de progressão. Escrevi sobre isso aqui, não por um qualquer surto de vitimismo, mas por dever cívico e compromisso democrático.
Se hoje me dedico à criação e promoção de narrativas e protagonismos negros, sobretudo através da literatura infanto-juvenil e da produção de conteúdos de matriz jornalística, é por reconhecer o poder da Educação e da Informação para transformar o mundo.
Quando escrevo, palestro e capacito grupos sobre racismo, não o faço para dividir, agredir ou transgredir. Faço-o em defesa da nossa Humanidade, historicamente constrangida por fronteiras raciais.
Cinquenta e um anos depois da Revolução que ditou o fim do regime colonial português, o que reconhecemos desse passado? Quantas vozes foram e continuam a ser silenciadas? Quem tem medo de confrontar o racismo?
Temos de falar! Todos, todos, todos. E eu assumo, a cada projecto que crio, a minha voz. Com a Força Africana proponho-me, conforme assinado no prefácio desta aventura, construir “personagens com os quais as crianças negras se podem identificar – favorecendo a sua auto-estima e sentimento de integração”. Ao mesmo tempo, esta é uma história que permite “que todas as crianças incluam no imaginário heróis e heroínas étnica e racialmente diferentes, desencorajando atitudes de superioridade de uns sobre os outros”.
A humanização e afirmação positiva da presença negra no mundo, marca da Força Africana, estende-se aos conteúdos publicados pela rede Afrolink, promotora da diversidade, equidade e inclusão na sociedade portuguesa. Com o mesmo propósito, nasceu O Tal Podcast, concretizado como um “espaço de ligações humanas”, enraizado na convicção de que “sejam quais forem as nossas diferenças, ao partilharmos vivências aproximamo-nos”.
Sei que ainda estamos longe, mas também sei que não nos falta caminho para fazer juntos. Aproximemo-nos!
Voando com o inimigo: quem vê o 25 de Abril, a luta contra o fascismo e José Afonso como um ataque?
“Em política não há inimigos, mas sim adversários”. Com algumas adaptações, em diferentes geografias, épocas e línguas, a frase tem sido utilizada para expressar a urbanidade que deve reger o jogo democrático, demarcando-o do terreno de guerra. De um lado há diálogo, debate e construção, dentro de regras que todos aceitam respeitar; do outro impera a violência, a destruição humana e o culto da morte. Esta política de agressão está a impor-se em Portugal, a partir da normalização do Chega que, diariamente, a cada intervenção, declara guerra à Democracia, criminaliza grupos de pessoas, e empurra o país para um abismo fascista. Na última terça-feira, 9, num voo da TAP com partida em Lisboa e em direcção a Bruxelas, uma comitiva desse partido disparou insultos racistas e xenófobos contra pessoas negras que seguiam nessa viagem. Avessos ao cumprimento das mais elementares regras de vida em sociedade, deputados e assessores da extrema-direita parlamentar, liderados por Pedro Pinto – para quem a Polícia em Portugal deve matar mais –, passaram o voo a incomodar-me a mim e a outros passageiros, num coro de grunhidos que escalou no momento da aterragem em Bruxelas. Tudo porque, em protesto, projectei comigo a força das ruas, num sonoro “25 de Abril Sempre, fascismo nunca mais”, e acompanhei o momento com a reprodução do “Grândola, Vila Morena”. Em momento algum me dirigi aos agressores em série que, automaticamente, concertaram urros racistas para me silenciar. Miguel Cardoso, que seguia comigo num grupo que viajou a convite da Representação Portuguesa da Comissão Europeia, entoava a composição de José Afonso, quando Pedro Pinto, igual a si próprio, lhe dirigiu insultos racistas, encerrados com a “ordem”, verbalizada e gesticulada, para se calar. Os confrontos envolveram intervenção policial e, sem surpresa, o Chega fabricou a sua ficção dos acontecimentos, a partir de um vídeo cirurgicamente editado para se arrogar de vítima. Nós não temos um vídeo, mas pergunto-me: quem, para além da Justiça portuguesa, precisa de mais provas para concluir que estamos diante de militantes do ódio, e inimigos da Democracia?
“Em política não há inimigos, mas sim adversários”. Com algumas adaptações, em diferentes geografias, épocas e línguas, a frase tem sido utilizada para expressar a urbanidade que deve reger o jogo democrático, demarcando-o do terreno de guerra. De um lado há diálogo, debate e construção, dentro de regras que todos aceitam respeitar; do outro impera a violência, a destruição humana e o culto da morte. Esta política de agressão está a impor-se em Portugal, a partir da normalização do Chega que, diariamente, a cada intervenção, declara guerra à Democracia, criminaliza grupos de pessoas, e empurra o país para um abismo fascista. Na última terça-feira, 9, num voo da TAP com partida em Lisboa e em direcção a Bruxelas, uma comitiva desse partido disparou insultos racistas e xenófobos contra pessoas negras que seguiam nessa viagem. Avessos ao cumprimento das mais elementares regras de vida em sociedade, deputados e assessores da extrema-direita parlamentar, liderados por Pedro Pinto – para quem a Polícia em Portugal deve matar mais –, passaram o voo a incomodar-me a mim e a outros passageiros, num coro de grunhidos que escalou no momento da aterragem em Bruxelas. Tudo porque, em protesto, projectei comigo a força das ruas, num sonoro “25 de Abril Sempre, fascismo nunca mais”, e acompanhei o momento com a reprodução do “Grândola, Vila Morena”. Em momento algum me dirigi aos agressores em série que, automaticamente, concertaram urros racistas para me silenciar. Miguel Cardoso, que seguia comigo num grupo que viajou a convite da Representação Portuguesa da Comissão Europeia, entoava a composição de José Afonso quando Pedro Pinto, igual a si próprio, lhe dirigiu insultos racistas, encerrados com a “ordem”, verbalizada e gesticulada, para se calar. Os confrontos envolveram intervenção policial e, sem surpresa, o Chega fabricou a sua ficção dos acontecimentos, a partir de um vídeo cirurgicamente editado para se arrogar de vítima. Nós não temos um vídeo, mas pergunto-me: quem, para além da Justiça portuguesa, precisa de mais provas para concluir que estamos diante de militantes do ódio, e inimigos da Democracia?
Trocam esgares de impaciência, entrecortados com sons de desdém, perante a entrada de um passageiro com mobilidade condicionada. Soltam impropérios racistas, como “até parece que já chegamos a África”, e declaram, orgulhosamente, o ódio que os move: “Os portugueses escolheram-nos. Acabou a mama da esquerdalha”.
Pelo caminho, entre idas e vindas à casa de banho, também se entretêm a bloquear o corredor – qual gangue que impõe um infantil ritual de passagem –, e não se coíbem mesmo de ensaiar vocalizações de símios.
Estão sentados atrás de mim, no voo TAP 640 que, na passada terça-feira, 9, saiu de Lisboa em direcção a Bruxelas, e fazem questão de dar nas vistas, gerar ruído e provocar, a exemplo do que fazem na Assembleia da República, nas televisões e ruas do país.
À cabeça têm o seu líder parlamentar, Pedro Pinto, o mesmo que incitou à violência policial ao defender, na ressaca do homicídio de Odair Moniz – às mãos de um agente da PSP –, que se os polícias “disparassem mais a matar, o país estava mais na ordem”.
Foi diante desse estado de perturbação – que, segundo relatos de outros passageiros, começou na porta de embarque, com exigências de prioridade indevidas – que, no momento da aterragem em Bruxelas, projectei comigo a força das ruas, num sonoro “25 de Abril Sempre, fascismo nunca mais”, e acompanhei o momento com a reprodução, no telemóvel, do “Grândola, Vila Morena”.
Seguiu-se um coro de grunhidos, que escalou no confronto com Miguel Cardoso, que seguia comigo num grupo que viajou a convite da Representação Portuguesa da Comissão Europeia.
Abro aqui um parêntesis para lembrar que não é a primeira vez que Miguel, director executivo da Black Europeans e coordenador nacional desta organização, enfrenta ataques racistas do Chega.
Em Setembro, André Ventura usou as redes sociais para acusar a Black Europeans de organizar um encontro com “o dinheiro dos contribuintes”, que estaria a ser desviado de gastos na saúde, justiça, habitação e pensões. “É nestas porcarias que andamos a esbanjar recursos públicos”, publicou Ventura, pronta e cabalmente desmentido.
Meses depois, Miguel Cardoso volta a estar no centro dos ataques do Chega, desta vez por ter entoado o “Grândola, Vila Morena” diante de uma comitiva do partido, e por ter ousado desacatar a ‘ordem’ verbalizada e gesticulada por Pedro Pinto para se calar.
Os confrontos envolveram intervenção policial e, sem surpresa, a extrema-direita parlamentar fabricou a sua ficção dos acontecimentos, a partir de um vídeo cirurgicamente editado para se arrogar de vítima.
Nós não temos um vídeo, porque estávamos na linha de fogo, mas pergunto-me: quem, para além da Justiça portuguesa, precisa de mais provas para concluir que estamos diante de militantes do ódio, e inimigos da Democracia?
Enquanto revisito as turbulências do voo, assinalo que o comandante se limitou a cumprir o protocolo designado para estas situações – não se trata de tomar partido –, e acrescento uma nota de esperança: a queixa apresentada às autoridades belgas parece ter caminho para avançar, num ordenamento jurídico que, ao que tudo indica, leva a sério a gravação e publicação indevida da imagem de terceiros.
Por cá, a horda de ameaças racistas disparadas online contra o Miguel persiste, e todas estão a ser devidamente investigadas.
Aconteça o que acontecer, salta à evidência o repúdio que a exaltação do 25 de Abril, da luta anti-facista, e da composição de José Afonso provocam à extrema-direita parlamentar. E isso, por mais votos que se conte, não tem nada de democrático.
“Malês”: a maior revolta de pessoas escravizadas no Brasil, contada por Antonio Pitanga
Aos 86 anos, o multipremiado actor e realizador brasileiro Antonio Pitanga apresenta-nos o filme da sua vida: “Malês”. A produção, que levou quase três décadas até chegar ao grande ecrã, transporta-nos para a Bahia de 1835, ano marcado pelo Levante dos Malês. O acontecimento é apontado como a maior rebelião de pessoas escravizadas no Brasil, e povoa o imaginário de Pitanga desde a infância, quando “o desejo de contar histórias ainda por conhecer” começou a ganhar forma. A busca por saber encaminhou-lhe os passos para o antigo Alto Volta, hoje Burkina Faso, onde, em 1964, procurou ir à raiz dos seus questionamentos: “De onde eu vim?”. As memórias da incursão africana, bem como dos ímpetos de criança, foram partilhadas pelo autor, no final de Novembro, em Berlim, após a exibição de “Malês”, longa exibida na sessão de abertura do Cine Brasil. Ainda sem data de apresentação em Portugal, o filme já marcou presença em países africanos, e suscita o interesse de universidades americanas, empenhadas em conhecer esse importante capítulo da resistência negra. Seja onde for, Pitanga defende a importância de “contar uma história dessas, e ter a alegria de a levar para as favelas, os quilombos, e África”. O Afrolink espera que a viagem de “Malês”, com destino a um maior conhecimento sobre a Escravatura, chegue às salas portuguesas. Até lá, deixamos-vos com um encontro pleno de lições e de inspiração.
Aos 86 anos, o multipremiado actor e realizador brasileiro Antonio Pitanga apresenta-nos o filme da sua vida: “Malês”. A produção, que levou quase três décadas até chegar ao grande ecrã, transporta-nos para a Bahia de 1835, ano marcado pelo Levante dos Malês. O acontecimento é apontado como a maior rebelião de pessoas escravizadas no Brasil, e povoa o imaginário de Pitanga desde a infância, quando “o desejo de contar histórias ainda por conhecer” começou a ganhar forma. A busca por saber encaminhou-lhe os passos para o antigo Alto Volta, hoje Burkina Faso, onde, em 1964, procurou ir à raiz dos seus questionamentos: “De onde eu vim?”. As memórias da incursão africana, bem como dos ímpetos de criança, foram partilhadas pelo autor, no final de Novembro, em Berlim, após a exibição de “Malês”, longa exibida na sessão de abertura do Cine Brasil. Ainda sem data de apresentação em Portugal, o filme já marcou presença em países africanos, e suscita o interesse de universidades americanas, empenhadas em conhecer esse importante capítulo da resistência negra. Seja onde for, Pitanga defende a importância de “contar uma história dessas, e ter a alegria de a levar para as favelas, os quilombos, e África”. O Afrolink espera que a viagem de “Malês”, com destino a um maior conhecimento sobre a Escravatura, chegue às salas portuguesas. Até lá, deixamos-vos com um encontro pleno de lições e de inspiração.
Foram precisos 29 anos de persistência criativa, mais de oito décadas de experiência e consciência de vida, e séculos de resistência negra para contar esta História. Nela encontramos a Bahia de 1835, e um dos acontecimentos que, desde a infância, habita o imaginário de Antonio Pitanga: o Levante dos Malês, reconhecido como a maior rebelião de pessoas escravizadas no Brasil.
“Criança ouve tudo. Sabe de coisa que até Deus duvida, né? Os mais velhos vão falando e a gente vai escutando, formando uma narrativa”, aponta o actor e realizador, revisitando os primeiros anos de uma existência colectivamente predestinada, porque “ninguém nasce no Pelourinho por acaso”.
Filho de Maria Natividade, “neta de escravo que com 12 anos já era empregada doméstica”, Pitanga recorda como o seu bairro-berço, situado em Salvador, bem no coração da Bahia, “é uma referência de tragédia”.
As memórias, fixadas nos horrores da Escravatura, recuam aos tempos em que “os senhores levavam os ‘seus negros’ para assistir outros negras e negros serem chicoteados”, dissuadindo-os de incorrer nas mesmas ‘tentações’.
Os capítulos do passado, aqui descritos pelo realizador, desfiam-se em Berlim, depois da exibição no grande ecrã do Cine Brasil, de “Malês” – o filme da vida de Antonio Pitanga, baseado na obra do historiador João José Reis.
Aos 86 anos, e com seis décadas de carreira, construída no teatro, na televisão e no cinema, o baiano cumpre, com a nova produção, “o desejo de contar histórias ainda por conhecer”.
A busca por mais saberes encaminhou-lhe os passos para o antigo Alto Volta, hoje Burkina Faso, onde, em 1964, procurou ir à raiz dos seus questionamentos: “De onde eu vim?”.
Da incursão africana – cumprida numa rota alargada, com passagens por Benim, Togo, Nigéria e Senegal –, aos ímpetos da infância, Pitanga faz questão de sublinhar que transporta nas vivências múltiplas influências ancestrais.
“Ninguém nasce de um acidente”, observa, evocando todo o movimento negro que o – e nos – antecede, e que tem a sua génese na oralidade, “tatuando alma, pele e corpo”.
Não estranha, por isso, que, em contraciclo àquilo que alguns colegas conjecturavam – de que o Brasil poderia estar a falar holandês, espanhol ou inglês, se outras ocupações coloniais, que não a portuguesa, tivessem vingado –, o cineasta sempre tenha defendido outra hipótese. “Eu dizia: não, o que eu queria era falar árabe, como os negros Malês, sequestrados da Mãe África e escravizados no Brasil”.
Protagonismo feminino e humanização
O fascínio de Pitanga por essa presença negra, africana e muçulmana estendia-se à Educação que acumulavam. “Eles eram letrados, tinham conhecimento da Física, da Engenharia, e isso, na minha cabeça de jovem brilhava”.
Consciente de que aquilo que não está nos anais diz tanto ou mais do que tudo o que está, o autor de “Malês” assume a responsabilidade de preencher vazios históricos a partir da sua obra.
“Tenho a bagagem do século passado, mas sou o homem de hoje, meu tempo é agora, meu futuro é no presente”, nota, explicando que construiu o filme atento às possibilidades de novos encontros.
“Para dialogar com vocês, com meus netos, meus bisnetos, com o ensino fundamental, a Universidade Pública, com os quilombos e os povos, eu tenho que interagir no olhar do século XXI, em pleno 2025. Então, quando você se depara com uma história como essa, o que faz?”.
Pitanga optou por reconhecer a presença feminina, humanizando-a.
“As mulheres não estão nos anais. Não tinham nem direito de fala. É sempre o marido, o homem. Então, eu disse: não, vamos trazer a mulher, e dividir o protagonismo”.
O resultado comprova-se em “Malês”, uma “história real”, que nos permite conhecer “as cabeças que fizeram o Levante”, nomeadamente o Pacífico Licutan, interpretado pelo próprio Pitanga.
Ao mesmo tempo, o filme oferece-nos a oportunidade de homenagear todas aquelas que tornaram possível a resistência, o combate e os caminhos da libertação negra, indissociáveis da reivindicação do direito de Amar.
Não é por acaso que as primeiras cenas de “Malês” nos transportam para um casamento, violentamente interrompido por acção do sistema escravocrata, da mesma forma que a existência de um parto na trama está longe de ser acidental.
Sem nunca se desligar de uma direcção humanizadora, o filme desconstrói igualmente a vilania de Sabina, personagem interpretada por Camila Pitanga.
Ainda que os registos históricos a apontem como a denunciante dos planos da revolta, sabotados a partir da sua interferência, o realizador retirou-lhe o rótulo de traidora.
“Criei, com o meu irmão cubano, Antonio Molina [também cineasta], um diálogo com Iyá Nassô, para se entender que o gesto dela era de Amor. E por Amor se faz qualquer coisa”. Até mesmo denunciar o próprio marido, com a ilusão de que seria poupado no embate com os agentes do sistema escravocrata.
“Eles estão preparados para a nossa força, não para a nossa inteligência”
A par da homenagem ao contributo das mulheres negras para a História da nossa libertação, “Malês” distingue-se também por exibir outra face pouco visibilizada do papel feminino nesse passado: mais do que ‘meras’ cúmplices dos crimes da Escravatura, as mulheres brancas orquestraram-nos tão ou mais cruelmente do que os homens.
Quão longe estamos de conhecer e reconhecer essa realidade? E de perceber que, sem esse encontro com o passado, as relações raciais vão continuar minadas de desconfiança?
Enquanto viaja por países africanos e suscita o interesse de universidades americanas, nomeadamente Princeton, Pensilvânia e Harvard, “Malês” permanece sem data de apresentação em Portugal.
“Quando levei o filme agora, em Burkina Faso, o pessoal lá chorou. Eles diziam: Gratidão, Pitanga, gratidão!”, partilha o realizador, assinalando igualmente o entusiamo da academia americana em discutir o levante baiano.
“Eles sabem tudo do Haiti [da Revolução], mas perguntam: que negros são esses, letrados, do Brasil, que fizeram tudo para se organizar?”.
A resposta prende-nos ao grande ecrã, onde “Malês” projecta o poder da mobilização e unidade negra. “Nunca fomos tantos. Uma hora vamos ser todos”, ouvimos numa das cenas, enquanto noutra se apresenta aquele que talvez seja o “perigo” que desde sempre mobiliza o opressor branco contra os povos negros. “Eles estão preparados para a nossa força, não estão preparados para a nossa inteligência”.
Seja como e com quantos for, Pitanga defende a importância de “contar uma história dessas, e ter a alegria de a levar para as favelas, os quilombos, e África”.
O Afrolink espera que a viagem de “Malês”, com destino a um maior conhecimento sobre a Escravatura, chegue às salas de cinema lusas, e que, a partir delas, encontremos renovada e reforçada inspiração para continuar a luta, à letra do que nos lega a obra de Antonio Pitanga: “Parados não podemos ficar (...) / Temos que levantar. Todos juntos”.
Neste movimento, prosseguindo com a força argumentativa do filme, que nunca percamos de vista o compromisso colectivo, por mais especificidades individuais que a nossa mobilização agregue. “Se o mundo quer fazer o meu filho de escravo, eu quero é mudar o mundo”. Avancemos!
Vânia e Malika convidam-nos a ir à raiz de quem somos, para desenterrar emoções e plantar comunidade
Entre aprendizagens online, num caminho de autoconhecimento feminino e africano, a poetisa, performer e activista Vânia Andrade encontrou sustentação nos ensinamentos da farmacêutica holística Malika Rodrigues. Primeiro como seguidora dos conteúdos partilhados por Malika nas redes sociais – sob a assinatura Malika Soul –, e depois enquanto sua mentoranda, “Puma”, como também é conhecida, quis fazer dos novos saberes um espaço de ligação a outras mulheres. Nasceu assim o “Raiz Sagradu”, construído como um “círculo de mulheres africanas, onde o descanso é honrado, a consciência sábia do útero sagrado é despertada, e o amor-próprio é cultivado”. Cerca de um ano depois da estreia em Lisboa, a proposta regressa no próximo dia 29 de Novembro, em Caxias. Desta vez em formato de retiro diurno, com seis horas de duração – das 12h às 18h –, o “lugar de partilha” promete promover a reconexão a “uma tradição ancestral feminina”. As inscrições estão abertas, e o Afrolink dá-lhe a conhecer o essencial deste encontro, em conversa com as suas criadoras.
Entre aprendizagens online, num caminho de autoconhecimento feminino e africano, a poetisa, performer e activista Vânia Andrade encontrou sustentação nos ensinamentos da farmacêutica holística Malika Rodrigues. Primeiro como seguidora dos conteúdos partilhados por Malika nas redes sociais – sob a assinatura Malika Soul –, e depois enquanto sua mentoranda, “Puma”, como também é conhecida, quis fazer dos novos saberes um espaço de ligação a outras mulheres. Nasceu assim o “Raiz Sagradu”, construído como um “círculo de mulheres africanas, onde o descanso é honrado, a consciência sábia do útero sagrado é despertada, e o amor-próprio é cultivado”. Cerca de um ano depois da estreia em Lisboa, a proposta regressa no próximo dia 29 de Novembro, em Caxias. Desta vez em formato de retiro diurno, com seis horas de duração – das 12h às 18h –, o “lugar de partilha” promete promover a reconexão a “uma tradição ancestral feminina”. As inscrições estão abertas, e o Afrolink dá-lhe a conhecer o essencial deste encontro, a partir de uma conversa com as suas criadoras.
Alayo Akinkugbe, fotografada por Cameron Ugbodu
Com quantos gestos se constrói um movimento de regeneração colectiva? Que práticas e ensinamentos abandonámos, desenraizando-nos? Como honrar na actualidade a nossa ancestralidade? Onde podemos encontrar as peças que sentimos faltar ao puzzle da nossa existência?
Por mais individuais que sejam os nossos questionamentos, enfrentamentos e desligamentos humanos, há, na matriz africana, um manancial de respostas que só a comunidade consegue oferecer.
“Temos vindo a depositar muitas vezes numa só pessoa aquilo que antigamente era tribal”, observa a farmacêutica holística Malika Rodrigues, que encontrou no mundo digital, sob a identidade “Malika Soul”, uma via de divulgação e expansão de práticas ancestrais africanas, centradas no feminino.
"Não é para minimizar o homem, mas nós somos a fonte da vida. Escolhi especializar-me no cuidado das mulheres porque sou mulher, e porque estudei o corpo da mulher”.
Da alimentação às emoções, numa intersecção de alma, corpo e mente, os conteúdos de Malika cruzaram-se com os interesses de Vânia Andrade há cerca de cinco anos, entre confinamentos da pandemia.
“Ela falava de algumas coisas de que já tinha alguma informação, porque ouvia pessoas do Brasil, mas em Portugal ainda não eram assunto”.
A identificação com as mensagens, desde logo com a comunicação em língua cabo-verdiana, levou a poetisa, performer e activista a inscrever-se, em 2023 num programa de mentoria de quatro meses, encerrado com um desafio, lançado pela farmacêutica holística.
“Eu proponho sempre às mulheres que acompanho que dêem algum contributo para a nossa comunidade, seja através de um projeto, um desafio, ou uma criação”, explica Malika, partilhando as sementes que fizeram germinar o “Raiz Sagradu”, em co-criação com Vânia.
Apresentado como “um círculo de mulheres africanas onde o descanso é honrado, a consciência sábia do teu útero sagrado é despertada, e o amor-próprio é cultivado”, este é, antes de mais, um resgaste de tecnologias milenares.
“Antes recorríamos às mais velhas, às irmãs, às tias, em busca de soluções. Isso acontecia sem julgamento”, nota Malika, que com o “Raiz Sagradu” presta reverência ao passado, e promove a “devolução à prática de estarmos em grupo”.
Nutrir corpo e alma
A proposta, inaugurada no ano passado na Área Metropolitana de Lisboa, já depois de um encontro no Luxemburgo, regressa no próximo dia 29 de Novembro aos arredores da capital portuguesa, em formato de retiro diurno, e com seis horas de duração – das 12h às 18h.
“Sentimos que aquelas horas com que iniciámos não foram suficientes. As pessoas querem mais, precisam de mais, e nós também precisamos de mais tempo, para darmos mais e melhor”, aponta Malika.
A entrega, complementa Vânia, começa com um convite ao reconhecimento.
“Queremos que as mulheres se olhem ao espelho e realmente se vejam, que parem com aquela síndrome do pensamento sempre activo, em que estão sempre preocupadas”.
Para facilitar esse processo, o encontro assume-se como “baby friendly”, permitindo que as mães possam levar as suas crianças.
Além de um espaço para cuidar dos mais novos, o “Raiz Sagradu” oferece um novo olhar para as heranças do continente-berço da Humanidade.
“Quando falamos em rituais terapêuticos africanos, falamos do que, de certa forma, nos foi tomado. São cerimónias e práticas que muitas vezes esquecemos que são nossas. Então, trazemos esse relembrar”, assinala Malika, desfiando alguns elementos. “O yoga vem daí, o movimento, a respiração, a meditação e os tambores também”.
A farmacêutica junta ainda a água e a nutrição a essa rememorialização. “Fazer o resgate da nossa alimentação é uma consciência que trago muito às nossas mulheres, porque nós somos natureza. Então, só a natureza nos pode curar, tratar e maximizar”.
Com este entendimento, o retiro vai incluir um catering completamente vegano, a que se junta uma mesa de frutas, para acompanhar com uma selecção de chás.
A par das escolhas naturais para nutrir o corpo, que Malika promove igualmente com o seu projecto Alma Food, o “Raiz Sagradu” convida-nos a desenterrar emoções.
“Há questões comuns ao facto de sermos mulheres africanas, como virmos de famílias em que só há uma mãe, ou a forma pouco emocional de nos relacionarmos. Falamos pouco sobre isso”, observa Vânia, sublinhando a importância de o fazermos, num espaço seguro. “Ouvir que há outra mulher a vivenciar aquilo que nós estamos a viver, e perceber, finalmente, que não estamos sozinhas é único”.
Sem temas tabu, o “Raiz Sagradu” propõe-se restabelecer “a parte de estarmos juntos e navegarmos as complexidades da vida”, reitera Malika, sustentada na própria jornada.
“Sentia mesmo falta de ter práticas com que me identificasse, de ter pessoas com quem visse que poderia haver sinergia. Então, foi a partir dessa necessidade pessoal que me virei para a nossa comunidade e comecei a fazer a mentoria”.
Nesse caminho, e já depois de preencher os ‘buracos’ em que tropeçou, a farmacêutica encontrou a sua expressão holística.
“Há mais de 15 anos, quando a saúde mental nem era mencionada, já tinha feito terapia, e inclusive psicoterapia, mas não encontrava psicólogas negras. Senti que havia ali um gap em que, culturalmente, linguisticamente, e em termos de experiência, não me podia expressar. E não era culpa da psicoterapeuta. Era simplesmente algo que ela também não tinha para me oferecer”.
Perante essas sessões de impossibilidade, Malika abriu o seu próprio caminho de possibilidades. “Nesse processo, encontrei a minha mentora, que é a Queen Afua, uma mulher africana também, muito conhecida nos Estados Unidos pelo trabalho que faz há mais de 50 anos. Aí encontrei essa parte holística da componente espiritual da mulher negra”.
A metamorfose vivida pela farmacêutica, ganha, na história de Vânia, força identitária. “Tenho pensado muito no que significa ser africana, e sentido, cada vez mais, que é ser esta pessoa em que me estou a tornar: alguém que respeita os seus limites, que escolhe estar em lugares onde é acolhida, e pode fortificar a africanidade que às vezes se vai desligando, em locais que não nos permitem expressar a individualidade”.
Pelo contrário, o “Raiz Sagradu” promete uma “experiência única”, orientada “para acolher, nutrir e saudar” cada mulher, despertando a escuta da sua verdade mais profunda.
“Trazemos essa proposta de como, juntas, podemos fazer esse trabalho e caminhar com outro olhar para metabolizar de forma saudável a raiva, muito presente na mulher africana”, conclui Malika, apontando também para a necessidade de “metabolizar o nosso luto, as nossas perdas, metabolizar doenças que possamos ter”.
Tudo sem perder de vista a máxima que impera no sagrado feminino: a cura de uma é a cura de todas.
Odair Moniz: depois da faca invisível, entra em cena a sua "astúcia" fatal, agravada pela 'ameaça' do crioulo
Por esta altura, há exactamente um ano, o país reagia, em sobressalto, a uma onda de protestos nas periferias da Área Metropolitana de Lisboa, motivada pelo assassinato de Odair Moniz, às mãos de Bruno Pinto, agente da PSP. O crime, prontamente justificado por narrativas racistas, assentes na criminalização da vítima e na defesa da Polícia, evidenciou, mais uma vez, a política de impunidade que grassa nas forças de segurança. Aliás, não fossem os vídeos captados pelos moradores da Cova da Moura – onde Odair Moniz foi mortalmente baleado –, e talvez ainda estivéssemos a ouvir testemunhos sobre como a vítima empunhou uma faca contra o agente, forçando-o a disparar em legítima defesa. Não uma, mas duas vezes, sublinhe-se, não fosse Odair feito à prova de bala. Assassinado a 21 de Outubro de 2024, Dá, como era carinhosamente tratado, deixou viúva, dois filhos, e uma comunidade enlutada. Todos pedem Justiça. Todos pedimos Justiça, e ela passa pelo Tribunal de Sintra, onde o homicídio começou a ser julgado, na última quarta-feira, 22 de Outubro. Amanhã, 29, há mais.
Por esta altura, há exactamente um ano, o país reagia, em sobressalto, a uma onda de protestos nas periferias da Área Metropolitana de Lisboa, motivada pelo assassinato de Odair Moniz, às mãos de Bruno Pinto, agente da PSP. O crime, prontamente justificado por narrativas racistas, assentes na criminalização da vítima e na defesa da Polícia, evidenciou, mais uma vez, a política de impunidade que grassa nas forças de segurança. Aliás, não fossem os vídeos captados pelos moradores da Cova da Moura – onde Odair Moniz foi mortalmente baleado –, e talvez ainda estivéssemos a ouvir testemunhos sobre como a vítima empunhou uma faca contra o agente, forçando-o a disparar em legítima defesa. Não uma, mas duas vezes, sublinhe-se, não fosse Odair feito à prova de bala. Assassinado a 21 de Outubro de 2024, Dá, como era carinhosamente tratado, deixou viúva, dois filhos, e uma comunidade enlutada. Todos pedem Justiça. Todos pedimos Justiça, e ela passa pelo Tribunal de Sintra, onde o homicídio começou a ser julgado, na última quarta-feira, 22 de Outubro. Amanhã, 29, há mais.
Foto do movimento Vida Justa
Não há dúvidas sobre a identidade do homicida: Bruno Pinto, agente da PSP, atingiu Odair Moniz com dois tiros, na madrugada de 21 de Outubro de 2024.
Um ano depois, na última quarta-feira, 22, o polícia começou a ser julgado no Tribunal de Sintra, e, repetindo um já estafado argumento entre as forças de segurança, optou por fazer do ataque à vítima a sua defesa.
Além de insistir na descrição de Odair como uma pessoa "astuta", que ia oscilando entre a passividade e a agressividade, o arguido sugeriu que o cabo-verdiano teria algum domínio de artes marciais, habilidade que, na sua ficção dos acontecimentos, inviabilizou os esforços para o imobilizar sem recurso à arma de fogo. “Parecia que o bastão lhe fazia cócegas", declarou.
Como se não bastasse, o agente juntou ao retrato de indomabilidade de Odair elementos que parecem retirados de um mau filme de acção: o segundo disparo é explicado pela alegada ausência de efeitos do primeiro.
Qual "duro de parar", o cabo-verdiano não só terá permanecido em pé após o tiro inicial, como, relatou o polícia, parecia disposto a avançar sobre si.
Para completar o enredo do perigoso agressor, algures no testemunho, Bruno Pinto acusou Odair de proferir ameaças contra si e o seu colega, inclusivamente em crioulo cabo-verdiano, língua que assumiu desconhecer.
Num dia em que também se ouviu Ana Patrícia, viúva da vítima, Rui Machado, o outro agente envolvido nos trágicos acontecimentos, e uma moradora da Cova da Moura, ficou evidente que a tese da legítima defesa vai ser explorada desavergonhada e despudoradamente.
De tal forma que até a faca supostamente empunhada por Odair, porém invisível nos vídeos, reaparece nas convicções do arguido, entre inúmeras contradições.
O julgamento, marcado ainda pelas perguntas absolutórias do colectivo de juízes, continua amanhã, 29.
Até lá, o Afrolink partilha oito notas extraídas do primeiro dia, onde o acesso à sala de audiências se fez sob o filtro de uma lista de ‘personas non gratas’.
Nota 1: Proibido entrar! O mistério dos nomes banidos
Levo o protocolo bem estudado: chego já com o cartão de cidadão em mãos, escancaro a mala para a devida verificação, e, acto contínuo, atravesso o detector de metais. É então que me apercebo da novidade: em vez de se limitar a confirmar a minha identidade, a equipa de segurança do tribunal verifica se o meu nome está “na lista”. Estranho o procedimento, quero questionar, mas mantenho o foco: o acesso à sala de audiências onde vai ser julgado o homicídio de Odair Moniz. Aliviada por não ter sido barrada, guardo a pergunta para um melhor momento, que chega depois de almoço. Como quem entretém o tempo, pergunto: “Olhe, esta manhã, quando apresentei o meu cartão de cidadão, reparei que consultaram umas folhas, para verificar se o meu nome estava incluído. Porquê?”. A resposta adensa a minha inquietação: “Se estivesse nessa lista, não a poderíamos deixar entrar”, explicaram-me. Cada vez mais intrigada, perguntei: o que as pessoas listadas fizeram para ser banidas? Fiquei sem resposta.
Nota 2: Conhecem o caso Elson Sanches (Kuku)?
Quinze anos separam os assassinatos de Elson Sanches (2009) e Odair Moniz (2024), ambos no município da Amadora e na sequência de perseguições policiais, encerradas com disparos fatais. Nas duas situações, envolvendo agentes da PSP, as vítimas surgem conveniente e presumidamente armadas: vale tudo para justificar o recurso à lei da bala. No caso de Elson, também conhecido por Kuku, o agente relatou ter visto um objecto metálico brilhante, e ouvido um som semelhante ao manuseio de uma arma, antes de baleá-lo à queima-roupa. O tribunal não conseguiu provar a alegação – tornando o disparo injustificado e esvaziando a tese de legítima defesa –, mas a ausência de testemunhas no momento do crime, aliada à criminalização da vítima e falta de iluminação no local, conspiraram no sentido da absolvição do polícia. Ainda que Kuku fosse apenas um miúdo de 14 anos, e do outro lado estivesse um agente treinado e de quase 40 anos, a juíza entendeu que naquelas circunstâncias a decisão policial dificilmente poderia ser outra. E nem o facto de o disparo ter sido efectuado a escassos centímetros da cabeça de Kuku, ao jeito de uma execução, levou a magistrada a reavaliar o que classificou de “infeliz evento”. Poderá a narrativa da “legítima defesa” repetir-se no caso de Odair Moniz, tendo em conta que também aqui existe uma putativa arma – no caso branca – e todo um argumentário que criminaliza a vítima? O advogado José Semedo Fernandes, que representa a família de Odair, aproveitou as alegações iniciais do julgamento para lembrar as semelhanças deste processo com o de Kuku, sublinhando a principal diferença: desta vez temos imagens da intervenção policial. Muitas foram captadas por moradores munidos de telemóveis e, não fosse a sua pronta disseminação nas redes sociais, talvez tivéssemos um comunicado sobre a avaria das câmaras de videovigilância instaladas no local, da mesma forma que tivemos um auto de notícia da PSP com uma faca que afinal não o era. “A defesa acredita que aqui a verdade vai ser encontrada, e que o arguido será condenado”. Assim seja!
Nota 3: Procurador investido em revelar os factos, colectivo de juízes parece apostado em mascará-los com teorias absolutórias
Sabemos quem matou Odair Moniz. Chama-se Bruno Pinto, é agente da PSP e está a ser julgado por homicídio. Sabemos também que, ao contrário do que a Polícia começou por alegar, a vítima não estava armada quando foi baleada. Sabemos ainda que o outro agente que se encontrava no local, Rui Machado, estava munido de uma lata de gás pimenta, que poderia ter usado para imobilizar Odair, mas optou por não o fazer. “Seis minutos é a linha de tempo que está aqui a ser analisada”, lembrou, mais do que uma vez, o procurador Pedro Lopes Pereira, colocando o foco nas decisões que determinaram os factos ocorridos entre as 5h25 e as 5h31 de 21 de Outubro de 2024. “Retrospectivando: considera proporcional que se tenha chegado a esta situação?”, questionou o representante do Ministério Público, recordando que na origem da intervenção de Bruno Pinto esteve um eventual crime de desobediência, e outro de condução perigosa. O procurador quis igualmente saber porque é que o agente disparou duas vezes contra Odair – afinal, se o objectivo era imobilizar a vítima, não estaria já imobilizada com o primeiro tiro? Pedro Lopes Pereira sublinhou ainda que a dupla de agentes já estava à espera de reforços policiais quando se deu a confrontação com Odair Moniz, e questionou-os sobre a não utilização do gás pimenta. Em separado, o arguido Bruno Pinto e a testemunha Rui Machado repetiram a mesma ficção dos acontecimentos: por um lado, naquela madrugada o vento desaconselhava o uso do gás pimenta; por outro lado, o manuseio do spray tornou-se desafiante perante a atitude da vítima. Nos antípodas da intervenção do procurador, o colectivo de juízes pareceu estar mais interessado em oferecer ao arguido argumentos para uma legítima defesa, em vez de o confrontar com a consequência das suas escolhas. Desde logo, a insistência na falta de formação da Polícia, nomeadamente em carreira de tiro, sugere que Bruno Pinto tenha sido vítima de uma impreparação estrutural. Do mesmo modo, quando se questiona “Conformou-se com este resultado?”, “Voltaria a fazer o mesmo?”, ou “Alguma vez desejou este resultado?”, parece que se está a forçar uma reparação da imagem do agente, apresentado com um profissional bem intencionado, a quem um azar bateu à porta. “Infeliz evento”, como no caso de Kuku? As manobras de absolvição incluíram mesmo uma analogia com o futebol: perante a explicação do arguido para a trajectória fatal dos seus disparos – quando os mesmos supostamente foram direccionados para os membros inferiores da vítima –, o juiz Carlos Camacho lembrou-se de sugerir que há um movimento semelhante no desporto-rei. Resumidamente: tal como o agente inclina o torso ligeiramente para trás quando dispara, também futebolista o faz para ganhar impulso quando remata.
Nota 4: Odair culpado por ser uma pessoa negra...perdão, astuta!
Armado ou desarmado, encorpado ou franzino, alcoolizado ou sóbrio, com ou sem cadastro, aparentemente pouco importa. Se de um lado estiver um elemento das forças de segurança e, do outro, um homem negro, este transforma-se automaticamente num alvo a abater. A presunção da culpa negra está de tal forma instituída nas polícias que, à falta de provas, aposta-se tudo na construção de uma história de criminalidade que transforme a vítima em agressor. O caso de Odair não é excepção. Repetidamente descrito pelo agente que o assassinou como uma “pessoa astuta”, o cabo-verdiano foi apresentado em tribunal como um perigo ambulante, que ia atropelando uma série de pessoas, e chegou mesmo a ameaçar de morte a dupla da PSP. Para a narrativa soar mais credível, Bruno Pinto, que assume não saber crioulo, expressa o que terá ouvido de Odair: “Mi ta mata”, ou qualquer coisa do género. “Ele alterava de personagem: passivo-agressivo, passivo-agressivo”, apontou o agente que o matou, estendendo o juízo incriminatório à generalidade da Cova da Moura. “O bairro oferece protecção”, observou Bruno Pinto no seu depoimento, garantindo que na madrugada fatídica efectuou os primeiros disparos para o ar em resposta a um avanço popular, alegadamente instigado pelos pedidos de ajuda de Odair. “O que é que fiz, o que é que se passa?”, terá sido um dos ‘alertas’ a soar rua acima, ao encontro de um grupo que, segundo o arguido, está ligado à “criminalidade organizada e violenta”. Noutra referência aos perigos da Cova da Moura, o agente adiantou: “Quando passamos por eles não cometem nenhum crime, assobiam”. Já Odair, além da atitude astuta, ficou ‘marcado’ por um suposto domínio de artes marciais. “Ele mantém sempre uma boa postura”, notou o arguido, atribuindo o equilíbrio à prática desportiva.
Nota 5: Dúvidas razoáveis - faca na imaginação, tiro à queima-roupa
“Num primeiro momento, o arguido é peremptório a dizer que Odair Moniz estava munido de uma faca. Depois refere que não sabe dizer a 100% se havia uma faca ou uma lâmina”. A incoerência, apontada ao agente da PSP, é assinalada pelo procurador que, já depois de visionadas as imagens de videovigilância em tribunal, confronta Bruno Pinto: afinal, havia ou não havia uma faca? Hesitante, o arguido devolve afirmativamente: “Eu agora tenho a certeza”. Questiono-me: na altura, não teve a mesma convicção? Então porque é que disparou contra uma pessoa desarmada? Mais: se, de facto, em algum momento suspeitou da existência de uma faca, não seria lógico assumir que, logo após os disparos, procurasse localizar e neutralizar a arma? “Deveria tê-lo feito, mas não era a minha preocupação”, afirmou, igualmente titubeante perante uma hipótese colocada pelo advogado José Semedo Fernandes. “Garante que o tiro à queima-roupa não foi disparado no momento em que estava debruçado, em cima de Odair?”. Antes da resposta do arguido, o contexto: apesar da insistência na tese da indomabilidade da vítima, há pelo menos um momento em que a intervenção policial consegue conter Odair, que fica de bruços sobre um carro e de costas para Bruno Pinto, permitindo a este ganhar alguma vantagem física. Terá sido nesta situação, já com o cabo-verdiano manietado, que o agente disparou o primeiro tiro? “Acredito que não”, atira o homicida, insistindo na superior capacidade de Odair para resistir. “Tanto no primeiro como no segundo tiro, ele encontrava-se a vir para cima de mim, e eu protejo-me”. Facto: aquando do primeiro tiro, não se vê, nas imagens, nenhum clarão. Como é que com um disparo à queima-roupa, o agente avança para um segundo, sob a alegação de que não tinha a certeza de ter acertado o primeiro? Afinal, queria matar ou manietar?
Nota 6: Mais dúvidas razoáveis – arma no coldre, rádio no chão
Na noite do homicídio de Odair Moniz, Bruno Pinto fazia a patrulha com Rui Machado, agente que está a ser acusado de falso testemunho por, juntamente com outro PSP, ter afirmado que viu um punhal por baixo do corpo de Odair, algo que se comprovou ser mentira. Por causa deste processo, a presença de Rui Machado no julgamento de Bruno Pinto ficou circunscrita a questões não relacionadas com a arma branca. Feito este enquadramento, há a destacar dois momentos do seu testemunho. O primeiro prende-se com as armas que usou, o segundo tem que ver com os tiros que mataram Odair. Vamos por partes: assim que saiu da viatura, empunhou a arma de fogo em direcção a Odair, para o intimidar, mas acabou por recolhê-la, quando entendeu que não era necessário manter essa abordagem. “Não achou necessário porquê?”, questionou o procurador, baralhando o agente. “Pode repetir a pergunta?”. Na resposta, Rui Machado secundou a leitura do autor dos disparos: “Inicialmente [Odair] sai do carro com um comportamento passivo. Embora não esteja a colaborar connosco, não partiu logo para a agressão”. Prosseguindo com os pedidos de esclarecimento, o procurador indagou: em vez da arma de fogo, o agente optou pelo bastão extensível, e nem tocou no gás pimenta que transportava, será que não lhe passou pela cabeça usar o spray, ou entendeu que as condições não eram favoráveis à sua utilização? “Ambas as duas”, respondeu, escancarando mais uma incongruência. Avancemos para os tiros: ao mesmo tempo que Rui Machado relatou a agressividade de Odair e dificuldade em manietá-lo, ficámos a saber que desperdiçou uma oportunidade para o conter – em prol de um objecto que poderia recuperar depois. Ficámos igualmente a saber que o que lhe ocorreu fazer numa situação de confronto físico entre a vítima e Bruno Pinto, foi dar costas à altercação. “Estou com o bastão, dou um empurrão, e ele [Odair] embate contra a parte traseira de uma viatura, desfiro uma bastonada, quando vou para desferir a segunda levo o meu braço atrás, o meu rádio saltou e caiu atrás de mim, cerca de um metro e pouco. Virei-me de costas para os dois. O meu colega continuava na altercação, digamos assim, com Odair”. Conta o agente que foi nesse instante, em que estava de costas, que ouviu mais um tiro, o terceiro da noite – dois tinham sido para o ar, e este foi primeiro a acertar na vítima. “Não sabia quem tinha sido atingido, nem quem tinha efectuado o disparo: se tinha sido o meu colega, o Odair, ou um disparo para o ar. Viro-me para os dois, primeira imagem que tenho é o Odair com a mão esticada na cabeça do meu colega numa posição de agressão. O meu colega meio que recuava, com a arma apontada na direcção das pernas do Odair. Dirijo-me na direcção dos dois, e quando estou a chegar há mais um disparo, e o Odair caído no chão. Naquele momento não me apercebi do sucedido, estava completamente sob o efeito túnel”. Foi aí que Rui Machado ainda carregou sobre a vítima com uma bastonada, porque, garante, não conseguiu travar o impulso que já levava. O testemunho torna bastante plausível a hipótese aventada por José Semedo Fernandes, de que o primeiro tiro a atingir Odair aconteceu quando o mesmo estava imobilizado, encostado a um carro. É, contudo, ao segundo tiro que o cabo-verdiano cai sobre o asfalto, de barriga para baixo, embora tenha aparecido posteriormente de barriga para cima, circunstância que levou a juíza presidente do colectivo a questionar: “Foi por via da sua acção que [a vítima] acabou por ficar de barriga para cima?”. “Não lhe consigo dizer.”
Nota 7: O grito de Odair – “Sou doente” – e a mão ferida que as algemas policiais queriam ignorar
Os agentes da PSP Bruno Pinto e Rui Machado coincidem no retrato da resistência oferecida por Odair Moniz. “Sou doente, sou doente. Arma não, bastão não”, terá vociferado a vítima, que começou por levantar os braços, tornando assim visível a ligadura que lhe cobria uma das mãos. “Chegou a explicar que tinha um ferimento?”, perguntou o advogado José Semedo Fernandes, numa alusão a uma queimadura que, desde Maio, mantinha Odair de baixa médica. Não tendo a vítima explicado, questiono-me se não seria lógico assumir que a referência a uma doença pudesse estar relacionada com a mão que a vítima fez questão de elevar. Estaria Odair a recusar ser algemado por ser “uma pessoa astuta”, como tantas vezes repetiu o agente que o matou, ou por estar a recuperar de um ferimento que as algemas iriam agravar? A ausência de diálogo entre os agentes e a vítima parece ter marcado os seis minutos de interacção que tiveram, dominados, no testemunho dos PSP, por ameaças. “Vou-vos matar filhos da p***”, terá avisado Odair que, mesmo com a mão ligada e sob o efeito de álcool e estupefacientes, permanecia, aos olhos dos agentes, incapaz de manietar. (os exames toxicológicos indicaram que tinha no sangue de 1,98 gramas de álcool por litro, e uma concentração de canabinóides de 1 nanogramas por mililitro).“A adrenalina dele estava muito alta devido à perseguição, à fuga e por ter embatido”, numa série de carros antes de parar, considerou Rui Machado, insistido na ficção –“Tentámos de tudo”–, mas assumindo que ignoraram o ferimento de Odair. Afinal, conforme declarou em tribunal, estavam a tentar algemá-lo “na mão que desse”. Já Bruno Pinto aproveitou todas as oportunidades para salientar o quão perigosa é a Cova da Moura. “Ali optei pela minha vida e pela do meu colega”. Para Odair restou a morte.
Nota 8: Regressar da morte – o pesadelo de uma família destroçada
“A vida mudou muito?”. Diante da juíza que preside ao colectivo de juízes, Ana Patrícia Moniz, viúva de Odair, não hesitou um segundo antes de responder: mudou “bastante”, mudou “tudo”. Incapaz de pregar olho desde o assassinato do seu “Dá”, a ajudante de cozinha, lembra que ele era “o pilar da casa”, que “nunca deixava faltar nada”. Como se não bastasse o pesadelo que representa a perda irreparável do companheiro de 23 dos seus 37 anos de vida, ‘Mónica’, como também é conhecida, recordou em tribunal que a violência policial contra a sua família não acabou com o homicídio. “Rebentaram-me a porta, ponho um armário [atrás da porta] para tentar dormir”, relatou a viúva, e mãe dos dois filhos de Odair. A receber tratamento psiquiátrico desde Novembro do ano passado, a ajudante de cozinha partilha os danos emocionais que observa também nos filhos, de 21 e quatro anos. “O mais velho está com depressão, não sai do quarto”, lamenta, enquanto descreve como o mais novo corre para o comando da televisão, desligando-a, de cada vez que surge uma notícia sobre o pai. “Ainda hoje pergunto-me o que aconteceu com o meu marido”, sublinha a viúva, que passou a andar movida por uma bateria de medicamentos: anti-depressivos, calmantes, SOS para ansiedade. Perdas somadas, a família reclama 200 mil euros de indemnização. Pague-se! Faça-se Justiça.
Em nome da liberdade, não da repressão: uma resposta feminista à proibição da burca
O Parlamento aprovou hoje, na generalidade, o projecto de lei que proíbe o uso, em espaços públicos, de “de roupas destinadas a ocultar ou a obstaculizar a exibição do rosto", designação onde se incluem as burcas. A proposta, do Chega passou com o apoio do PSD, Iniciativa Liberal e CDS e contou com votos contra do PS, Livre, PCP e Bloco de Esquerda. PAN e JPP abstiveram-se. “Enquanto mulher feminista e deputada socialista”, Eva Cruzeiro explica, neste artigo de opinião que o Afrolink publica, porque se recusa “a aceitar que a emancipação das mulheres seja invocada para legislar contra elas”. “Esta medida não protege as mulheres muçulmanas, silencia-as. Não promove liberdade, impõe exclusão. Não defende os seus direitos, criminaliza a sua diferença”.
O Parlamento aprovou hoje, na generalidade, o projecto de lei que proíbe o uso, em espaços públicos, de “de roupas destinadas a ocultar ou a obstaculizar a exibição do rosto", designação onde se incluem as burcas. A proposta, do Chega passou com o apoio do PSD, Iniciativa Liberal e CDS e contou com votos contra do PS, Livre, PCP e Bloco de Esquerda. PAN e JPP abstiveram-se. “Enquanto mulher feminista e deputada socialista”, Eva Cruzeiro explica, neste artigo de opinião que o Afrolink publica, porque se recusa “a aceitar que a emancipação das mulheres seja invocada para legislar contra elas”. “Esta medida não protege as mulheres muçulmanas, silencia-as. Não promove liberdade, impõe exclusão. Não defende os seus direitos, criminaliza a sua diferença”.
Texto de Eva Cruzeiro
A aprovação do projeto que proíbe o uso da burca em espaço público, apresentado pelo Chega e viabilizado pelos votos do PSD, da Iniciativa Liberal e do CDS, constitui um grave retrocesso nos valores de liberdade, igualdade e inclusão que devem sustentar qualquer democracia plural.
Enquanto mulher feminista e deputada socialista, recuso-me a aceitar que a emancipação das mulheres seja invocada para legislar contra elas. Esta medida não protege as mulheres muçulmanas, silencia-as. Não promove liberdade, impõe exclusão. Não defende os seus direitos, criminaliza a sua diferença.
A imposição sobre o modo como as mulheres se vestem, seja por obrigatoriedade ou por proibição, é sempre uma forma de controlo sobre os seus corpos. Quando o Estado define o que uma mulher pode ou não usar, está a perpetuar o mesmo tipo de opressão que, em outras geografias, condenamos.
Não podemos permitir que o feminismo seja instrumentalizado por discursos da extrema-direita para justificar medidas islamofóbicas. A luta feminista é, e sempre será, uma luta pela liberdade de todas as mulheres, incluindo as que não se enquadram nos padrões culturais ocidentais. O verdadeiro feminismo não impõe libertações por decreto. Escuta, respeita e apoia.
Proibir a burca coloca as mulheres muçulmanas numa encruzilhada injusta. Ou abandonam os seus princípios religiosos e culturais ou são excluídas da vida pública. Para muitas, isso poderá significar deixar de sair à rua, deixar de estudar ou de trabalhar. Em vez de promover integração, esta medida acentua a invisibilização.
Este não é um debate sério sobre segurança, é uma falsa solução para problemas que não se resolvem com proibições. É também um ataque à liberdade religiosa, à autodeterminação e à dignidade de milhares de mulheres que fazem parte da nossa sociedade.
Quantas mulheres portuguesas muçulmanas foram ouvidas na construção desta proposta? Quantas foram chamadas a opinar sobre uma medida que afetará diretamente as suas vidas?
Há quem diga que estas mulheres muçulmanas não conseguem denunciar ou reclamar por causa das condicionantes religiosas, culturais, familiares ou da dependência económica. Mas o mesmo acontece com muitas mulheres cristãs que, em contexto de violência doméstica ou até de violação dentro do casamento, também permanecem em silêncio, por medo, por vergonha, por isolamento ou por pressão social. E nem por isso propomos proibir o casamento cristão ou legislar contra a vida familiar tradicional. O que fazemos, ou deveríamos fazer, é garantir apoio, criar condições reais de autonomia, ouvir as mulheres e agir com responsabilidade. Isso implica desenvolver políticas públicas de informação e consciencialização, investir em canais seguros de denúncia e reforçar redes de apoio psicológico, jurídico, habitacional e económico, tanto do Estado como da sociedade civil. Só assim podemos criar alternativas concretas de libertação, em vez de impor restrições que apenas reforçam o isolamento e o estigma.
Se há mulheres a usar burca contra a sua vontade em Portugal, é nosso dever agir, como agimos em relação a qualquer forma de opressão. Para isso, devemos reforçar mecanismos de apoio, criar linhas de denúncia seguras, investir em respostas de proteção e empoderamento. Mas quando existem mulheres que usam burca por sua livre e consciente vontade e lhes é proibido fazê-lo, estamos a limitar a sua liberdade.
Pessoalmente, posso não me rever no uso da burca. Mas os meus gostos, convicções ou referências culturais não podem justificar a imposição de normas sobre os outros. E o mesmo se aplica em sentido inverso. Liberdade é isso, o direito de cada um existir plenamente, desde que sem causar dano ao outro.
Devemos apoiar todas as mulheres, e não legislar contra algumas. Precisamos de mais escuta e menos imposição. Mais inclusão e menos exclusão. E, acima de tudo, mais compromisso com uma sociedade onde todas as mulheres possam viver com dignidade, autonomia e respeito.
“O que há de Negro na História da Arte?”, Alayo Akinkugbe revela
Mais de cinco anos depois de ter criado a página ABlackHistoryofArt, no Instagram, Alayo estende a sua intervenção a várias outras plataformas, com destaque para o podcast “A Shared Gaze” (Um olhar partilhado), a que juntou, já neste ano, o lançamento do seu livro de estreia, intitulado “Reframing Blackness, What's Black About History of Art” (Reenquadrando a Negritude, O que há de Negro na História da Arte). A obra, recém-editada pela Penguin, serve de mote para uma conversa com o Afrolink, realizada em vésperas da apresentação portuguesa, marcada para as 18h30 de hoje, 7, no TBA – Teatro do Bairro Alto. O momento, com moderação do autor, actor e curador Paulo Pascoal, dá uma dimensão profissional a uma já longa relação de Alayo com Lisboa. “Nunca trabalhei em Portugal, mas nos últimos 10 anos tenho passado muito tempo no país”, diz, partilhando os planos de transformar a actual autorização de residência num pedido de cidadania.
A cada imagem e texto apresentados, de publicação em revelação, Alayo Akinkugbe foi preenchendo, no Instagram, o vazio de referências que encontrou em Cambridge. “Não queria sair com um diploma em História da Arte, mas sem saber nada, ou a saber muito pouco sobre artistas negros”, conta ao Afrolink, recuando aos primórdios de criação da página @ABlackHistoryofArt. Mais de cinco anos depois, Alayo estende a sua intervenção a várias outras plataformas, com destaque para o podcast “A Shared Gaze” (Um olhar partilhado), a que juntou, já neste ano, o lançamento do seu livro de estreia, intitulado “Reframing Blackness, What's Black About History of Art” (Reenquadrando a Negritude, O que há de Negro na História da Arte). A obra, recém-editada pela Penguin, serve de mote para uma conversa com o Afrolink, realizada em vésperas da apresentação portuguesa, marcada para as 18h30 de hoje, 7, no TBA – Teatro do Bairro Alto. O momento, com moderação do autor, actor e curador Paulo Pascoal, dá uma dimensão profissional a uma já longa relação de Alayo com Lisboa. “Nunca trabalhei em Portugal, mas nos últimos 10 anos tenho passado muito tempo no país”, diz, partilhando os planos de transformar a actual autorização de residência num pedido de cidadania. “Fiquei muito feliz com o convite para estar no TBA, porque me permite chegar a outro público, e também porque quero muito que o livro seja publicado em português”. Seja em que idioma for, o compromisso para romper com os cânones mantém-se, mais ainda perante o avanço da extrema-direita. “É em momentos como este, em que há muita oposição e o mundo está tão sombrio e difícil, que precisamos continuar a falar”.
Alayo Akinkugbe, fotografada por Cameron Ugbodu
Impossível de ignorar, o contraste recalibrou, precocemente, as lentes raciais de Alayo Akinkugbe. “A minha compreensão da negritude sofreu uma grande mudança, porque saí da maior nação negra, para um lugar onde a maioria das pessoas era branca”.
Na altura com 11 anos, a curadora e escritora revisita hoje, aos 25, como a saída da Nigéria de nascimento, e a entrada num colégio privado no Reino Unido alterou, em definitivo, a sua perspectiva de “como a negritude se relaciona com a branquitude, ou com a europeidade”.
A reconfiguração, assinala Alayo em conversa com o Afrolink, marca o tom de “Reframing Blackness, What's Black About History of Art” (Reenquadrando a Negritude, O que há de Negro na História da Arte), o seu livro de estreia, e mote para a conversa desta tarde no TBA – Teatro do Bairro Alto.
Antes do encontro, marcado para as 18h30, o Afrolink entrevistou a também autora da página @ABlackHistoryofArt, criada em 2020 para preencher os vazios de uma licenciatura em Cambridge.
“Não queria sair com um diploma em História da Arte, mas sem saber nada, ou a saber muito pouco sobre artistas negros”.
Desde o primeiro ano do curso confrontada com a hegemonia branca do currículo da universidade, e então estudante encontrou, num artigo académico, o caminho para subverter essa desigualdade.
“Fiz um trabalho sobre arte contemporânea nos EUA e no Reino Unido, a partir dos anos 80 e, de repente, tive acesso às obras de artistas negros”, recorda Alayo, desde esse momento determinada a aprofundar essa exposição.
“Sabia que, depois de terminar o artigo, não teria muitas oportunidades de aprender mais, a não ser através da minha pesquisa independente.
Então, comecei a publicar no Instagram, criei a página como uma forma de me autoeducar sobre o que os artistas negros têm feito ao longo da história em diferentes partes do mundo”.
Do Instagram para a Penguin
A investigação acabou por também aguçar o interesse “pela forma como as figuras negras têm sido retratadas na História da Arte europeia; como modelos, musas e temas negros têm sido descritos; e como os artistas têm nomeado – ou não – os seus retratos”.
Desse misto de necessidade e curiosidade gerou-se a força motriz d’ @ABlackHistoryofArt, rapidamente transformada num fenómeno de popularidade, entretanto alargado ao podcast “A Shared Gaze” (Um olhar partilhado).
“Comecei em Fevereiro de 2020 e, em Junho de 2020, com o forte ressurgimento do Black Lives Matter, devido ao assassinato de George Floyd, a página explodiu. Muitas pessoas escreveram-me a dizer que tinham estudado Arte, ou História da Arte, mas nunca tinham aprendido sobre artistas negros”.
Até então convencida de que as suas inquietações eram únicas – “Nenhum dos meus colegas parecia se preocupar na universidade” –, depressa a escritora compreendeu que as suas experiências eram comuns a pessoas de diferentes gerações.
“Cerca de um ano depois de ter criado a página, fui abordada para escrever o livro”, nota, recuando a história cerca de quatro anos. “Estava prestes a terminar a minha licenciatura, quase a fazer 21 anos, e não teria tido a confiança para avançar se não fosse o convite”.
Desafiada pela Penguin, Alayo conta que o título foi uma das primeiras coisas que lhe ocorreu, acompanhada de muitos questionamentos.
“Fiquei a pensar: como vou definir a negritude? Então, no prefácio, falo muito sobre como a negritude é vivida de forma diferente em lugares diferentes. De como é uma multiplicidade e não um monólito, de como não significa uma única coisa”.
Demarcando-se de “uma definição estática e fixa”, a curadora insiste em sublinhar que escreve a partir das subjectividades, ainda que focada na História da Arte ocidental e europeia, por entender que é “nesse contexto que a negritude é marginalizada”.
Interessada em “abordar essa tensão” – inexistente, por exemplo, na História da Nigéria, por mais que existam lastros coloniais –, traz para as páginas de “Reframing Blackness” exemplos que ilustram como, ao longo do tempo, se tem produzido e reproduzido o apagamento de figuras negras na arte, e como os artistas e curadores negros estão a contribuir para iluminá-las.
“Barbara Walker é uma artista britânica caribenha que tem recriado muitas pinturas canónicas”, aponta Alayo, explicando que o seu livro apresenta uma dessas manifestações artísticas, reconstruída a partir da obra de Titian, “Diana and Actaeon”, exposta na The National Gallery de Londres.
“Bem na borda da pintura, a tentar proteger a mulher branca nua, que é Diana, a protagonista, há uma mulher negra. A forma como Titian a pintou, em frente a um tronco de árvore, faz com que mal a consigamos ver. Tem de se olhar com muita atenção para reparar nela, porque está lá apenas para contrastar com a brancura da Diana”.
A leitura, acrescenta a escritora, é desconstruída e reconstruída por Barbara Walker. “Ela usa papel branco, gravado em relevo, de modo que toda a composição é basicamente branca. E é como se tivesse uma textura, e dá para ver o contorno de todas as figuras. Ao mesmo tempo, com lápis de grafite, Barbara pinta a figura negra no canto. Ao fazê-lo, não está a tentar apagar as outras figuras, mas sim a desviar o nosso olhar para pensar sobre essa figura, e sobre como uma mulher negra era representada no século XVI pelo mestre renascentista, relegada a um canto”.
Paulo Pascoal, fotografado por Peter Arcanjo, será o moderador da conversa no TBA
Curar a mudança, com Arte e Educação
O convite a uma mudança de perspectiva é transversal às produções de Alayo, e está bem patente em “Reframing Blackness”.
“No capítulo final do livro, há uma série de conversas com curadores e curadoras que, além de serem negros, desenvolvem um trabalho que se concentra na negritude”, realça a escritora, enumerando algumas das presenças reunidas na obra.
A galeria de notáveis inclui Koyo Kouoh, falecida precocemente, em Maio passado, já depois de ter sido anunciada como curadora da 61.ª edição da Bienal de Veneza; Ekow Eshun, curadora de “In the Black Fantastic” e “The Time Is Always Now” uma exposição de retratos negros na National Portrait Gallery, em Londres; e Denise Murrell, que curou “Posing Modernity” no Met, uma mostra que também viajou para Museu d'Orsay, sobre como os modelos e musas negros têm sido apresentados ao longo da história.
“O traço comum entre todos é que, acima de tudo, estão a fazer o que fazem por uma espécie de sentido de dever. Todos sentiam que tinham de o fazer, e não se viam a criar nada além de narrativas negras”.
O olhar partilhado, assinala Alayo, explica-se pelas vivências. “Acho que isso se deve ao facto de eles próprios terem tido experiências de marginalização, de serem postos de lado. Então, quando se tornam curadores, concentram-se nessas histórias porque sentem que é importante que sejam partilhadas. É um chamamento que eu também sinto”.
Na resposta a esse “chamamento”, autora não se limita a apontar para o reconhecimento de múltiplas exclusões, antes propõe caminhos de transformação.
“No Reino Unido, e provavelmente na maior parte da Europa, a razão pela qual as pessoas têm uma perspectiva tão eurocêntrica e branca do que é o mundo da arte ou a História da Arte é por ser isso que é ensinado nas escolas. Portanto, defendo que as escolas e universidades devem abrir os seus currículos para incluírem perspectivas mais diversificadas, não apenas em termos de vozes negras, mas também de todo o mundo, reconhecendo a História da Arte no sentido mais amplo, e não apenas na narrativa típica europeia”.
A esperança de que a proposta ganhe terreno aumenta a cada convite para estar em escolas, adianta a escritora, que ambiciona também que a mensagem se dissemine em língua portuguesa.
“Nunca trabalhei em Portugal, mas nos últimos 10 anos tenho passado muito tempo no país”, diz, partilhando os planos de transformar a actual autorização de residência num pedido de cidadania.
“Fiquei muito feliz com o convite para estar no TBA, porque me permite chegar a outro público, e também porque quero muito que o livro seja publicado em português”.
Seja em que idioma for, o compromisso para romper com os cânones mantém-se bem firme, mais ainda perante o avanço da extrema-direita. “É em momentos como este, em que há muita oposição e o mundo está tão sombrio e difícil, que precisamos continuar a falar”, salienta, sem contemplação: “Se pararmos, as nossas vozes serão abafadas”. Façamo-nos ouvir.
Michèle Stephenson e Joe Brewster: “O filme é política. Queremos apoiar um movimento em que os afrodescendentes não implorem para ser vistos”
A autores de documentários premiados, como “Going to Mars - The Nikki Giovanni Project”, ou “American Promise”, Michèle Stephenson e Joe Brewster estiveram em Lisboa no âmbito do projecto “Democracy in Action”, que está a ser desenvolvido por um consórcio europeu, integrado, em Portugal, pelo CESA - Centro de Estudos sobre África e Desenvolvimento do ISEG. Mais do que darem a conhecer o seu trabalho, exibido em sessões de cinema no Centro Cultural Cabo Verde, e no espaço Mbongi 67, Michèle e Joe conduziram uma formação intensiva em vídeo-documentário, exclusivamente dirigida a videomakers africanos e afrodescendentes. A experiência, que o Afrolink seguiu de perto, cumpre um dos propósitos maiores da dupla de cineastas: apoiar, local e globalmente, projectos de criadores negros emergentes.
O território da ficção desviou o cineasta Joe Brewster para o caminho da não-ficção. “Aprendi como o sistema não abraçava as nossas histórias, como não me ia deixar contar o que eu queria contar. Então, tive de fazer ajustes”. Há muito ‘convertido’ à arte do documentário, Joe aprimora-a há décadas ao lado da companheira Michèle Stephenson que, ao trocar uma carreira na Justiça pelos planos de cinema, somou à parceria de vida com Joe uma sólida aliança profissional. Fundadores da Rada Studio New York, e autores de documentários premiados, como “Going to Mars - The Nikki Giovanni Project”, ou “American Promise”, Michèle e Joe estiveram em Lisboa no âmbito do projecto “Democracy in Action” (DiA), que está a ser desenvolvido por um consórcio europeu, integrado, em Portugal, pelo CESA - Centro de Estudos sobre África e Desenvolvimento do ISEG. Mais do que darem a conhecer o seu trabalho, exibido em sessões de cinema no Centro Cultural Cabo Verde, e no espaço Mbongi 67, Michèle e Joe conduziram uma formação intensiva em vídeo-documentário, exclusivamente dirigida a videomakers africanos e afrodescendentes. A experiência, que o Afrolink seguiu de perto, como parceiro do DiA, cumpre um dos propósitos maiores da dupla de cineastas: apoiar, local e globalmente, projectos de criadores negros emergentes. A missão concretiza-se através da ONG Rada Collaborative, uma extensão do seu estúdio em Nova Iorque, criado com um foco irremediavelmente político. “Estamos a fazer filmes que queremos ver, e não estão a ser feitos pelas comunidades brancas”, assinala Michèle, enquanto Joe lembra a importância de cada comunidade encontrar a sua voz. “Nunca faríamos um documentário sobre Portugal”, sublinha, defendendo que cabe à comunidade negra no país dar esse passo. “Queremos apoiar um movimento em que os afrodescendentes não implorem para ser vistos, em que não procurem uma razão para justificar a sua presença, porque eles construíram este país”.
Foto de Marianna Rios/CEsA, com Michèle Stephenson e Joe Brewster, na formação em Lisboa
Despida de crónicas e históricas narrativas de branqueamento, Lisboa apresenta-se inteira aos olhos da dupla de cineastas Michèle Stephenson e Joe Brewster: “É uma cidade bastante negra”, converge o casal.
Sob este ângulo partilhado, poderá a capital portuguesa transformar-se num pólo de produção da Rada Studio New York, casa que fundaram para valorizar, humanizar e projectar no grande ecrã a História, Cultura e vidas negras?
Aconteça o que acontecer, Joe é peremptório num destino: “Nunca faríamos um documentário sobre Portugal”, sublinha, defendendo que cabe à comunidade negra no país dar esse passo. “Queremos apoiar um movimento em que os afrodescendentes não implorem para ser vistos, em que não procurem uma razão para justificar a sua presença, porque eles construíram este país”.
O processo de sustentação começou a ganhar vida em meados de Junho, num workshop intensivo de vídeo-documentário, exclusivamente dirigido a videomakers africanos e afrodescendentes.
A experiência, nota Michèle, reforçou o compromisso colectivo que, desde as primeiras cenas, acompanha a acção da Rada Studio.
“Não se trata apenas de ensinar sobre como contar histórias, mas de criar uma comunidade de solidariedade, e também um sentido mais forte de agência, de ‘eu sou suficiente’, ‘eu posso fazer isso’, ou ‘eu tenho algo para contar’”.
O impacto, assinala a cineasta, mede-se bem pelas palavras de uma das participantes.
“Disse que aprendeu mais nos três dias que passou com este grupo, do que nos nove meses em que participou de uma outra formação em cinema”.
Desbloqueadores e amplificadores de vozes
A diferença salta à vista: no outro lado era a única mulher negra, e nunca se sentia suficientemente confortável para falar sobre a sua história; nesta capacitação sentiu-se vista, ouvida e acolhida, o que lhe permitiu desbloquear a voz.
O testemunho vai ao encontro do que Michèle e Joe têm observado, não apenas nos EUA, mas em todas as geografias por onde têm actuado.
Justamente por isso, a dupla de cineastas estendeu as suas operações à Rada Collaborative, organização sem fins lucrativos que se destina a apoiar, local e globalmente, projectos de criadores negros emergentes.
“Queremos assumir um compromisso de longo prazo, porque essas coisas levam tempo. Desde logo para as pessoas encontrarem a sua voz, e se sentirem confiantes nas histórias que estão a contar”, explica Michèle, já calejada nos ritmos cinematográficos de produção, exaustão e também alguma frustração.
Hoje com vários documentários premiados, a cineasta não descura a passagem de testemunho. “Há um papel histórico nisso”, considera, lembrando que a ausência ou apagamento de narrativas, argumentistas e realizadores negros acaba por desincentivar a entrada de profissionais afrodescendentes nesta indústria. “O padrão é sermos invisíveis”, aponta, enquanto Joe partilha como encontrou o seu lugar no cinema.
Iniciado na ficção, universo no qual chegou a assinar um par de produções, o parceiro de vida e de trabalho de Michèle alterou a rota a partir de um repto inesperado.
“Ela decidiu que ia fazer documentários”, conta, recuando cerca de três décadas nesta história.
Até aí ao serviço da Justiça, com intervenção na área dos Direitos Humanos, a cineasta acabou por incentivar a adiada especialização do marido na não-ficção.
“Na realidade, fui para Nova Iorque estudar documentário, mas morava no centro da cidade com muitos artistas, cineastas, actores e actrizes, e todos faziam ficção. Então, foi isso que fiz: comecei a escrever guiões”.
O hábito foi fazendo o monge, e, ao mesmo tempo, beliscando a fé na arte.
“Estava desencantado, porque na ficção passamos a maior parte do tempo a angariar fundos e, depois, há um período intenso em que se faz o filme”, adianta Joe, explicando que nesse percurso esbarrou com sólidas barreiras raciais.
“O dinheiro que se consegue depende muito do olhar com que se escreve, e normalmente tem que se escrever com um olhar branco, para que os personagens não ofendam a população dominante”.
Documentar para constar
O reconhecimento de que as regras da indústria cerceavam a sua liberdade criativa e possibilidades de expressão, favoreceu a entrega aos documentários.
“Aprendi como o sistema não abraçava as nossas histórias, como não me ia deixar contar o que eu queria contar. Então, tive de fazer ajustes. E como eu amo o ofício, comecei a vê-lo de forma diferente”.
Em vez de se debater com a ideia de uma “arte branca”, Joe rendeu-se “à arte de contar histórias”, uma das mais preciosas heranças africanas.
“O que um griot faz? Ele conta a sua história, a nossas histórias. Então, vejo-as como parte de uma necessidade cultural da qual fomos privados”.
O resgate da tecnologia ancestral permitiu ao cineasta perceber, de forma bem concreta, que não queria assinar produções de super-heróis.
“Os filmes mais poderosos são sobre uma empregada doméstica que basicamente cuida dos seus filhos e os ama, ou sobre alguém que está a passar por dificuldades, como o pai que está a tentar criar os filhos e manter a sua dignidade”.
Michèle reforça a ideia: “Estamos a fazer filmes que queremos ver, e não estão a ser feito pelas comunidades brancas. As histórias têm uma ressonância, porque vemos as nossas vidas no ecrã”.
Certeza americana
A força do efeito-espelho tornou-se especialmente expressiva a partir de “American Promise” que, ao longo de uma dúzia de anos, registou os desafios, marcadamente raciais, enfrentados por Michèle e Joe na educação de Idris, o filho de ambos.
“Pais negros de todo o país apareciam e levavam os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Era quase um culto”, nota Joe, de volta ao 2013 de lançamento do documentário, que também acompanhou os embates vividos pelo melhor amigo de Idris.
A par da aceitação do público “American Promise” arrebatou várias distinções, com destaque para o prémio especial do júri no Festival de Sundance.
O amplo reconhecimento robusteceu a capacidade de Michèle e Joe financiarem as suas produções, habilidade que se revela cada vez mais vital, face a sucessivos retrocessos políticos, particularmente nefastos para projectos que representam comunidades sub-representadas e historicamente discriminadas.
“Trump quer que a sua narrativa domine, e está a silenciar todas as outras porque se sente ameaçado por elas”, assinala Michèle, defendendo que esta realidade pede compromisso redobrado.
“Temos de compreender que há um poder nisso: de nos arriscarmos a contar as nossas histórias. E não devemos ignorar o impacto que as histórias que escolhemos contar podem ter daqui a 20, 30, 40 anos”.
A partir desta consciência social, Joe acredita que há caminho para reverter os ataques às liberdades.
“Angariámos uma quantia enorme de dinheiro para um dos nossos filmes, provavelmente apenas porque as pessoas sabem que vai ser mais difícil de financiar. Então, investiram intencionalmente em Paul Robeson porque querem que a história seja divulgada. Mas todos os outros projectos estão a angariar metade do dinheiro que já deveriam ter angariado”.
Sejam quais forem os apertos e as folgas financeiras, a dupla de cineastas lembra a importância de construir audiências.
“Não nos limitamos a fazer o filme e a dar como certo que o nosso público negro vai aparecer”, diz Michèle, defendendo que “é preciso angariar fundos para o seu envolvimento, investir tempo na divulgação e nas exibições comunitárias, que se sabe serem necessárias para criar esse diálogo, e para que as pessoas se vejam a si mesmas”.
Nesse caminho, acrescenta Joe, impõe-se não perder o foco. “Estamos sempre a tentar descobrir quais as melhores histórias para contar, sabendo que não se pode contar todas”, aponta, realçando o dever de resistir, insistir e persistir. “O filme é política de muitas maneiras”.
Junte-se à Rede Nacional de Profissionais Negras e Negros na Educação
“Por uma Educação com Justiça, Representatividade e Compromisso Ético”, a Rede Nacional de Profissionais Negras e Negros propõe-se “mapear e chegar a todas as professoras, professores, educadoras e educadores negros que actuam em Portugal — no continente e nas ilhas — criando um espaço de conexão, escuta e acção colectiva”. O propósito ganha vida online, a partir de um repto à participação, que o Afrolink divulga.
“Por uma Educação com Justiça, Representatividade e Compromisso Ético”, a Rede Nacional de Profissionais Negras e Negros propõe-se “mapear e chegar a todas as professoras, professores, educadoras e educadores negros que actuam em Portugal — no continente e nas ilhas — criando um espaço de conexão, escuta e acção colectiva”. O propósito ganha vida online, a partir de um repto à participação, que o Afrolink divulga.
“Se és uma educadora, educador, professora ou professor negra/o a actuar em Portugal, preenche o formulário de mapeamento e junta-te a esta rede nacional”, apela a educadora, formadora e consultora Georgina Angélica, promotora da iniciativa, e criadora do projeto Educar com Amor e Consciência.
Além de “mapear e conectar docentes negras e negros em Portugal, em todos os níveis de ensino”, a Rede pretende “valorizar saberes, experiências e trajectórias de profissionais negras e negros no campo educativo”, bem como “partilhar desafios e construir soluções práticas e colaborativas para uma educação anti-racista, plural e representativa”.
As ambições do projecto passam ainda por “influenciar políticas públicas, apresentando ideias e propostas concretas que promovam a justiça racial na educação”; meta que se articula com a necessidade de “sensibilizar decisores políticos e instituições para a urgência de garantir equidade na formação, contratação e progressão de profissionais negras e negros”.
A missão da Rede inclui ainda criar as condições para a sua integração “como um órgão consultivo permanente, que contribua activamente para o desenvolvimento de políticas educativas mais justas, inclusivas e coerentes com a diversidade da sociedade portuguesa”.
Mais informações Rede Nacional de Profissionais Negras e Negros na Educação-Mapeamento e Colaboração - Google Forms
Assata Skakur: “Sou uma revolucionária Negra”
Na despedida a Assata Skakur, ícone da luta dos Panteras Negras que morreu na passada quinta-feira, 25 de Setembro, em Cuba, publicamos uma mensagem gravada pela própria a 4 de Julho de 1973, e que extraímos da obra “Assata – Uma Autobiografia”, editada em 2022 pela brasileira Pallas. O importante testemunho, com prefácios de Angela Davis e Lennox Hinds, permite-nos mergulhar na história daquela que se tornou uma das mulheres mais procuradas pelo FBI. Nascida em Nova Iorque, a 16 de Julho de 1947, Assata iniciou a militância política na universidade, e, com a adesão aos Panteras Negras, interveio na criação de clínicas comunitárias e programas de alfabetização. Na luta pelos direitos civis, destacou-se igualmente como uma das líderes do Exército da Libertação Negra, até que, em 1973, fruto de uma emboscada policial, acabou presa e condenada à prisão perpétua. Conseguiu fugir em 1979 e, na hora da morte, aos 78 anos, permanecia asilada em Cuba. Conheça-a na primeira pessoa.
Na despedida a Assata Skakur, ícone da luta dos Panteras Negras que morreu na passada quinta-feira, 25 de Setembro, em Cuba, publicamos uma mensagem gravada pela própria a 4 de Julho de 1973, e que extraímos da obra “Assata – Uma Autobiografia”, editada em 2022 pela brasileira Pallas. O importante testemunho, com prefácios de Angela Davis e Lennox Hinds, permite-nos mergulhar na história daquela que se tornou uma das mulheres mais procuradas pelo FBI. Nascida em Nova Iorque, a 16 de Julho de 1947, Assata iniciou a militância política na universidade, e, com a adesão aos Panteras Negras, interveio na criação de clínicas comunitárias e programas de alfabetização. Na luta pelos direitos civis, destacou-se igualmente como uma das líderes do Exército da Libertação Negra, até que, em 1973, fruto de uma emboscada policial, acabou presa e condenada à prisão perpétua. Conseguiu fugir em 1979 e, na hora da morte, aos 78 anos, permanecia asilada em Cuba. Conheça-a na primeira pessoa.
Irmãos Negros, irmãs Negras, quero que saibam que eu vos amo e espero que em algum lugar dos vossos corações tenham amor por mim. O meu nome é Assata Shakur (nome de escrava joanne chesimard), e eu sou revolucionária. Uma revolucionária Negra. Quero dizer com isso que declarei guerra a todas as forças que estupraram as nossas mulheres castraram os nossos homens e deixaram os nossos filhos com a barriga vazia.
Declarei guerra aos ricos que prosperam com a nossa pobreza, aos políticos que nos mentem entre sorrisos, e a todos os robôs sem mente e sem coração que os protegem assim como às suas propriedades.
Eu sou uma revolucionária Negra e, como tal, sou vítima de toda a ira, o ódio e a calúnia que a amérika pode gerar. Assim como fez com todos os outros revolucionários Negros, a amérika está a tentar linchar-me.
Eu sou uma revolucionária Negra, e por isso me responsabilizaram e acusaram de todos os supostos crimes nos quais se acredita que uma tal mulher tenha participado. Nos supostos crimes, nos quais se presume que apenas homens estariam envolvidos, fui acusada de os ter planeado. Eles pregaram fotos supostamente minhas em agências dos correios, aeroportos, hotéis, carros de polícia, metros, bancos, televisão e jornais. Ofereceram mais de 50 mil dólares de recompensa pela minha captura e deram ordens para atirar assim que me vissem e para matar.
Eu sou uma revolucionária Negra e, por definição, isso faz de mim uma integrante do Exército de Libertação Negra. Os polícias têm usado os seus jornais e televisões para pintar o Exército de Libertação Negra como um grupo de criminosos violentos brutais e insanos. Eles apelidaram-nos de gângsteres e de pistoleiros, e nos compararam a personagens como john dillinger e má Barker. Que fique claro, que fique bem claro para qualquer pessoa que pense, enxergue ou ouça, que nós é que somos as vítimas. Vítimas, e não criminosos.
A essa altura já deveria também estar claro para nós quem são os verdadeiros criminosos. Nixon e os seus parceiros de crime assassinaram centenas de irmãos e irmãs do Terceiro Mundo no Vietname, no Camboja, em Moçambique, em Angola e na África do Sul. Como ficou provado no caso de Watergate, os principais agentes da lei neste país são um bando de criminosos mentirosos. O presidente, dois procuradores-gerais. o chefe do fbi o chefe da cia e metade dos funcionários da casa branca foram todos implicados nos crimes do Watergate.
Eles apelidaram-nos de assassinos, mas não fomos nós que matámos mais de 250 homens, mulheres e crianças Negros desarmados, que ferimos outros milhares nos motins que eles provocaram nos anos 60. Os líderes deste país sempre consideraram as suas propriedades mais importantes que as nossas vidas. Eles apelidaram-nos de assassinos, mas não fomos nós os responsáveis pelos 28 irmãos reclusos e nove reféns assassinados em attica. Eles apelidaram-nos de assassinos, mas não fomos nós também que matámos e ferimos mais de 30 estudantes Negros e desarmados na Jackson State – ou na Southern State.
Eles apelidaram-nos de assassinos, mas não fomos nós que matámos Martin Luther King Jr., Emmet Till, Medgar Evers, Malcolm Max, George Jackson, Nat Turner, James Chaney w inúmeros outros. Não fomos nós que assassinámos pelas costas Rita Lloyd, de 16 anos de idade, Rickie Bodden, de 11 anos ou Clifford Glover, de 10. Eles apelidaram-nos de assassinos, mas não somos nós que controlamos ou impomos um sistema de racismo e opressão que mata sistematicamente pessoas Negras e do Terceiro Mundo. Embora os Negros supostamente representem cerca de 15% da população total amerikkkana, pelo menos 60% das vítimas de assassinato são Negras. Por cada porco que é morto supostamente cumprindo o seu dever, há pelo menos 50 Negros assassinados pela polícia.
A expectativa de vida dos negros é muito menor do que a dos brancos, e eles fazem de tudo para nos matar antes mesmo de nascermos. Somos queimados vivos em moradias precárias sem protecção contra incêndio. Os nossos irmãos e irmãs são acometidos diariamente por overdoses de heroína e metadona. Os nossos bebés morrem de intoxicação por chumbo. Milhões de Negros morrem em consequência de assistência médica indecente. Isto é assassinato. Mas eles têm o desplante de nos apelidarem de assassinos.
Eles chamam-nos sequestradores, mas foi o Irmão Clark Squire (que é acusado, juntamente comigo, de assassinar um polícia do Estado de Nova Jérsei) quem foi sequestrado a 2 de Abril de 1969 da nossa comunidade Negra, e mantido refém sob fiança de um milhão de dólares, no caso de conspiração dos 21 Panteras de Nova Iorque. Ele foi absolvido a 13 de Maio de 1971, com todos os outros, de 156 acusações de conspiração, por um júri que levou menos de duas horas para deliberar. O Irmão Squire era inocente. Mesmo assim foi sequestrado da sua comunidade e da sua família. Mais de dois anos da sua vida foram roubados, mas eles dizem que os sequestradores somos nós. Nós não sequestrámos os milhares de Irmãos e Irmãs mantidos em cativeiro nos campos de concentração da amérika. Noventa por cento da população carcerária deste país são Negros ou do Terceiro Mundo, pessoas que não têm como pagar fiança ou advogados.
Eles chamam-nos ladrões e bandidos. Eles dizem que roubamos. Mas não fomos nós que roubámos milhões de Negros do continente africano. Roubaram a nossa língua, os nossos Deuses, a nossa cultura, a nossa dignidade humana, o nosso trabalho, e as nossas vidas. Eles chamam-nos ladrões, mas não somos nós que desviamos mil milhões de dólares todos os anos, através de evasões fiscais, precificação ilegal, desfalques, fraudes contra os consumidores, subornos, comissões e trapaças. Eles chamam-nos bandidos, mas toda a vez que a maioria de nós Negros recebemos os nossos contracheques, nós é que estamos a ser roubados. De cada vez que entramos numa loja do nosso bairro estamos a ser assaltados. E toda vez que pagamos a nossa renda, o senhorio encosta uma arma às nossas costelas.
Eles chamam-nos ladrões, mas nós não roubamos e assassinámos milhões de índios tomando as suas terras, e depois nos autodenominámos pioneiros. Eles chamam-nos bandidos, mas não nós somos nós que roubamos os recursos naturais e a liberdade de África, da Ásia e da América Latina enquanto as pessoas que vivem lá estão doentes e a morrer de fome. Os governantes deste país e os seus lacaios cometeram alguns dos crimes mais brutais e cruéis da história. Os bandidos são eles. Os assassinos são eles. E têm que ser tratados como tal. Esses maníacos não estão aptos para me julgar, ao Clark, ou a qualquer outra pessoa Negra que esteja em julgamento na amérika. Os Negros têm que, e, inevitavelmente vamos determinar os nossos destinos.
Toda a revolução na história foi realizada através de acções, apesar de as palavras serem necessárias. Devemos criar escudos que nos protejam, e lanças que atravessem os nossos inimigos. Os Negros devem aprender a lutar lutando. Temos de aprender com os nossos erros.
Quero me desculpar com vocês, meus irmãos e irmãs Negros, por ter estado na rodovia new jersey turnpike. Eu não poderia ter cometido esse erro. Aquela rodovia é um lugar onde os Negros são parados, revistados, assediados e agredidos. Os revolucionários nunca devem estar apressados demais ao tomarem decisões descuidadas. Aquele que corre enquanto o sol dorme tropeçará muitas vezes.
Toda a vez que o Militante pela Liberdade Negra é assassinado ou capturado, os porcos tentam dar a impressão de que aniquilaram o movimento, destruíram as nossas forças, e acabaram com a Revolução Negra. Os porcos tentam também dar a impressão de que cinco ou 10 guerrilhas são responsáveis por toda a acção revolucionária conduzida na amérika. O que é uma tolice. Um absurdo. Revolucionários Negros não caem do céu. Somos gerados pelas nossas condições. Moldados pela nossa opressão. Estamos a ser fabricados em massa nas ruas do gueto, em lugares como attica, san quentin, bedford hills, leavenworth e sing sing. Eles estão a produzir milhares de nós. Muitos Negros veteranos de guerra desempregados e mães que dependem de políticas assistencialistas estão a engrossar as nossas fileiras. Irmãos e irmãs de todas as esferas da vida que estão cansados de sofrer passivamente compõem o Exército de Libertação Negra.
Há e sempre haverá, até que todo o homem, mulher e criança Negros sejam livres, um Exército de Libertação Negra. A principal função do Exército de Libertação Negra a essa altura é criar bons exemplos, lutar pela liberdade negra, e se preparar para o futuro. Temos que nos defender e não permitir que ninguém nos desrespeite. Temos de obter a nossa libertação por qualquer meio necessário.
É nosso dever lutar pela nossa liberdade.
É nosso dever vencer.
Devemos amarmo-nos e apoiarmo-nos uns aos outros.
Não temos nada a perder a não ser as nossas correntes.
Em honra de:
Ronald Carter; William Christmas; Mark Clark; Mark Essex; Frank “Heavy” Fields; Woodie Changa Olugbala Green; Fred Hampton; Lil’ Bobby Hutton; George Jackson; Jonathan Jackson; James McClain; Harold Russell; Zayd Malik Shakur; Anthony Kumu Olugbala White.
Devemos continuar a lutar.
General D: “Havia skinheads por todo o lado, para onde acham que foram? Estão nas polícias, nos hospitais, no Parlamento”
Perdemos-lhe o rasto durante 15 anos. De 1999, altura em que trabalhava no terceiro álbum, até 2014, momento em que reapareceu – primeiro nas páginas do Público, e depois no palco do Lisboa Mistura –, General D tornou-se um mito. Actualmente a residir no Reino Unido, o artista tem aprimorado talentos também fora dos palcos, nomeadamente como chef e criador da marca de alimentação Imella. Nesta entrevista, a dias do regresso aos palcos, seguimos uma rota que percorre os descaminhos da indústria da música, e os caminhos do combate político, da exclusão racial, da sustentabilidade económica e do Amor. Com a palavra, o pensamento e a prática de General D.
Quanto da História de Portugal se escreve sob o signo das atrocidades racistas que, à boa maneira dos blockbusters americanos, popularizaram os Ku Klux Klan, ou simplesmente KKK? Encontramos algumas respostas na discografia General D, que, em 1994, lançou “Portukkkal é um erro”. Três décadas depois o que mudou? O aclamado pai do hip-hop tuga responde, numa conversa que vos convido a ler.
General D, com a Medalha de Prata de Mérito Cultural, atribuída pela Câmara de Almada
Perdemos-lhe o rasto durante 15 anos. De 1999, altura em que trabalhava no terceiro álbum, até 2014, momento em que reapareceu – primeiro nas páginas do Público, e depois no palco do Lisboa Mistura –, General D tornou-se um mito.
O estatuto foi alimentado por toda a sorte de lendas sobre o seu desaparecimento – tão súbito quanto misterioso –, e por uma série de especulações a respeito do seu paradeiro.
Mas, se por cá o vazio deixado pelo aclamado ‘pai do hip-hop português’ se preenchia de ficções, lá fora o afastamento dos holofotes permitia ao músico abrir espaço para um renascimento.
A viagem de regresso a si próprio, conforme a descreve, passou por vários países e experiências profissionais até se direccionar de novo para os palcos, destino que promove este encontro com o Afrolink.
Aconteceu na passada sexta-feira, 12, no Brooklyn Lisboa, dia da celebração colectiva do nascimento de Amílcar Cabral, e, para mim, também de reforço de uma velha convicção: General D é dos melhores “soldados” que temos.
Nascido em Moçambique há quase 53 anos, Sérgio Matsinhe forjou a assinatura artística no círculo de maior proximidade: a ‘patente militar’ foi-lhe confiada por amigos, a partir das competências de liderança amplamente demonstradas, enquanto o D deve a sua proveniência a Dadinho, tratamento afectuoso que ainda hoje recebe dos mais chegados.
Actualmente a residir no Reino Unido, o artista tem aprimorado talentos também fora dos palcos, nomeadamente como chef e criador da marca de alimentação Imella.
Nesta entrevista, seguimos uma rota que percorre os descaminhos da indústria da música, do combate político, da inclusão racial, da sustentabilidade económica e do Amor. Com a palavra, o pensamento e a prática de General D.
Regressas aos palcos no próximo dia 20 de Setembro, com um concerto no ciclo “Sons do Património”, na cidade da Maia. Tens referido que, antes de mais, este é um regresso a ti próprio. De que forma?
É o regresso a mim, como se eu fosse um peixe num aquário que agora está a voltar para o mar. É assim que eu me sinto, e é super bom, principalmente porque volto para os palcos com uma nova bagagem cultural e histórica, e de noção da indústria e das pessoas. Tive a oportunidade de, com um maior distanciamento, perceber o que é isto do hip-hop, o que nós estávamos a fazer, o impacto que tinha na vida das pessoas. Então, volto com uma noção que não tinha. Porque naquela altura estávamos a ser todos empurrados pela onda, pelo destino, por Deus, ou pelo que for. Tínhamos de fazer o que tínhamos de fazer. E nunca pensei na forma como aquilo afectava o dia-a-dia das pessoas. Voltar com essa noção é uma forma mais consciente de estar no mesmo lugar.
Como é que essa consciência altera o que produzes, num contexto tão diferente, em que a indústria musical e as nossas relações ganharam novas dinâmicas, a partir do digital?
Altera muito, no sentido de que as coisas que me levaram a afastar são as que mais dificuldades criam aos artistas agora. Falo do poder que as indústrias e as editoras têm. Na altura, tinha uma luta muito grande com as editoras. Apesar de todo o desenvolvimento, acho que as correntes estão ainda mais apertadas. Hoje, as editoras têm poder sobre o Spotify, sobre os concertos, sobre tudo.
As correntes deixaram de ser de veludo, como dizia a Janet Jackson?
Exactamente. As correntes já não são de veludo, as correntes são reais. E, no outro dia, estava a ler um artigo em que se dizia que num milhão de streams, o artista ganha cerca de 4 mil euros. Depois tens esse valor dividido pela editora, pelo manager, pelo “taxman” [impostos], por isto, por aquilo. E poucos chegam a um milhão de streams. Tudo começa pelos artistas, mas os artistas não são muito beneficiados. Infelizmente não há uma grande protecção. A indústria não está aqui para proteger os artistas. Esse foi um dos motivos que me levou a afastar e a procurar meios administrativos, industriais, económicos, para criar ou tentar criar uma outra realidade, não só musical, mas também industrial ou business. Uma plataforma que melhor sirva os artistas, principalmente os artistas de reivindicação, que estão aqui com algo para dizer.
A Imella Records, label que tu criaste, é essa proposta?
Sim, ainda está no princípio, mas é a isso que se há-de propor. Por enquanto a Imella está muito focada na alimentação. Com o meu regresso aos palcos, a parte do entretenimento também pode ter um papel fundamental em ligar a alimentação, o bem-estar, a música, porque é tudo um conjunto, é tudo uma questão de vibração. E a vibração é psicológica, é espiritual, é física. E eu penso que aqueles que não gostam de nós, atacam-nos nessas formas todas, porque é necessário baixar a vibração colectiva das pessoas para depois poder oprimi-las. Usando uma linguagem mais actual, eu acho que é o que eles fazem é entrar dentro de nós e mudar a nossa password, como se fossem hackers. E quando mudam a nossa password, começam a postar coisas que não têm nada a ver connosco. É assim que nós vivemos agora, e estou a falar de forma colectiva porque eu também me incluo. Aceitamos comportamentos e formas de estar, e temos reacções em que a nossa vibração está muito lá em baixo. Por exemplo, existem pessoas a beber ou fumar até desmaiar que depois publicam isso como se fosse uma grande coisa. Apesar de ser um comportamento completamente tóxico, ao mesmo tempo é aceitável porque colectivamente fomos hackeados. É o estado em que estamos a vibrar, e é super importante trazermos a nossa vibração para cima, com a alimentação, os filmes que vemos, as culturas às quais estamos expostos, e até mesmo a roupa que vestimos – se é de algodão, se é sintética. Tudo tem vibração.
Em que fase da tua caminhada sentes que estás?
Estou a recuperar a minha password. Isso demora muito tempo. Estou a recuperar a minha password para depois poder começar a postar outras coisas. A fazer outras coisas. E a ser mais eficiente e mais efectivo na minha caminhada.
Foste alterando aspectos da tua vida a partir dessa consciência?
Por isso é que tenho essas duas formas de estar: na alimentação na música. A Imella representa a plataforma prática da alimentação, de como comermos, do self-love, a frase da marca. Depois, eu venho com a música, que é para a alma. Portanto, há o corpo, a alma e o espírito, e nós temos de funcionar como um só, temos que abarcar os três.
Além dos palcos, o músico desenvolve a marca Imella, para já focada na alimentação
Como é que se preserva a alma da música, das criações artísticas, num território capitalista, em que tudo é reduzido a produto?
Há muitos passos a serem dados nesse sentido, mas acho que o principal é nós estabelecermos uma comunicação directa entre as pessoas e os músicos e os artistas.
Porque houve desde sempre os gatekeepers [‘donos’ dos acessos] – editoras e promotores – que encaminham a nossa mensagem e a nossa música para o público, e que têm uma forma de escolher o tipo de mensagem. Isso depois vai condicionar a vibração, ou a que nível é que as pessoas vão vibrar. Havendo agora outros instrumentos, como as redes sociais, temos que fazer proveito deles, e chegar ao público directamente.
Isso não está já a acontecer?
Não, porque o que temos são novos labels daquilo que já existia, muito mais opressivos, mas dando-nos a ilusão de que realmente existe mais liberdade. Nós não temos necessariamente que pôr a nossa música, por exemplo, no Spotify ou em todas as plataformas. Há umas pens agora, que os artistas têm, e o disco físico também está a voltar.
Mas o disco físico está a voltar para um mercado de coleccionadores, mais exclusivo.
Sim, mas nem sempre. O que acontece também é que nessa onda mais coleccionadora os preços são mais altos. E interessa dar aos artistas viabilidade económica. Tudo anda à volta disso. As editoras, os patrocinadores, têm os artistas porque dão essa viabilidade económica. Repara que muitos rappers, desde os anos 90 e até antes, era pessoal do gueto, pessoal que estava nas prisões, ou que, como eu, vivia em situação precária, económica e social. E, com a editora, aparece alguém que diz: ‘Nós podemos resolver partes da tua vida’”. Então, a gente aceita isso tudo, em nome da viabilidade económica. O que nós temos que fazer é criar outra viabilidade económica, que realmente seja justa, que crie justiça e que crie um acesso, que as pessoas tenham um acesso directo à nossa área. Porque uma revolução sem o entendimento da viabilidade económica é apenas um sonho. Nós temos que avançar, e não há outra forma de vencermos se não criarmos serviços e produtos e estruturas para distribuir esses produtos e serviços. Porque é através desses produtos e serviços que criamos emprego. As pessoas detestam quando eu digo isto, mas não vale a pena ir a uma marcha e uma manifestação às três da tarde para às cinco entrar no McDonald's, e na segunda-feira seguinte encaminharmo-nos todos para servir instituições que, muitas delas, estão contra as causas que defendemos, e a apoiar financeiramente o que estamos a combater.
Enquanto não temos uma alternativa, como escapar a essa lógica dos gatekeepers?
Há tanto a fazer, há um mundo por fazer! Nós temos séculos de trabalho pela frente para nos reconstruirmos, para cuidarmos de nós, no campo da alimentação, no campo da saúde. Há tantas coisas que temos que fazer por nós! A questão é que aqueles que não gostam de nós conhecem bem os nossos passos, como é que a gente faz a coisas, e sabem como invalidar essa nossa caminhada. Por isso, temos de aparecer com uma forma diferente de estar, e com as nossas estruturas. Mas, infelizmente, eu vejo que gastamos grande parte do nosso tempo e da nossa energia a tentar mudar a pessoa que não gosta de nós. Eu tive que mudar também nesse sentido, e hoje não sinto a necessidade de modificar o pensamento de uma pessoa que é racista. Porque eu tenho que proteger as pessoas que estão do meu lado e proteger-me a mim próprio. Porque se uma cobra me morde, eu não vou correr atrás dela a perguntar: cobra, porque é que me mordeste? Eu não vou querer mudar a cobra. Se ela me morder, tenho que ir para o hospital, tenho de cuidar de mim, do veneno que está dentro [do meu corpo]. Eu não vou passar a minha vida a tentar modificar a pessoa que não gosta de mim. Quem não gosta de mim não é bem-vindo. Eu não sinto falta de quem sabe como me encontrar e não vem ter comigo.
Devemos, então, dirigir o foco para o que conseguimos fazer, em vez de dar tanta atenção à cobra. É daí que vem a crença na força do colectivo, que já expressaste noutras ocasiões? Manténs essa confiança, tendo em conta a energia em que estamos a vibrar, que na tua opinião é muito baixa?
Há uns parênteses que temos que pôr aí, e que eu aprendi a colocar: como dizia o Nipsey Hussle, “Everybody can’t go”. Ou seja, nem todos podem ir. É difícil, mas não temos que trazer toda a gente. Eu procuro juntar-me aos leões e às leoas e fazer esta construção com eles. Não perco mais tempo com cordeiros que, um dia, quando estiverem prontos, hão-de vir. Se não vierem, tudo bem. Nós somos mais de 8 mil milhões de pessoas neste mundo. Se fores ao teu telefone, se calhar tens 1.000 contactos, mas com quantas pessoas realmente contactas? Nos últimos seis meses, quantas dessas mil pessoas entraram na tua vida? Então, há muita gente à volta que não tem grande impacto na tua vida. Não são essas pessoas que fazem com que tu trabalhes, pagues as contas, estejas feliz, sorrias. Como não podemos contar com o colectivo todo, devemos juntarmo-nos com um grupo de pessoas com uma mente parecida. Não vamos concordar em tudo, mas temos de estar alinhados. É muito importante que sejam pessoas que vibrem mais ou menos ao mesmo nível, que vibrem ao mesmo tempo, e que possamos discutir e construir a partir daí. Mas, não vale a pena estar a tentar integrar no mesmo caminho, na mesma marcha, uma pessoa com uma vibração aqui e outra com a vibração ali, porque a coisa é três passos para trás, três passos para a frente. E eu já vi esta Black Revolution [Revolução Negra] há uns anos.
Achas que não houve um upgrade?
Não houve. O que estou a ver agora, já vi há 20 anos, já fiz parte disso há 30 anos, o que houve foi a mudança dos personagens, digamos assim. E depois houve outra coisa que é preciso reconhecer: há mais gente, mas é mais gente a andar em círculos. Esse é o problema. Nós andamos em círculos, não estamos a fazer grandes avanços. Enquanto não controlarmos, não tivermos uma maior influência nos meios principais, seja alimentação, comunicação, emprego, escolaridade, saúde, não estamos a avançar.
Ainda assim, há caminhos que têm sido desbravados. Tu és um pioneiro do nosso hip-hop, percurso recentemente distinguido com a Medalha de Prata de Mérito Cultural da Câmara Municipal da Almada. Surpreendeu-te?
Sim, no sentido de que não estava à espera, porque a minha realidade cotidiana não é aqui. Estou lá fora [Reino Unido] e muitas vezes eu esqueço-me do que está a acontecer aqui. Mas é bom, e eu sinto-me orgulhoso de saber que o trabalho que se fez, as coisas que eu fiz e as palavras ainda têm uma certa relevância. É super importante.
Considerando o contexto que estamos a viver, de ascensão e normalização da extrema-direita, e o conteúdo reconhecidamente interventivo da tua música, a distinção municipal, em ano de autárquicas, é indissociável de uma leitura político-partidária.
Sem dúvida. Mas isso são coisas que eu vejo desde sempre. Naquela altura, eu já percebia isso, como as forças políticas usam os artistas, como usam as pessoas. Mas – outra vez – porquê que isso acontece? Porque somos elementos isolados.
Precisaríamos de estar organizados, numa Motown Records, por exemplo.
Precisamos de estrutura. Não só de uma Motown, mas em todas as áreas: económica, política e religiosa ou espiritual, no sentido que tenha a ver com a alma e o sistema de crenças. Porque sempre tivemos um sistema de crenças que nos foi hackeado.
Embora ainda estejamos longe da mudança necessária, hoje há mais artistas negros, e mais plataformas para essa estruturação.
Isso não significa nada. Basta ver os Estados Unidos. Quem domina a cultura são os negros, mas isso não quer dizer que tenham um poder significativo. No fundo, as coisas não mudaram, e há pessoas que até dizem que há cento e tal anos estávamos melhor. Porque o que o sistema faz é criar elites dentro da comunidade. Depois, infelizmente, essas elites têm uma tendência a se juntar com o poder, e a esquecer um bocadinho a razão pela qual começaram a lutar, a fazer o que fazem. E a mensagem começa a ficar cada vez mais diluída. Em França é a mesma coisa. Lá os negros também têm uma força e expressão cultural. Mas todas as expressões culturais são dominadas pelo outro lado. Quem controla a cultura negra não são negros. Então, que poder temos? Enquanto não tivermos a capacidade de criar emprego, uma sustentabilidade económica para alimentar as nossas ambições, a nossa revolução, não teremos nenhum poder.
Mas a revolução está em curso.
Está em curso, mas anda às voltas, anda em círculos.
Há pouco falávamos sobre política e tu, a determinada altura, estiveste nesse território, com o partido Política XXI. Recentemente, numa entrevista, disseste que essa experiência fez-te perceber que a luta da nossa comunidade negra não é por aí. É por onde, então?
Não é por aí. Se formos pela política, temos que criar um partido que tenha origem nas sensibilidades africanas, e nas sensibilidades negras. Não vale a pena seres uma negra ou um negro no PS e achares que vais mudar a realidade da comunidade negra. Porque, em primeiro lugar, tens que servir a agenda do partido que estás a representar. Mas, se é por aí, se é pela política, temos de ter o nosso próprio partido. Assim como os ecologistas têm o partido Os Verdes, e a agenda deles é o ambiente.
Precisamos de um Black Panther?
Sim, um Black Panther. Ou, se não for um Black Panther, precisamos, sem dúvida, de uma força política com origem nas nossas comunidades, e que seja independente. E para ser independente é preciso sustentabilidade económica. Porque todos os partidos políticos são suportados, alimentados, pelos grupos económicos.
Estarias disponível para uma luta dessa natureza, ou seja, havendo um partido com essas características que estás aqui a enumerar, que venha dos nossos contextos, com o nosso pensamento e as nossas propostas?
Sim. Se é o que nós precisamos. Mas enquanto não estivermos prontos a discutir dinheiro, eu não entro na conversa. É tão simples quanto isso.
Essa não é, de certa forma, uma cedência à agenda capitalista?
De onde vem essa palavra: capitalista? Essa não é a nossa maka [problema]. Andamos preocupados com coisas que não são nossas. Porque capitalismo, socialismo, não somos nós. Não tem nada a ver connosco e nós temos que nos preocupar connosco. O grande problema que temos é que nós servimos as agendas todas. Queremos ir apagar os fogos em todo o lado, enquanto vemos o fogo na nossa casa. Eu não respondo ao capitalismo. Eu não quero saber do PS, do PSD, do CDS, do Chega. Eu não perco tempo a falar de nada disso. Não é a minha maka. Não é meu.
Então, o que é que defines como teu para termos esta conversa?
O meu é a Dona Joana ali da barraca, és tu...é a possibilidade de nos juntarmos, de começarmos a falar. Porque quando temos cérebros e valores super importantes para nós, mas depois o diálogo começa a ficar corrosivo porque uns são do PS, outros são do PSD, outros são disto, outros são daquilo, a conversa passa a ser à volta de coisas que não têm nada a ver connosco. Então, em vez de começarmos a discutir coisas nossas, estamos a arrastar-nos a partir de partidarismos. Mas não só. Será que realmente importa estarmos a discutir quem é do Islão ou quem é do Cristianismo? Se calhar, neste momento nós temos é que ver quem está a vibrar ao mesmo nível, ou parecido. Nós temos que nos preocupar com as coisas que realmente importam, e que nos possam fazer saltar para uma outra realidade económica e social. A partir daí podemos crescer, combater o sistema taco-a-taco. A justiça não vai acontecer só porque é justo.
De outro modo, já teria acontecido.
Exactamente. A justiça obtém-se na luta – e eu não apelo nesse sentido – ou na negociação. Nós temos que negociar a justiça. Mas só conseguimos negociar a justiça se estivermos apetrechados, se tivermos um poder colectivo. E o engraçado é que todas as outras comunidades têm. Os chineses têm, os indianos e os paquistaneses também.
O que nos bloqueia?
O nosso desejo é a integração. O desejo deles não é integração, é o respeito dentro das diferenças. Nós não. Havia aquela frase, lembras-te? “Todos diferentes, todos iguais”. Essa é a nossa mentalidade de sempre.
Entendes que essa busca de integração é uma especificidade da África dita lusófona?
Eu acho que em França sofrem da mesma questão, pela forma como a colonização foi feita. Em Angola, por exemplo, tinhas um bilhete de identidade diferente consoante o teu tom de pele, e em Moçambique era a mesma coisa. Houve a necessidade, para dominar o povo, de criar diferentes categorias de pessoas, e fazer corresponder diferentes tipos de privilégios a diferentes categorias. São coisas que ficaram até hoje, mesmo que no subconsciente. Porque não foi só colonizar a terra, foi colonizar a mente.
E nesse processo encontra-se, muitas vezes, a vontade de caber num padrão que não é o nosso. Recordo-me perfeitamente que quando tu apareceste todo o teu visual, a tua estética, eram profundamente disruptivos para o nosso contexto e comunidade. Com foi assumir a tua pele perante olhares de estranheza, rejeição e condenação?
Foi super difícil mas, ao mesmo tempo, quando tu estás no balanço, há coisas que nem vês, não dás muito valor ao que estão ou não a dizer. Tu sabes que tens alguma coisa e um percurso a fazer.
Achas que há uma orientação que é maior do que tudo?
Ah, sim, sem dúvida. Há coisas maiores. Toda a minha família, irmãos, estávamos todos sujeitos à mesma realidade cultural, estávamos na mesma situação, mas nenhum deles teve essa irrupção. Tem a ver com outro tipo de chamadas, que não conseguimos definir aqui, nem eu consigo explicar. Mas agora, olhando para trás, para passar por tudo e continuar a lutar, penso que tens mesmo que estar rodeado por outro tipo de coisas que não entendemos.
Recuando justamente aos primeiros tempos, quando inicias os Black Company há, para além da motivação musical, o propósito de fazer face aos skinheads, que se multiplicavam. Hoje, mais de 30 anos depois, estamos a lidar com uma renovação das forças que ameaçam a nossa existência. O que é que aconteceu?
É o que eu pergunto sempre às pessoas. Ok, naquela altura, havia skinheads por todo o lado, centenas e centenas, milhares. E eu pergunto: para onde é que vocês acham que essa gente foi? Será que acham que essa gente mudou de mentalidade, que mudou de ideologia? Não. Essa gente está nas polícias, nos hospitais, no Parlamento, nos cafés...está em todo o lado. E está a usar os poderes que tem, ou os minipoderes que tem, para influenciar negativamente a vida dos negros. Mas desta vez não têm que sujar as mãos. Não é preciso atirar pretos ao rio para prejudicar a nossa vida. Tem-se falado muito, por exemplo, de como as mulheres negras têm uma percentagem muito mais elevada de mortes ou de problemas graves no parto. Isto porque as coisas não mudaram assim tanto. E hoje a capacidade de nos influenciar negativamente de forma colectiva é estrondosa. Por isso eu repito: temos de estar à frente desses lugares, temos que dominar todos os diferentes campos.
E achas que vale a pena ir para o sistema e tentar influenciá-lo? Ou consideras que a mudança só se pode fazer de fora, forçando o sistema?
Só se pode fazer a mudança fora do sistema. Neste aspecto, não temos que inventar a roda, os exemplos de outras comunidades estão aí. Os judeus não pedem dinheiro ao banco, os chineses raramente pedem dinheiro, os indianos raramente procuram emprego nuns CTT. Eles têm as suas próprias estruturas e, muitos deles, têm a sua própria medicação, a sua própria maneira de manter o corpo são. Os exemplos estão aí.
A mudança exige, antes de mais, compromisso.
Sim, mas é muito raro encontrar pessoas que realmente querem ter esse compromisso, porque nós estamos muito habituados ao conforto dos sistemas do nosso opressor. E ninguém quer abdicar desse conforto, desse sistema, desse belief system [sistema de crenças].
Talvez porque por pior que seja, é um mal que já conhecemos, com o qual estamos habituados a lidar.
E quando tu pões isso em causa, como eu pus, a tua vida toda “crumble” [desmorona]. Porque toda a tua existência gira à volta dessas crenças. Quando tu pões isso em questão, a tua vida transforma-se em pó, até criares uma nova. É uma estrada muito dolorosa. A maior parte das pessoas não quer ir por aí. As pessoas preferem, ou pensam que mais vale entrar no sistema. Querem ser aceites dentro do sistema, e depois vemos o que isso faz. Porque uma coisa é que quereres liberdade, outra coisa é quereres mudar as condições de vida dentro da prisão. E muitos de nós queremos estar na prisão, só que com melhores condições. Talvez com uma televisão, sofá, mais visitas, mas, ainda assim, queremos estar na prisão. Não queremos liberdade, porque liberdade é responsabilidade. A liberdade é dura, e, para muita gente, às vezes a prisão é mais fácil. Por isso é que “everybody can’t go”. Nem todos podem ir, porque é um compromisso muito complicado.
Tu falaste da vida que se desfez. Estás a renascer das cinzas?
Sem dúvida. Absolutamente. Sim. E ao renascer das cinzas, há coisas que não dá para explicar, não dá para falar. Há forças que movem e que fazem coisas acontecer. E eu acredito muito no universo. Eu acho que o universo junta-te com pessoas.
Mas é um processo muito solitário.
Super solitário. E isso é outra coisa que tens de abraçar: a solidão.
E como se abraça a solidão quando estás em processos de dor, quando te estás a desfazer, quando parece muito mais fácil fugir desse lugar?
Sabes, a semente adora solidão, adora o escuro. Ela brota no escuro. Então, às vezes, é necessário.
Dizes que a tua luta sempre foi e continua a ser pela dignidade do homem e da mulher negros. É muito mais desafiante, hoje, lutar por essa dignidade, com a consciência que tu tens, considerando que há um romantismo que se perde no caminho? Considerando até essa ideia de que não dá para fazer colectivo com todos?
Não, porque hoje eu posso melhor, no sentido de ser mais eficiente, porque, número um, eu apostei muito e continuo a apostar em edificar estruturas. Número dois, eu não estou dependente das estruturas estatais, ou que pertencem ao poder. Eu não preciso de uma editora. Mesmo os concertos, eu adoro, mas se não os tiver, eu consigo pagar as minhas contas, porque tenho uma vida paralela. Então eu posso estar nesta vida, nesta luta, de uma posição completamente diferente. Portanto, respondendo à tua pergunta, eu não ponho as coisas em termos de ser mais difícil ou não, porque é sempre difícil. A luta é sempre difícil. Há 100 anos, ias à guerra, e a guerra continua a ser guerra. Só que se antes ias com os punhos, hoje se calhar tens um armamento diferente. Se calhar a diferença é essa. E eu apostei muito, e continuo a apostar em estruturar as coisas.
Nesse processo de dignificação das nossas vidas, cantaste uma poderosa declaração de amor às mulheres negras, com o tema “Black Magic Woman”. Três décadas depois do sucesso, é-me difícil observar esse amor à mulher negra aqui em Portugal. Consegues ver esse amor?
Como eu não vivo a realidade portuguesa do dia-a-dia, vou falar em termos gerais. E, em termos gerais, o que eu acho é que a relação entre o homem negro e a mulher negra é afectada pelo ataque à família negra. Porque a família negra sempre esteve sob ataque, é o maior inimigo de quem não gosta de nós. Atacando a família negra, é a forma mais fácil de nos controlarem. E o que me levou a esse tema foi realmente o amor que tinha e tenho pela mulher negra como instituição. E eu sei o quão essa instituição é usada pelos nossos inimigos, e de forma às vezes, inconsciente, muitas das nossas irmãs, servem o nosso inimigo. Porque esse nosso inimigo tem consciência do poder que a instituição mulher tem no desenvolvimento da família, no estabelecimento de toda a família, de toda a cena negra. Passa tudo pela mulher. E se eles tiverem o controle da mulher, eles controlam a nação. E agora as mulheres têm realmente que reparar se estão a ser controladas ou não. Outra vez, isto é uma coisa super difícil de seguir. Por isso é importante deixar cada pessoa no seu próprio processo.
A certeza da Revelação de Marco Mendonça, na arte de afirmar e celebrar pertença
O actor e encenador Marco Mendonça conquistou a 6.ª edição do Prémio Revelação Ageas Teatro Nacional D. Maria II, distinção anual “que pretende reconhecer e promover talentos emergentes no panorama teatral, motivando o arranque e desenvolvimento de percursos profissionais de sucesso neste sector”. O anúncio do vencedor aconteceu na última sexta-feira, 12 de Setembro, e leva-nos a recuperar dois dos trabalhos com a sua assinatura que o Afrolink acompanhou e divulgou: “Blackface” e “Reparations Baby!”
O actor e encenador Marco Mendonça conquistou a 6.ª edição do Prémio Revelação Ageas Teatro Nacional D. Maria II, distinção anual “que pretende reconhecer e promover talentos emergentes no panorama teatral, motivando o arranque e desenvolvimento de percursos profissionais de sucesso neste sector”. O anúncio do vencedor aconteceu na última sexta-feira, 12 de Setembro, e leva-nos a recuperar dois dos trabalhos com a sua assinatura que o Afrolink acompanhou e divulgou: “Blackface” e “Reparations Baby!”
Marco Mendonça, em Blackface, com fotografia de Diana Tinoco
Antes de lhe darmos a ler – ou reler – os artigos aqui publicados sobre as criações de Marco Mendonça, partilhamos algumas notas curriculares e biográficas.
Nascido em Moçambique em 1995, o actor, dramaturgo e encenador revelou desde cedo a sua veia artística. Em Portugal desde o início da adolescência, licenciou-se na Escola Superior de Teatro e Cinema, em 2015, altura em que iniciou um estágio de um ano no Teatro Nacional D. Maria II.
Co-autor do “Parlamento Elefante”, projecto vencedor, em 2019, da Bolsa Amélia Rey Colaço, também co-criou “Cordyceps”, peça apoiada pela Rede 5 Sentidos, em 2021.
Dois anos depois apresentou a sua primeira criação a solo, “Blackface”, a que se seguiu, já neste ano, “Reparations Baby!”.
Marco Mendonça integra ainda o elenco de “Catarina e a beleza de matar fascistas”, de Tiago Rodrigues, além de somar papéis em cinema e televisão, com vários criadores nacionais.
Com Prémio Revelação Ageas Teatro Nacional D. Maria II, que tem o valor pecuniária de 5 mil euros, Marco vê reconhecida a “qualidade da sua prestação artística no ano a que se refere o prémio; o contributo da sua prestação artística para o desenvolvimento e fortalecimento da área teatral; a capacidade de crescimento e valorização da sua carreira, nacional e internacionalmente; e a introdução de elementos de inovação ou diferenciação na sua prática profissional”.
Saiba mais sobre as suas criações, lendo ou relendo o que publicámos aquando da estreia de Blackface e Reparations Baby!
“Reparations Baby!” – o concurso-revolução para descolonizar a nossa TV
Humor de ressignificação: o “Blackface” que confronta a prática racista
Leitão Amaro (des)faz contas à imigração: “Não sou socialista nem comunista, portanto não sou planificador”
A conversa já lá vai – aconteceu no final de Junho, nos Jardins do Bombarda, em Lisboa –, mas o desgoverno a que estamos entregues mantém-na dramaticamente actual. Trago-a agora para este espaço, cerca de 10 dias depois de o Tribunal Constitucional (TC) ter chumbado as alterações à lei de estrangeiros propostas pelo Executivo, e aprovadas no Parlamento com votos do PSD e Chega, adornados pela abstenção da IL. O travão de inconstitucionalidade imposto à via anti-imigração trilhada pelo Governo arrepiou caminho para o veto presidencial e devolução do diploma à Assembleia da República, mas, garante o ministro da Presidência, mantém firme o destino nacional de endurecimento de fronteiras. “A política de portas escancaradas do passado foi uma enorme irresponsabilidade. Isso implica que, neste último ano, agora e para o futuro, precisemos tomar mais medidas”, insiste António Leitão Amaro, aqui citado pelo jornal Público, em declarações proferidas antes do anúncio dos juízes do TC, e reforçadas já depois disso. Mas, voltemos à conversa de final de Junho, da qual se extrai o título deste texto, e à qual regresso já depois de noutras frentes – nomeadamente de alteração às leis laborais, e de intervenção na prevenção e combate aos incêndios –, o Governo evidenciar a mesma impreparação demonstrada na abordagem à imigração. Incapaz de explicar que dados sustentam a narrativa de uma velha política nacional de “portas escancaradas”, e que projecções levam o Executivo a desacreditar estudos que fazem depender o crescimento económico do país dos fluxos migratórios, Leitão Amaro barricou-se num argumento que ajuda a perceber a série de argoladas governativas que continuamos a testemunhar: “Não sou socialista, nem comunista, portanto não sou planificador”. Assumido devoto da “beleza da economia descentralizada”, o ministro partilhou estas palavras no encontro de encerramento do “Migrant Media Project”, projecto para a inclusão de jornalistas migrantes da Associação Pão a Pão, desenvolvido em parceria com o jornal Expresso, e apoiado pela Fundação Calouste Gulbenkian. O Afrolink acompanhou o programa e registou as principais linhas com que se cose a nossa desgovernação.
A conversa já lá vai – aconteceu no final de Junho, nos Jardins do Bombarda, em Lisboa –, mas o desgoverno a que estamos entregues mantém-na dramaticamente actual. Trago-a agora para este espaço, cerca de 10 dias depois de o Tribunal Constitucional (TC) ter chumbado as alterações à lei de estrangeiros propostas pelo Executivo, e aprovadas no Parlamento com votos do PSD e Chega, adornados pela abstenção da IL. O travão de inconstitucionalidade imposto à via anti-imigração trilhada pelo Governo arrepiou caminho para o veto presidencial e devolução do diploma à Assembleia da República, mas, garante o ministro da Presidência, mantém firme o destino nacional de endurecimento de fronteiras. “A política de portas escancaradas do passado foi uma enorme irresponsabilidade. Isso implica que, neste último ano, agora e para o futuro, precisemos tomar mais medidas”, insiste António Leitão Amaro, aqui citado pelo jornal Público, em declarações proferidas antes do anúncio dos juízes do TC. Mas, voltemos à conversa de final de Junho, da qual se extrai o título deste texto, e à qual regresso depois de noutras frentes – nomeadamente de alteração às leis laborais, e de intervenção na prevenção e combate aos incêndios –, o Governo evidenciar a mesma impreparação demonstrada na abordagem à imigração. Incapaz de explicar que dados sustentam a narrativa de uma velha política nacional de “portas escancaradas”, e que projecções levam o Executivo a desacreditar estudos que fazem depender o crescimento económico do país dos fluxos migratórios, Leitão Amaro barricou-se num argumento que ajuda a perceber a série de argoladas governativas que continuamos a testemunhar: “Não sou socialista, nem comunista, portanto não sou planificador”. Assumido devoto da “beleza da economia descentralizada”, o ministro partilhou estas palavras no encontro de encerramento do “Migrant Media Project”, projecto para a inclusão de jornalistas migrantes da Associação Pão a Pão, desenvolvido em parceria com o jornal Expresso, e apoiado pela Fundação Calouste Gulbenkian. O Afrolink acompanhou o programa e registou as principais linhas com que se cose a nossa desgovernação.
Da esquerda: moderadores Juliana Iorio e David Dinis, ministro da Presidência, António Leitão Amaro, presidente da Casa do Brasil de Lisboa, Ana Paula Costa e Farid Patwary, jornalista do Bangladesh
O que têm em comum as notícias falsas disseminadas amiúde pelo Chega com as projecções do Eurostat, um estudo da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, e as estimativas das confederações patronais? Para o Governo todas parecem caber no mesmo saco, não apenas suspeito, mas automaticamente descartável.
“Sempre desconfiámos de previsões de necessidades de vindas [de trabalhadores estrangeiros], seja daqueles que do lado das empresas diziam que eram 100 mil para isto, 30 mil para aquilo; e ainda mais daqueles que diziam que do agrupamento familiar vinham 500.000 pessoas. Sempre desconfiámos e discordámos de muitas dessas afirmações”
As palavras, disponíveis online, são do ministro da Presidência, António Leitão Amaro, e ouvem-se na conferência de imprensa do passado dia 23 de Junho, marcada pelo anúncio de alterações às leis da nacionalidade e de estrangeiros.
No final dessa mesma semana, o governante participou no painel “O impacto da política da Imigração”, inserido no encontro de encerramento do “Migrant Media Project”, projecto para a inclusão de jornalistas migrantes da Associação Pão a Pão, desenvolvido em parceria com o jornal Expresso, e apoiado pela Fundação Calouste Gulbenkian.
O Afrolink acompanhou a discussão – ocorrida na tarde de 27 de Junho nos Jardins do Bombarda, em Lisboa –, e questionou o ministro sobre as desconfianças que apresentou nessa conferência de imprensa, quando questionou a importância dos fluxos migratórios para a economia nacional. Por outro lado, quisemos saber porque é que o Governo insiste na ideia de que Portugal seguia uma política de imigração “de portas escancaradas”.
Comecemos pelos números. Leitão Amaro reafirmou a desconfiança em relação às previsões sobre a necessidade de mão-de-obra estrangeira que têm sido avançadas por várias confederações patronais. Acrescentei que há vários estudos que apontam no mesmo sentido, incluindo da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, e também europeus.
Neste caso, referia-me em concreto a uma análise produzida a partir de dados do Eurostat, e publicada pelo jornal The Guardian, alertando para o efeito das políticas anti-imigração que mobilizam cada vez mais votos para a extrema-direita nos países europeus.
Mais do que a perda acentuada de população – em que os saldos naturais negativos (mais mortes do que nascimentos) deixarão de ser compensados pelos saldos populacionais (que incluem fluxos migratórios) –, as projecções, apontadas para 2100, antecipam a perda de capacidade produtiva, e o aumento das despesas com pensões e cuidados a idosos.
O impacto demográfico em Portugal, onde 22% dos bebés nascidos em 2023, eram de mães estrangeiras, seria assinável: ao ritmo actual, daqui a 75 anos a população portuguesa rondará os 9 milhões, número que se fica pelos 5,7 milhões sem imigrantes. Ou seja, estima-se que o país perderá quase 37% de cidadãos.
A publicação conclui que uma Europa sem imigração é uma Europa condenada à própria destruição.
Na mesma linha, a Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP) indica que o país precisa de 138 mil imigrantes por ano para crescer 3%. Afastando a ideia de que "os imigrantes empurram os nacionais para fora do mercado de trabalho", a FEP nota que só com a sua força Portugal pode ambicionar entrar, até 2033, no grupo “dos mais ricos”, da União Europeia.
Os dados reunidos no estudo Migrações e Direitos Humanos, da UGT, são igualmente peremptórios. “Num contexto de baixa natalidade e envelhecimento da população, Portugal vai inevitavelmente precisar de 50 mil a 100 mil trabalhadores regularmente ao longo do tempo”, adiantou o coordenador Jorge Malheiros, em declarações à rádio Renascença.
“A beleza da economia descentralizada”
Mas, por mais diversas e sustentadas que sejam as análises apresentadas, António Leitão Amaro insiste em esvaziá-las de importância.
“Permita-me ser céptico”, respondeu ao Afrolink, depois da nossa referência à existência de vários estudos, que vão muito além dos cadernos de encargos do patronato. “Como decisor público, olho para o mercado, olho para as reações dos agentes, e pergunto: se precisam assim tanto de mais trabalhadores, porquê que não pagam mais para atrair mais trabalhadores, nacionais e estrangeiros, e lhes dar mais condições, para não terem que viver numa casa acumulados, em que não têm sequer direito a um quarto. Têm uma fracção de cinco horas durante uma noite para estarem um bocadinho encostados, e depois têm que sair para dar lugar ao outro”.
Crente “na beleza da economia descentralizada”, o ministro da Presidência rematou: “Se houvesse essa necessidade, a economia pagaria esses salários, sobretudo quando nós temos esta lógica de concertação na entrada e com a responsabilização de quem recruta”.
À falta de uma resposta clara, insistimos: se o Governo rejeita todos os números que têm sido avançados, em que projecções assentam as políticas restritivas que tem apresentado, e a ideia de portas escancaradas?
“Eu não faço projecções”, apressou-se a atirar Leitão Amaro, personalizando a resposta. “Eu, reconhecidamente, não sou socialista, nem sou comunista, portanto não sou planificador, não me sinto capaz de fazer um cálculo da alocação do número de recursos, sejam humanos, de capital, de material a cada sector. Acredito na beleza da economia descentralizada que, de forma cooperativa, de forma social ou de forma privada, num mercado em concorrência ou em cooperação, identifica as suas necessidades e vai provê-las por uma cobertura e um jogo concorrencial ou de cooperação entre agentes, entre a procura e a oferta. Portanto, eu nunca vou fazer uma previsão destas”.
Redireccionando o foco para as responsabilidades do Executivo, e não para a fé do ministro da Presidência, prosseguimos com mais uma tentativa de compreender as escolhas governamentais. Afinal, conforme tivemos a oportunidade de sublinhar: esperaríamos que o Governo fizesse todos os levantamentos e mais alguns antes de apresentar as suas políticas.
“Eu percebo, mas nós temos uma ideia diferente sobre a organização da economia. Eu não acho que tenha que fazer. Eu não vou fazer uma planificação”, reiterou Leitão Amaro.
Aqui chegados, pergunto: quão diferente é o actual exercício de governação de um jogo de adivinhação baseado em percepções?
Cartas Aos Que FicaraM, por Telma Tvon
Escritora e rapper, Telma Tvon escreve para o Afrolink sobre a violenta repressão do Governo do MPLA aos protestos e greves dos taxistas que desde meados de Julho contestam, no país, a subida dos preços dos combustíveis. Com um balanço provisório de 30 mortos e 1.515 detidos, a situação inspirou a escritora a publicar três cartas, cruzando os olhares de três figuras ímpares da História angolana: Mário Pinto de Andrade, Viriato da Cruz e Deolinda Rodrigues.
Escritora e rapper, Telma Tvon escreve para o Afrolink sobre a violenta repressão do Governo do MPLA aos protestos e greves dos taxistas que desde meados de Julho contestam, no país, a subida dos preços dos combustíveis. Com um balanço provisório de 30 mortos e 1.515 detidos, a situação inspirou a escritora a publicar três cartas, cruzando os olhares de três figuras ímpares da História angolana: Mário Pinto de Andrade, Viriato da Cruz e Deolinda Rodrigues.
Telma Tvon
Texto de Telma Tvon
Não, eu não vos escrevo do além. Eu escrevo a partir do interior de cada angolana, de cada angolano, que tanto sente que já nada consegue desabafar no papel. E yah, filho continua a chorar, Mamã não enlouqueceu, morreu mesmo e desta vez nem foram para São Tomé. Jazem aqui mesmo, na Terra que os viu nascer. A Mãe fenece fisicamente por aqui e o Filho por sua vez enlouquece e fenece mentalmente, também por aqui. Destruídos pelas autoridades que era suposto protegê-los.
Não, eu não vos escrevo com piedade e compreensão porque raros não são os momentos em que me pergunto se vocês conhecem esses sentimentos. Se vocês sequer possuem o dom de ter sentimentos. Eu escrevo-vos, pois, observando o pó de estrela que todos os meus são. Hoje nada brilha. Hoje tudo é incerteza, choro e convulsões.
Não, eu não vos escrevo rogando que se transformem. Esse tempo expirou. Eu agora escrevo-vos na urgência de quem vê também para os outros o tempo expirar porque careço conspirar a vossa saída. Eu não vos teorizei assim. Eu não vos idealizei assim. Eu escrevo cansado, tentando encontrar forças fora da minha matéria para acender uma nova revolta activa. Eu escrevo com fé conseguindo encontrar inspiração nos manifestos agora proactivos que se aventam perante mim.
Não, eu continuo a não escrever pedindo mudança ou sextas oportunidades.
Eu agora escrevo torcendo freneticamente pelo vosso fim.
Com sublinhada tristeza,
Mário Pinto de Andrade - o Pai Fundador
Também eu vos quero distantes do meu povo. Sonho-vos fora. Erramos?
Não consigo tolerar mais essa Angola que chora. Errei?
Sonhadores? Irrealistas? Talvez, mas quantas mais vidas pagaremos pelos nossos sonhos deturpados pelos vossos contínuos erros? Devastação máxima ao desviver deste lado com tanto peso.
Também eu vos quero culpados por adiarem consecutivamente os dias da Humanidade. Assim eu quero-vos de todos os cargos exonerados. O justo mesmo era serem condenados a viver como estão a condenar o nosso povo a viver. Vocês chumbaram no básico, o meu coração de poeta não vos perdoa e eu já só quero descansar em paz. Eu já só manifesto, de bem longe, para o meu povo, abundância e paz e ainda assim está a doer bwe perceber que vocês não sentem, que vocês vivem tipo vos nasceram sozinhos, que vocês não aprendem nada, que vocês agora são um resumido, inaugurado, condecorado Nada.
Também eu agora vos quero sem a tentadora Certeza, sem a firme Esperança pois mediante todos os brilhos capazes que nos depenam a magia da vida também de se eclipsar das vossas vidas. Que é isso Viriato a rogar pragas? Talvez não, a prever sentenças. Eu já só vos desejo apartados das minhas gentes, das minhas terras. Com tudo o que já subtraíram construam as vossas Califórnias e Dubais no Inferno, soterrem-se nos vossos palácios de egoísmo.
Eu agora também escrevo com ansiedade, apelando à vossa partida.
Com aviltante pesar,
Viriato da Cruz - O Pai Poeta
Assim eu já só penso o quão vão foi o meu destino.
O meu país independente não era o fim. Era o sonho do começo.
Era a vida que germinava nos meus que naquela altura para uma sorte maior precisavam de sofrer. E olha só o azar em vocês personificado, pois nas vossas mãos hoje eles continuam a sofrer.
Assim eu já sem corpo, continuo a sofrer. Sabia que a liberdade não se alcançaria com sofrimento mas não seria para vocês que esperava endereçar estas palavras. Confusa com o meu corpo parido em Catete e defumado no Congo, me questiono hoje qual é a vossa ideologia? Vocês quem são? Vocês querem o quê? Sendo absurdamente sincera comigo eu acho que sei as respostas mas não me atrevo a dizê-las de forma perceptível. E ainda assim medo do quê pois se as palavras têm força e se materializam ao serem ditas em voz alta há muito que tal já aconteceu porque vocês andam aí, vaidosos, orgulhosos e não parece haver silêncio que quebre o vosso narcisismo.
Assim eu já só penso que hoje que sem razão aparente se depredam as vidas dos nada a perder, interrogo-me se o vosso M vem do quê, o vosso P juntamente com o vosso L servem para quê, e a vossa Angola é para Quem? Pois, pensem respostas caladas. Pensem em tom de monólogo porque nem diálogo queremos convosco e olhem bem, e oiçam bem, e leiam bem porque mesmo que neste exílio sem regresso eu continuo a ser a revolução. Eu continuo a orar pela libertação dos meus. Eu continuo numa luta sem forma, numa luta de pensamentos e desejos mas continuo, sim fictícios camaradas eu continuo. Continuo até sentir a vossa total retirada. Continuo até se espalhar por todos kimbos acima da terra que o meu povo é soberano.
Com colossal desgosto
Deolinda Rodrigues- a Langidila e Mãe da Revolução Angolana
Escutar a Terra através dos seus Guardiões - as vozes que tecem o futuro
“Falamos muito de “soluções climáticas” em reuniões e conferências. Mas e se as comunidades da linha da frente forem a própria solução? E se a reparação não for caridade, mas um acto de devolução – de recursos, de dignidade – a quem já cuida da vida?”. As reflexões partem de Virgílio Varela, que regressou de cinco meses de viagem pelo Brasil acompanhado das vozes que foi escutando, “das terras alagadas do Rio Grande do Sul às florestas sagradas de palmeiras no Maranhão, passando pelo solo ancestral da Bahia”. Num percurso que incluiu a visita a “20 comunidades indígenas e quilombolas”, o facilitador, formador, consultor, orador e storyteller pôde recordar que “a justiça tem ritmo (...) como um tambor que nunca deixa de bater”. A experiência é partilhada a poucos meses da COP 30 – Conferência das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, que acontece de 10 a 21 de Novembro na Amazónia –, com a força de uma lição de vida. “A caminho da COP30, não levo apenas notas. Levo vozes. Vozes que dizem: não estamos à espera de salvação. Já estamos a tecer o futuro”. Por isso, o convite que Virgílio deixa “é simples: Não amplifiques apenas estas vozes. Segue a sua liderança”.
“Falamos muito de “soluções climáticas” em reuniões e conferências. Mas e se as comunidades da linha da frente forem a própria solução? E se a reparação não for caridade, mas um acto de devolução – de recursos, de dignidade – a quem já cuida da vida?”. As reflexões partem de Virgílio Varela, que regressou de cinco meses de viagem pelo Brasil acompanhado das vozes que foi escutando, “das terras alagadas do Rio Grande do Sul às florestas sagradas de palmeiras no Maranhão, passando pelo solo ancestral da Bahia”. Num percurso que incluiu a visita a “20 comunidades indígenas e quilombolas”, o facilitador, formador, consultor, orador e storyteller pôde recordar que “a justiça tem ritmo (...) como um tambor que nunca deixa de bater”. A experiência é partilhada a poucos meses da COP 30 – Conferência das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, que acontece de 10 a 21 de Novembro na Amazónia –, com a força de uma lição de vida. “A caminho da COP30, não levo apenas notas. Levo vozes. Vozes que dizem: não estamos à espera de salvação. Já estamos a tecer o futuro”. Por isso, o convite que Virgílio deixa “é simples: Não amplifiques apenas estas vozes. Segue a sua liderança”.
Virgílio Varela percorreu o Brasil durante cinco meses
Texto de Virgílio Varela
“Esta não foi uma jornada para ‘ajudar’ comunidades. Foi uma jornada para escutar, para desaprender — e para recordar o que a Terra já sabe.”
Durante cinco meses, percorri o Brasil — das terras alagadas do Rio Grande do Sul às florestas sagradas de palmeiras no Maranhão, passando pelo solo ancestral da Bahia — visitando 20 comunidades indígenas e quilombolas.
Não ia à procura de histórias. Ia ao encontro de territórios vivos de sabedoria.
Cada comunidade recebeu-me não com discursos ou formalidades, mas com alimento, ritmo e memória. Partilharam comigo as suas dores — grilagem, águas contaminadas, línguas silenciadas — mas também partilharam os seus sonhos.
E isso mudou tudo.
No Maranhão, sentei-me com mulheres que há gerações protegem o babaçu. Mostraram-me que resistir também pode ser plantar, cozinhar, ensinar.
Na Bahia, ouvi tambores que falam de realeza, de exílio e de regresso.
E no Sul, vi escolas destruídas pelas cheias e corações ainda em processo de cura — mas também jovens negros a replantar, regenerar e acreditar.
O que encontrei não foi apenas dor. Foi presença. Uma força ancestral que resiste a tornar-se estatística ou objecto de caridade.
Falamos muito de “soluções climáticas” em reuniões e conferências.
Mas e se as comunidades da linha da frente forem a própria solução?
E se a reparação não for caridade, mas um acto de devolução — de recursos, de dignidade — a quem já cuida da vida?
Esta jornada recordou-me que a justiça tem ritmo. Nem sempre é rápido. Nem sempre é ruidoso. Mas é constante — como um tambor que nunca deixa de bater.
A caminho da COP30, não levo apenas notas. Levo vozes.
Vozes que dizem: não estamos à espera de salvação. Já estamos a tecer o futuro.
O convite é simples:
Não amplifiques apenas estas vozes. Segue a sua liderança.
A cor que nos divide: o impacto do colorismo em países de maioria negra
“Cresci com uma mãe que exaltava a minha negritude, que me ensinou a amar-me como sou, a valorizar cada detalhe do meu ser. Foi ela quem me apresentou figuras marcantes da história negra, quem me encheu de poder e orgulho, mesmo quando o mundo lá fora insistia em me apagar. Incentivou-me a fazer os meus dreads, lembrando-me de que fazem parte da nossa história de resiliência, resistência e beleza ancestral. Ainda assim, mesmo com essa base sólida, enfrentei olhares julgadores, comentários enviesados e tentativas constantes de me moldar a padrões que nunca foram feitos para mim padrões construídos por outros, que tentavam convencer-me de que precisava de ser ajustada para ser aceite”. O testemunho, escrito na primeira pessoa, é da moçambicana Shira Cátina Guambe que, a partir da experiência “como mulher negra retinta, e do contacto com diversas realidades”, propõe “uma análise crítica sobre as heranças coloniais, os padrões de beleza eurocentrados, e a invisibilidade que persiste nas relações sociais e afetivas”. O resultado lê-se no texto aqui publicado.
“Cresci com uma mãe que exaltava a minha negritude, que me ensinou a amar-me como sou, a valorizar cada detalhe do meu ser. Foi ela quem me apresentou figuras marcantes da história negra, quem me encheu de poder e orgulho, mesmo quando o mundo lá fora insistia em me apagar. Incentivou-me a fazer os meus dreads, lembrando-me de que fazem parte da nossa história de resiliência, resistência e beleza ancestral. Ainda assim, mesmo com essa base sólida, enfrentei olhares julgadores, comentários enviesados e tentativas constantes de me moldar a padrões que nunca foram feitos para mim padrões construídos por outros, que tentavam convencer-me de que precisava de ser ajustada para ser aceite”. O testemunho, escrito na primeira pessoa, é da moçambicana Shira Cátina Guambe que, a partir da experiência “como mulher negra retinta, e do contacto com diversas realidades”, propõe “uma análise crítica sobre as heranças coloniais, os padrões de beleza eurocentrados, e a invisibilidade que persiste nas relações sociais e afetivas”. O resultado lê-se no texto aqui publicado.
Shira Cátina Guambe, assina esta reflexão
Texto de Shira Cátina Guambe
Falar sobre racismo estrutural é, hoje, um debate inevitável em qualquer sociedade. Mas no próprio universo negro, há uma ferida silenciosa, muitas vezes negligenciada: o colorismo. Esta forma de discriminação, baseada na tonalidade da pele no próprio grupo racial, continua a afetar profundamente como nos vemos, nos relacionamos e somos tratados mesmo em países de maioria negra. A questão que se impõe é simples, mas dolorosa: como é possível que, mesmo onde somos maioria, sejamos vítimas de uma lógica que nos hierarquiza pela proximidade à brancura?
Colorismo: definição e legado
O termo colorismo foi popularizado pela escritora e ativista norte-americana Alice Walker, que o definiu como “o preconceito ou discriminação contra indivíduos com pele mais escura, geralmente entre pessoas do mesmo grupo étnico ou racial”. Embora nascido no contexto afroamericano, o colorismo é um fenómeno global e persistente.
Não é somente uma questão de tom de pele. É um reflexo de séculos de dominação colonial, onde tudo o que se aproximava do europeu era considerado superior: desde a cor da pele, ao cabelo, ao nariz, aos lábios, à estrutura corporal. É uma herança que atravessa gerações e geografias, e que continua a moldar o modo como construímos valor, beleza e estatuto.
Por mais insano que pareça, esta lógica persiste ainda hoje, mesmo em países onde a maioria da população é negra. Em vez de desaparecer, o colorismo ganhou novas roupagens e adaptou-se às dinâmicas atuais de poder, consumo e representação.
Quando a cor da pele se torna critério: os impactos reais do colorismo
O colorismo não se limita ao campo da estética. Infiltra-se silenciosamente em todas as esferas da vida: nas oportunidades profissionais, na forma como somos atendidos nos serviços públicos, nas escolhas afetivas, na representação nos meios de comunicação e até nas nossas próprias aspirações.
Em muitos países africanos, incluindo o meu, não é raro vermos pessoas de pele mais clara em posições de maior destaque, sobretudo em áreas como a comunicação, moda, publicidade ou atendimento ao público. Em Moçambique, por exemplo, basta assistir a uma sequência de anúncios televisivos ou folhear uma revista para perceber que os rostos escolhidos para representar o “ideal” moçambicano tendem a ter tons de pele mais claros e traços mais próximos dos padrões eurocêntricos. O mesmo se observa em Angola, no Senegal, ou mesmo no Brasil, países com histórias distintas, mas atravessados pelo mesmo legado.
Isto não é coincidência. Segundo um estudo da Universidade da Cidade do Cabo, pessoas de pele mais clara, em contextos urbanos africanos, têm maior probabilidade de aceder a cargos bem remunerados e a serviços de saúde privados. Embora os dados variem consoante o país, o padrão é reconhecível: a tonalidade da pele continua a funcionar como um filtro social um privilégio invisível para uns, uma barreira camuflada para outros.
Contradições e invisibilidade: entre heranças coloniais e padrões eurocentrados
“Ela tem boa cor”, dizem, a elogiar uma mestiça. “O teu cabelo é duro, devias usar relaxante.” “Sou escuro, mas tenho hábitos de brancos.” Quem cresceu em contextos africanos ou afro-diaspóricos provavelmente já ouviu (ou disse) alguma destas frases. À primeira vista, parecem inofensivas. Mas carregam em si séculos de invisibilidade, de negação, de reconfiguração forçada da identidade negra.
São frases que mostram como a colonização deixou marcas profundas. Afinal, é um povo que foi anulado por séculos e levado a crer que os seus traços são feios e vulgares, que o seu cabelo é ridículo e pobre, que as curvas das mulheres negras são excessivas e traiçoeiras, que o nariz largo é deselegante. Tudo isso visando encaixar nos padrões da nova sociedade a colonial e afastar-se de tudo o que revelava a sua origem.
E é aqui que mora o perigo: estas ideias ainda enchem o nosso mundo e esvaziam a nossa essência. Porque muitos negros retintos, nascidos em África, sentem a necessidade de mudar a sua aparência para se tornarem socialmente mais aceites. Hoje, com míseras moedas, é possível comprar cremes que prometem “clarear” a pele. O mesmo se aplica ao cabelo: há uma infinidade de produtos para alisar, extensões e wigs, que poderiam ser usados como opção estética, mas que se tornam uma dependência disfarçada, uma exigência para “pertencer”.
O silêncio não nos serve: entre consciência e mudança
Falar sobre colorismo, especialmente dentro da nossa própria comunidade, não é confortável. Há silêncios que se tornaram regra, e feridas que aprendemos a disfarçar com humor ou resignação. Mas quanto mais ignoramos, mais normalizamos e mais longe ficamos de nos ver por inteiro.
Como mulher negra retinta, reconheço que sou privilegiada por ser consciente da minha identidade e isso devo, na maioria, à minha mãe. Cresci com uma mãe que exaltava a minha negritude, que me ensinou a amar-me como sou, a valorizar cada detalhe do meu ser. Foi ela quem me apresentou figuras marcantes da história negra, quem me encheu de poder e orgulho, mesmo quando o mundo lá fora insistia em me apagar. Incentivou-me a fazer os meus dreads, lembrando-me de que fazem parte da nossa história de resiliência, resistência e beleza ancestral. Ainda assim, mesmo com essa base sólida, enfrentei olhares julgadores, comentários enviesados e tentativas constantes de me moldar a padrões que nunca foram feitos para mim padrões construídos por outros, que tentavam convencer-me de que precisava de ser ajustada para ser aceite.
Mas talvez o impacto mais profundo nem seja o externo é o que acontece por dentro. O colorismo interiorizado, aquele que fere a auto-estima, é provavelmente o mais doloroso. Já ouvi, mais de uma vez, comentários como: “Fulana tem o útero limpo, vê-se pelo facto de o filho ter nascido clarinho.” Ou: “O teu cabelo nem parece ruim” como se o facto de parecer “menos crespo” fosse um elogio. E ainda aquele clássico: “Se fosses clara, eras muito mais bonita.” São frases que se dizem com naturalidade, mas que carregam séculos de rejeição, de comparação, de desvalorização dos traços negros.
Acresce a isto o fenómeno, infelizmente frequente, de vermos homens negros que se sentem vitoriosos ou “evoluídos” quando conseguem relacionar-se com mulheres brancas ou mestiças como se o amor estivesse também submetido a um código de validação racial. Basta observar o padrão em muitos atletas, músicos ou figuras públicas negras que, ao atingirem certo estatuto social ou económico, optam por estar com mulheres de pele mais clara, como se isso simbolizasse uma espécie de ascensão. Palavras, escolhas e silêncios que vão minando a identidade, como gotas constantes numa rocha frágil.
Encerrar para começar: o desafio de reimaginar-nos
Desconstruir o colorismo é um trabalho de todos os dias e de todos nós. Não basta somente culpar o sistema ou recordar as feridas do passado. É urgente olharmos para o interior da nossa comunidade e percebermos como continuamos a reproduzir, muitas vezes sem querer, lógicas que nos dividem, que nos hierarquizam, que nos enfraquecem. Precisamos de criar espaços onde todas as tonalidades de pele negra sejam valorizadas, onde o cabelo crespo seja celebrado e não tolerado, onde as crianças negras cresçam sem precisar de se comparar ou esconder.
Talvez não consigamos mudar tudo de uma vez. Mas podemos começar com o que dizemos, com o que partilhamos, com o que calamos. Podemos começar por escutar mais, por educar-nos mutuamente, por resgatar a beleza que sempre foi nossa e que nunca deveria ter sido colocada em dúvida.
No fundo, trata-se de reimaginar o que significa ser negro num mundo que tantas vezes tentou dizer-nos o contrário. E nessa reimaginação, há espaço para orgulho, para coragem e para cura.