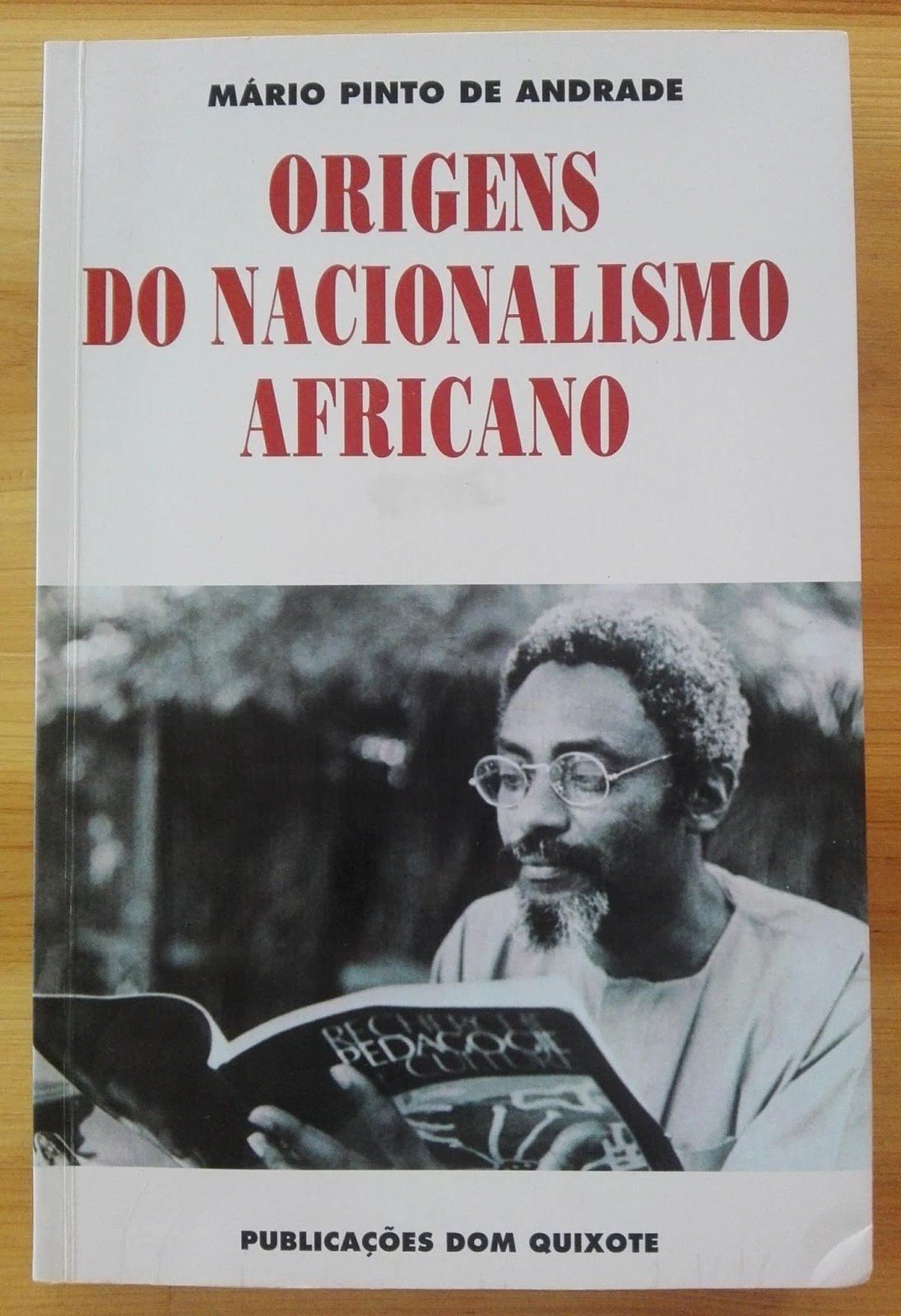HISTÓRIAS
No “Refúgio” de Luiana Abrantes, música e moda tecem Humanidade
Lançou o primeiro álbum no final do ano passado, e dá-lhe agora nova vida com três músicas gravadas ao vivo. Entre o “Refúgio” de 2024, e o “Refúgio Relaunch” de 2025, Luiana Abrantes ganhou uma distinção no Brasil, e uma bolsa de criação artística em Portugal, sem perder o fio à meada da “Truly Afro”, a marca de roupa que veste a celebração da sua africanidade angolana. Já a trabalhar no novo disco, conversou com o Afrolink sobre a inspiração para compor, o trabalho, a maternidade, a condição feminina, e o défice de humanidade que nos tem vindo a desequilibrar. “O nosso olhar em relação ao outro tem de ser treinado. As pessoas não têm só um lado mau, também têm alguma coisa boa para dar”.
Lançou o primeiro álbum no final do ano passado, e dá-lhe agora nova vida com três músicas gravadas ao vivo. Entre o “Refúgio” de 2024, e o “Refúgio Relaunch” de 2025, Luiana Abrantes ganhou uma distinção no Brasil, e uma bolsa de criação artística em Portugal, sem perder o fio à meada da “Truly Afro”, a marca de roupa que veste a celebração da sua africanidade angolana. Já a trabalhar no novo disco, conversou com o Afrolink sobre a inspiração para compor, o trabalho, a maternidade, a condição feminina, e o défice de humanidade que nos tem vindo a desequilibrar. “O nosso olhar em relação ao outro tem de ser treinado. As pessoas não têm só um lado mau, também têm alguma coisa boa para dar”.
Luiana Abrantes, vestida com a sua marca, “Truly Afro”
Canta o que escreve, veste o que costura, e, de criação em fruição, Luiana Abrantes deixa-se ser. “Quando não estou a fazer música, estou a fazer peças de roupa. Quando não estou a fazer peças de roupa, estou a fazer música. E acabo por manifestar a minha essência nas duas áreas”.
Criadora da marca de moda “Truly Afro”, e autora do álbum “Refúgio” – lançado em Setembro do ano passado, e relançado agora como “Refúgio Relaunch” –, a cantautora escolhe viver segundo o próprio ritmo, desligada de reguladores externos.
“O nosso tempo aqui passa muito rápido, e eu quero aproveitar da minha maneira, não como o sistema impõe. O «Refúgio» é sobre isso. É uma chamada de atenção para o nosso interior, para o reforçarmos, e não cairmos na armadilha de que temos de estar dentro dos parâmetros em que todos os outros estão”.
Tarimbada nesse fortalecimento interno, a artista, nascida em Luanda há 38 anos, verte-o para as suas composições, que começou por apresentar, single a single, com os temas “Mudança”, “Enamorada” e “Serenidade”.
“Estou sempre a compor, porque penso muito na vida, no que aquilo que vejo me faz sentir, e isso sai muitas vezes em forma de música”.
O processo criativo começou por ganhar expressão discográfica em estúdio, e vai ter agora, na edição “Relaunch”, três temas gravados ao vivo. O primeiro – “Enamorada” – já está disponível nas plataformas digitais, e, anuncia Luiana ao Afrolink, outros dois estão a caminho: “Giramundo” e “Mudança”, este último em versão acústica, só com guitarra e voz.
“Vamos continuar a revisitar o «Refúgio» através do «Relaunch»”, revela a cantautora, que no sábado passado, 31 de Maio, subiu ao palco do This is Sessions, em Lisboa, para um sarau musical.
Novo álbum em construção, com voo para o Brasil no horizonte
A experiência deverá repetir-se durante os próximos meses, antecipa Luiana, que prepara já o segundo álbum, ao abrigo de uma bolsa de criação artística da DG Artes.
A novidade tem lançamento previsto para 2026, e promete impulsionar uma trajectória musical ainda embrionária, mas já distinguida além-fronteiras, num concurso do III Festival Universitário de Música do Gimu – Grupo de Integração Musical da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira.
O reconhecimento, por músicos e pesquisadores do campo da etnomusicologia – que se têm debruçado sobre musicalidades africanas e afro-diaspóricas –, destacou a canção “Serenidade” como uma das cinco melhores entre 39 avaliadas.
“Soube do concurso, que está associado a uma universidade, através de um amigo brasileiro, filho de pais angolanos. Candidatei-me, e quando já nem me lembrava disso, fui surpreendida com a notícia de que ganhei”.
O resultado, anunciado no final do ano passado, abre caminho a novos voos. “Como esta já é a terceira edição, eles estão a preparar-se para organizar um festival na Bahia, e chamar todos os vencedores. Só não sei se será neste ou no próximo ano”.
Seja como for, a iniciativa assume o compromisso de “valorizar a música autoral e original”, e “estreitar as interlocuções entre Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, a partir da cena musical produzida nesses países”.
A proposta, assinala Luiana, encaixa perfeitamente na sua assinatura sonora. “O «Refúgio» tem a participação de artistas de vários países – angolanos, moçambicanos, cabo-verdianos… –, porque a minha música, no fundo, acaba por ser uma fusão da lusofonia toda”.
Combater a resignação
Apesar de não gostar de criar expectativas – “prefiro viver um dia de cada vez” –, a também designer não abdica da sua medida de sucesso: “É estar em paz, e bem comigo própria”.
O caminho, entre a música e a moda, desbrava-se em contracorrente, tanto a nível pessoal como profissional.
“Tive outros trabalhos antes de ter a minha marca, e percebi que tinha de fazer a minha vida de outra forma, porque não me identifico com o modo como o mercado funciona”.
Além dos constrangimentos de horário, robotizados num modelo “das 9 às 5”, Luiana contesta a normalização das relações desumanas.
“Falo naquela coisa de ter um patrão que fala mal contigo, que te trata mal. Acho que as pessoas começam a acreditar que faz parte. Mas não. Não é bonito, nem é saudável”, sublinha a artista, alertando para os efeitos da resignação.
“As pessoas estão a ficar doentes por causa da forma como o trabalho é exercido. Até parece que se não vives em stress e ansiedade, não estás a trabalhar. Eu, por exemplo, só porque digo que adoro estar no meu ateliê, muitas vezes pensam que tenho um hobby”.
Longe disso, a cantautora e designer lembra que o destino freelancer tem o seu preço.
“Abdiquei de um trabalho com um salário garantido. Foi uma escolha, porque prefiro estar em paz, e ganhar menos nesta fase”, aponta, sem romantizações. “Tive de criar as condições para isso, porque a vida de empreendedor não é fácil”.
Acolher o ciclo humano, em contracorrente
Também em contraciclo, Luiana avançou para a maternidade quando, à sua volta, o mundo seguia noutras direcções.
“Ouvi muitas críticas. Havia mesmo quem dissesse: ‘Não podes ser mãe, ainda não acabaste o curso’”.
Hoje com dois filhos adolescentes, a cantautora conta que vive esta etapa da vida de uma maneira muito leve.
“Se calhar é da forma como nós pensamos em África: onde come um ou dois, comem três. Eu considero que o planeamento é importantíssimo, mas o planeamento excessivo, que vejo muitas vezes aqui na Europa, faz com que tu não dês determinados passos”.
Pior do que isso, estaremos a contrariar os nossos ciclos humanos?
“Vejo amigas minhas que querem ser mães, e não são porque acham que precisam de criar as condições ideais para isso”, nota a cantautora, distanciando-se de programações de pressão externa.
“Tento sempre passar uma mensagem positiva com a música, para tentar suavizar um pouco o que vejo neste mundo, que agora gira muito à volta da sexualidade da mulher”, explica Luiana, propondo outra abordagem. “Eu não digo que isso seja mau, mas acho que está a ser exacerbado, exposto de uma maneira que para mim não tem a ver com a beleza e sensualidade feminina”.
Apologista de uma alternativa, “mais serena e de paz”, a designer explica que a ruptura com as “normas” também se observa com a marca “Truly Afro”.
“A minha intenção foi tentar normalizar, entre aspas, a questão afro. Não ter vergonha de assumir as nossas origens, e usar com orgulho os tecidos africanos, porque são a nossa identidade”.
Despir as lentes da discriminação
Para além de criações artísticas, Luiana partilha, a cada proposta, a sua expressão humana. “O nosso olhar em relação ao outro tem de ser treinado. As pessoas não têm só um lado mau, também têm alguma coisa boa para dar”.
Embora se tenha confrontado, desde cedo, com situações desumanas do pós-guerra em Angola – incluindo crianças a comerem no lixo, e soldados com os membros amputados a pedir [esmola] nos sinais de trânsito –, a cantautora garante que nunca normalizou a dor ou a violência. Pelo contrário.
“Isso talvez tenha feito com que me tornasse muito sensível ao sofrimento alheio”, reconhece a designer, apelando ao não julgamento.
“Acho que todos temos a centelha divina, de Deus. Por isso, acredito que alguma coisa acabe por espoletar a maldade no decorrer da vida, dependendo do contexto em que somos educados. Então, nós temos que entender as circunstâncias e não julgar facilmente e, às vezes, de forma tão irracional”.
Mais do que isso, Luiana sugere que usemos mais “a nossa parte humana, o nosso olhar mais sensível e mais humano em relação aos outros”, despindo-o das lentes de discriminação.
“Uma vez li uma frase muito curta, acho que no Pinterest, de que «onde há excesso, há falta de…». Por isso, quando temos excesso de preconceito, temos falta de alguma coisa”.
Do quê, em concreto?
A resposta, defende a criativa, pede refúgio. “Aquilo que nós chamamos de mal, na verdade, para mim, é ignorância em relação ao bem. Isto prende-se muito com aquilo em que acredito: que estamos todos aqui para evoluir, mas cada um de nós está num estágio de evolução diferente. E só através da experiência conseguimos aprender esse bem”.
Ao mesmo tempo, a autora de “Refúgio” alerta para a necessidade de recuperarmos do desencontro de género em que muitas vezes nos arrastamos.
“Nós, mulheres, estamos a ser obrigadas, por causa da questão capitalista, a nos posicionarmos na sociedade como homens, para podermos competir com eles. Então, acabamos por vestir as suas características, e perder algumas das nossas.”
O regresso ou a descoberta da nossa natureza impõe-se, assim, como um resgaste da nossa força e propulsor de uma nova consciência.
“Vivemos numa sociedade muito individualista. Pensamos muito em nós próprios sempre, e esquecemos que fazemos parte de um todo”, lamenta a cantautora, sublinhando que é “apenas mais uma pessoa, no meio de tantas, e todas as pecinhas são importantes”.
Falta ligá-las e, com isso, formar colectivo, processo que pode ser sonoramente impulsionado.
“A música é uma coisa poderosa. Tem uma força e uma energia capaz de activar emoções e estados de alma”. E oferecer “Refúgio”, a partir das plataformas digitais:
“Reparations Baby!” – o concurso-revolução para descolonizar a nossa TV
“Reparations Baby!” é a mais recente criação de Marco Mendonça, que, com um texto tão mordaz quanto perspicaz, coloca o tema das reparações históricas na agenda…quanto mais não seja cultural. Produzido pelo Teatro Nacional D. Maria II, o espectáculo estreia-se no próximo dia 5 de Junho no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, antes de seguir para as cidades de Barcelos e de Ílhavo, nos dias 14 e 21 do mesmo mês, respectivamente. A apresentação em Lisboa está marcada para o Teatro Variedades, onde a peça sobe ao palco de 9 a 27 de Julho. Na recta final dos ensaios, o Afrolink conversou com o actor, criador e encenador, que, depois de nos ter apresentado a peça “Blackface”, regressa aos arquivos históricos para nos desafiar a reflectir sobre legados de abusos e desigualdades raciais, e a importância do reconhecimento, e da responsabilização. “Acho que pode ser produtivo saber que a culpa existe, que está de certa forma no ADN da construção do país, e do império”.
“Reparations Baby!” é a mais recente criação de Marco Mendonça que, com um texto tão mordaz quanto perspicaz, coloca o tema das reparações históricas na agenda…quanto mais não seja cultural. Produzido pelo Teatro Nacional D. Maria II, o espectáculo estreia-se no próximo dia 7 de Junho no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, antes de seguir para as cidades de Barcelos e de Ílhavo, nos dias 14 e 21 do mesmo mês, respectivamente. A apresentação em Lisboa está marcada para o Teatro Variedades, onde a peça sobe ao palco de 9 a 27 de Julho. Na recta final dos ensaios, o Afrolink conversou com o actor, criador e encenador que, depois de nos ter apresentado a peça “Blackface”, regressa aos arquivos históricos para nos desafiar a reflectir sobre legados de abusos e desigualdades raciais, e a importância do reconhecimento e responsabilização. “Pode ser produtivo saber que a culpa existe, que está de certa forma no ADN da construção do país, e do império”.
“Reparations Baby!”, com foto de Pedro Macedo e composição gráfica de Vinicius Batista
Foto de capa de Filipe Ferreira
Náufrago de uma narrativa histórica afundada nos “heróis do mar”, Portugal permanece à deriva, incapaz de sair das profundezas de um passado romantizado, e de trazer à tona a realidade.
“Há uma insistência em falar-se das partes boas, sendo que é preciso procurarmos muito para as encontrar”, aponta Marco Mendonça, que, a partir do teatro, nos encaminha para outra direcção.
“Falta ao país responsabilização, a tomada de consciência de que o que aconteceu foi terrível, horrendo para todos os países ocupados,”, sublinha o autor de “Reparations Baby!”, peça que se vai estrear no próximo dia 7 de Junho no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra.
Entre ensaios, que foram ajudando a firmar caminhos – “começámos com a versão 6 do texto, agora já vamos na 8.3 – o actor, criador e encenador assume a intenção de constranger.
“Há provocações que eu sinto mesmo que precisam de estar em palco, e espero que elas cheguem nos momentos certeiros”.
O processo cumpre-se com “a ideia de um game show extravagante, com luzes, música, e muita informação”, antecipa Marco que, depois de nos ter apresentado a peça “Blackface”, regressa aos arquivos históricos para nos desafiar a reflectir sobre legados de abusos e desigualdades raciais, e a importância do reconhecimento.
“Pode ser produtivo saber que a culpa existe, e que ela pertence a alguém. Acredito que, mais do que nunca, as pessoas precisam de viver essa culpa, de a sentir, ou de empatizar com quem reclama reparações históricas”.
A abordagem, explica o moçambicano e português, “parte sempre de um lugar muito pessoal”, indissociável das suas próprias vivências, marcadas por um contínuo de heranças coloniais.
“Há coisas que eu me proponho a aprender, para poder falar delas com o mínimo de propriedade”, assinala, enquanto ganha músculo na arte de deslindar factos que o país continua a ocultar.
“O processo de pesquisa para o espetáculo trouxe-me muito mais frustração do que esperança”, admite, alertando para a urgência de uma discussão séria e consequente sobre reparações.
“Começaria por uma coisa muito simples que é assumir, de forma transparente e responsável, tudo o que de mal aconteceu”.
Ou, nas palavras do Presidente da República, evocadas em “Reparations Baby!”, Portugal deve reconhecer aquilo que “de bom e de mau” fez no passado.
“Esse reconhecimento é essencial. A culpa existe, e está, de certa forma, no ADN da construção do país, e do império”, reforça o autor, insistindo na importância da informação.
Por exemplo, qual o peso do trauma ancestral na vida das pessoas negras? “A título muito pessoal, sou uma pessoa que sofre de ansiedade. Fui diagnosticado há cinco anos e, nessa altura, fiquei a pensar muito sobre o nível de hereditariedade dessa condição”, conta Marco, hoje munido de pesquisas que evidenciam a carga transgeracional do que vivemos.
“Fui ler para tentar perceber um bocadinho melhor as minhas ansiedades, e vejo muito fundamento nessa ideia de transmissão”.
A consciência encontra tradução em “Reparations Baby!”, onde o trauma ancestral atinge proporções demolidoras.
“Não são apenas os estudos. Percebi também, ao falar com o elenco, que esse é um peso comum entre nós, pessoas negras, e muito mais transversal do que pensamos”.
Reconhecê-lo permite enfrentá-lo, observa Marco: “A minha ansiedade surgiu como um problema, e agora é simplesmente uma coisa com a qual eu vivo, e está tudo bem”.
O exemplo encaixa na perfeição num dos inúmeros e valiosos ensinamentos que encontramos em James Baldwin: “Nem tudo o que enfrentamos pode ser mudado. Mas nada pode ser mudado enquanto não for enfrentado”.
A citação-lição do escritor americano solta-se no palco de “Reparations Baby!”, onde um concurso televisivo exclusivamente reservado a participantes negros nos confronta com uma sucessão de factos e constrangimentos históricos.
“São coisas que todos os dias me fazem pensar, e dão-me mais vontade de constatar o óbvio da forma menos óbvia possível”.
Entre os “heróis do mar”, e os “heróis do mas”
A proposta combina “segmentos de teoria anti-racista” com “cultura pop luso-africana e trivia colonial”, anuncia-se na sinopse do espectáculo, que apresenta Reparations Baby!, como “um programa que pretende revolucionar o prime time português”.
Mas, estarão as pessoas brancas preparadas para ver pessoas negras num lugar de protagonismo televisivo, e a facturas milhares de euros? E até que ponto se disponibilizam para olhar criticamente para o passado?
“Como espectador, gosto de sair de uma sala de teatro a pensar, a considerar uma perspectiva que nunca tinha ponderado antes. Por isso, se “Reparations Baby!” ajudar o público nesse processo, tanto melhor”.
Além de abrir amplo espaço para debate e reflexão, o espectáculo ilustra bem como a fragilidade branca continua a frustrar possibilidade de avanço.
“Para mim é evidente que existe o medo de uma espécie de vingança, a ideia absurda de que quando um número considerável de pessoas negras estiver em esferas de poder e de decisão, isto vai ser uma razia completa de pessoas brancas”.
Consciente ou inconscientemente, Marco nota que esse receio de perda – mesmo que não se saiba bem o que se está em vias de perder” – continua a travar não apenas o acesso de pessoas negras a oportunidades, mas até a simples possibilidade de diálogo.
“As pessoas negras não estão aqui para tomar o lugar de ninguém. Estão aqui simplesmente para poder concorrer aos lugares, e ter acesso às entrevistas, aos castings, aos editais, ao que quer que seja”, nota, reiterando o pensamento: “É tão fácil perceber que as pessoas brancas não perderiam absolutamente nada, e que as coisas não iriam mudar assim tanto para quem está no poder”.
Falta querer.
Do mesmo modo, Portugal deve procurar entender porque é que se recusa a assumir o “bom” e o “mau” do passado colonizador, justificando sempre as atrocidades do império com os usos e costumes dos “homens desse tempo”. Hoje reféns dos desditos “heróis do mar”, que, entre cenas de “Reparations Baby!”, são certeiramente rebaptizados de “heróis do mas”. Afogados em séculos de mentiras.
Bilheteira:
https://reparationsbaby.carrd.co/
Marco Mendonça, autor de “Reparations Baby!”, aqui em palco com “Blackface”, fotografado por Diana Tinoco
Ficha Técnica
Texto e Direcção Marco Mendonça
Interpretação Ana Tang, Bernardo de Lacerda, Danilo da Matta, June João, Márcia Mendonça, Stela, Vera Cruz
Cenografia Pedro Azevedo
Figurinos Aldina Jesus, Pedro Azevedo
Desenho de luz Teresa Antunes
Desenho de som, Sonoplastia e Música original Mestre André
Vídeo Heverton Harieno
Design Gráfico Vinicius Batista
Apoio à criação Bruno Huca
Participação especial Cláudio Castro, David Esteves, José Neves e Pedro Gil
Produção Teatro Nacional D. Maria II
Depois do “bom colonizador”, Portugal apresenta o “bom racista”
Especialista em negar evidências históricas, Portugal reinventa-se na arte de ver tudo o que houver para ver, desde que não tenha de enxergar o racismo que habita em si. Por isso, depois do aclamado mito do “bom colonizador”, o país oferece-nos a fantasia do “bom racista” – alguém que fala, age e vota como um racista, mas afinal apenas precisa de atenção e de compreensão. As eleições do último domingo, revelaram mais de 1 milhão e 300 mil predadores dessa espécie. E não há nada de bom nisso!
Especialista em negar evidências históricas, Portugal reinventa-se na arte de ver tudo o que houver para ver, desde que não tenha de enxergar o racismo que habita em si. Por isso, depois do aclamado mito do “bom colonizador”, o país oferece-nos a fantasia do “bom racista” – alguém que fala, age e vota como um racista, mas afinal apenas precisa de atenção e de compreensão. As eleições do último domingo revelaram mais de 1 milhão e 300 mil predadores dessa espécie. E não há nada de bom nisso!
Andei em campanha política nas últimas semanas, tal como em todos os outros dias, por aquilo que defendo sempre: Humanização, Dignificação e Valorização de toda a Humanidade. Não preciso de militância partidária para o fazer, e muito menos de calendários eleitorais, porque a consciência das desigualdades e injustiças sociais é apelo que baste para me mobilizar.
Tenho amor, saúde, tecto, trabalho, comida, alegria e literacias várias para me ir governando apesar de tantos desgovernos. Quantas pessoas podem afirmar o mesmo?
Defendo que todas, todas, todas – mesmo todas – deveriam poder fazê-lo. Por isso, enquanto houver uma que não o possa, estarei em campanha.
Não do tipo da que tivemos nas últimas semanas: marcada pela corrida às eleições do último domingo, tão recheada de bens privados quanto esvaziada de bem-comum.
A minha campanha de todos os dias constrói-se com presença nas escolas, passa pela criação de plataformas de diálogo, assume a denúncia e combate de práticas discriminatórias como um dever, promove espaços de inovação democrática, reconhece o direito de todas as pessoas a serem exactamente o que são, vive da força colectiva.
Pelo contrário, a campanha dos partidos – infelizmente, da esquerda à direita – tem-se alimentado de ausências, para reforçar influências.
Não é disso que precisamos. O que faz falta é uma política com mais pessoas e menos personas, com mais cidadãos e menos patrões, com mais fazedores de soluções e menos fazedores de opiniões. Precisamos dos que vivem no país de todos os dias – e todos os dias – e não dos que habitam numa redoma de país que, em períodos eleitorais, fingem abrir a mais do que isso.
De outro modo, como esperar outros resultados eleitorais? Como fazê-lo, se há muito impera entre nós a política do vale-tudo-desde-que-eu-possa-valer-um-pouco-mais-do-que-o-outro?
Portugal tem séculos de especialização nisso! Do velho tráfico transatlântico de seres humanos à recente perseguição de imigrantes, passando pelo colonialismo, a inferiorização do “outro” tem raízes tão profundas neste país que a relação entre o racismo, a xenofobia e o crescimento da extrema-direita continua a ser desvalorizada de tão naturalizada que está.
Ainda que se aponte o dedo aos descontentes, aos esquecidos, aos desencantados, aos desesperados, aos ignorantes, aos iludidos…aos tudo-tudo-tudo, “não convém chamar-lhes racistas”, recomendam os portugueses mais portugueses que todos.
Que é como quem diz, aqueles que sabem sempre mais do que “os outros”, e que já decidiram que não é benéfico analisar os níveis nacionais de racismo.
O que importa mesmo – explicam-me – é compreender quem expressa a sua adesão a um partido abertamente racista, posicionamento que evidencia o grande problema-que-estamos-com-ele.
Um país que está mais preocupado em acolher os agressores do que em proteger as suas vítimas está submerso em desumanização. Tão simples e tão complexo quanto isso!
E, por mais que eu saiba que analisar os resultados eleitorais faz parte do pacote Legislativas, questiono se podemos fazê-lo com as vivências de todos-todos-todos? Conseguimos reconhecer que os eleitores do Chega podem até estar a ser coagidos pelo medo e minados pelo desencanto, mas isso não os iliba de serem racistas?
Insistir em não ver o racismo presente na votação de 18 de Maio, ou aligeirar o seu impacto, é consentir na sua normalização.
Pior do que isso, revela que a luta política se mantém rasteira, incapaz de se elevar. Porque humanizar quem vota na desumanização ignorando quem está a ser desumanizado evidencia uma única preocupação: recuperar os votos perdidos.
Eu exijo mais do que isso, eu mobilizo-me por mais do que isso, porque enquanto uns lutam apenas por sobressair nas urnas, outros, como eu, lutam para não acabar numa urna. Não é mito. É facto.
Sem nós não há justiça: Cláudia Simões continua condenada
Cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas votaram num partido abertamente racista e xenófobo nas últimas Legislativas, transformando-o na terceira força política em Portugal. Os alarmes deveriam ter soado bem alto, mas, em vez disso, várias vozes se apressaram a absolver o eleitorado racista, justificando as suas escolhas com “zangas”, “ressentimentos” e “descontentamentos”. Como se houvesse contexto capaz de tornar aceitável e até justificável o racismo e a xenofobia. Ou como se as pessoas escolhessem propostas racistas inocentemente e sem intenção. Afinal, garante o primeiro-ministro, em Portugal "o ódio e as questões raciais não têm uma natureza de preocupação”. Facto é que a aparente facilidade com que a extrema-direita mobiliza racistas e xenófobos no país contrasta com a dificuldade que o Grupo de Ação Conjunta contra o Racismo e a Xenofobia (GAC) enfrenta para juntar 20 mil assinaturas em defesa da criminalização do racismo. O Afrolink deixa-lhe com o essencial desta iniciativa do GAC, percorrida a partir dos esclarecimentos dos juristas Anizabela Amaral e Nuno Silva, que integram a campanha.
O Tribunal da Relação reverteu parcialmente, no passado dia 30 de Abril, a decisão do Tribunal de Sintra relativa ao caso de violência policial contra Cláudia Simões, condenando o agente da PSP Carlos Canha por ofensas à integridade física agravadas, e os seus colegas Fernando Rodrigues e João Gouveia por abuso de poder. A decisão peca, contudo, por insuficiente, assinala, em carta aberta, o Movimento Negro em Portugal (MNP), lembrando que “Cláudia Simões continua condenada e a ver negado o seu direito de legítima defesa perante as agressões de que foi vítima na paragem de autocarro”. Mais: “Embora o Tribunal da Relação tenha, em certa medida, repreendido o coletivo de juízes presidido por Catarina Pires, esta decisão não comporta quaisquer consequências para uma juíza” que, segundo sabemos, irá também julgar o caso de homicídio de Odair Moniz. “Isto não é justiça”, sublinha o MNP, num posicionamento subscrito por mais de 40 colectivos, e que o Afrolink subscreve e publica na íntegra.
Carta Aberta: Sem nós não há justiça: Cláudia Simões continua condenada
A 30 de abril, o Tribunal da Relação reverteu parcialmente a decisão do Tribunal de Sintra quanto ao caso de violência policial contra Cláudia Simões. Condenou Carlos Canha por ofensas à integridade física agravadas e os seus colegas Fernando Rodrigues e João Gouveia por abuso de poder. Foi, sem dúvida, com muita emoção, mas sem ilusões, que recebemos esta decisão, apesar de tudo histórica.
Se o Tribunal de Sintra fez da vítima culpada e do agressor inocente, reproduzindo, uma vez mais, o racismo institucional no sistema de justiça português, a decisão do Tribunal da Relação acabou apenas por repartir a culpa. Ou seja, embora Carlos Canha e os colegas tenham sido finalmente responsabilizados pelas agressões durante a viagem aterrorizadora no carro da PSP, Cláudia Simões continua condenada e a ver negado o seu direito de legítima defesa perante as agressões de que foi vítima na paragem de autocarro: isto não é justiça. Mais, o racismo continua dado como não provado e os polícias continuam no exercício das suas funções.
Pese embora o Tribunal da Relação tenha, em certa medida, repreendido o coletivo de juízes presidido por Catarina Pires, esta decisão não comporta quaisquer consequências para uma juíza que descredibilizou e humilhou continuamente Cláudia Simões no decorrer das sessões de julgamento. E, como se tudo isto não bastasse, sabemos, por ora, que será a mesma Catarina Pires a julgar o caso de homicídio de Odair Moniz.
Ainda que a decisão do Tribunal da Relação tenha restituído, em parte, a dignidade pública a Cláudia Simões e à sua filha – que tiveram a sua vida esmagada por cinco anos de violência –, o Estado não é capaz de descriminalizar uma mulher negra periférica e de se responsabilizar pela violência racista que inflige. E é por isso que a coragem e persistência de famílias como a de Cláudia Simões e do movimento social são essenciais: construamos solidariedade porque sem nós não há justiça!
Coletivos subscritores
Africandé Associação
Afrolink
Afrontosas
Associação Cavaleiros de São Brás
Associação Cultual Nêga Filmes
Associação Juvenil Esperança
Associação Mural Sonoro
Braga Fora do Armário
BUALA
Coletiva Corpos Insubmissos
Coletivo Afreketê
Coletivo Consciência Negra
Coletivo Feminista de Sintra
Comité de Solidariedade com a Palestina
Comitê Popular de Mulheres em Portugal
Dentuzona
Djass- Associação de Afrodescendentes
Feira Afro Empreededora do Porto
Femafro - Associação de Mulheres Negras, Africanas e Afrodescendentes em Portugal
Grupo de Ação Revolucionária Antifascista
GTO LX
HuBB- Humans Before Borders
Kilombo - Plataforma de Intervenção Anti-Racista
Mbongi 67
MNE - Mulheres Negras Escurecidas
Nomada Notebooks
NOSSA FONTE – Associação de Intervenção e Difusão Cultural
Núcleo Antifascista de Barcelos
OVO PT | Observatório de Violência Obstétrica em Portugal
Panteras Rosa - Frente de Combate à LesBiGayTransfobia
Parents for Peace
Plataforma Geni
Refugees Welcome Portugal (On The Road - Associação Humanitária)
SaMaNe - Saúde das Mães Negras e Racializadas
SOS RACISMO
Stop Despejos
Teatro GRIOT
The Blacker The Berry Project
UNA - União Negra das Artes
Vida Justa
Vozes de Dentro
Abrir caminho para cumprir Abril, com Marlete e José Carlos na nossa História
Amplamente reproduzida em outdoors gigantes, cartazes de várias dimensões, sites e redes sociais, a imagem aqui em destaque tornou-se, no ano passado, uma bandeira de exaltação do 25 de Abril. “Foi muito bem tirada. Olhamos para ela e vemos força, poder, todo o vigor da juventude, da luta, e das pessoas da altura”, legenda Victor Correia que, numa habitual viagem pelo IC19, reconheceu nessa fotografia a sua própria história. O Afrolink foi ouvi-la, e encontrou Marlete Duarte Lopes Correia Henriques e José Carlos Duarte Lopes Correia a abrir caminho para a nossa Democracia e Liberdade. Vamos com e como eles. Colectivamente.
Amplamente reproduzida em outdoors gigantes, cartazes de várias dimensões, sites e redes sociais, a imagem aqui em destaque tornou-se, no ano passado, uma bandeira de exaltação do 25 de Abril. “Foi muito bem tirada. Olhamos para ela e vemos força, poder, todo o vigor da juventude, da luta, e das pessoas da altura”, legenda Victor Correia que, numa habitual viagem pelo IC19, reconheceu nessa fotografia a sua própria história. O Afrolink foi ouvi-la, e encontrou Marlete Henriques e José Carlos Correia a abrir caminho para a nossa Democracia e Liberdade. Vamos com, e como eles. Colectivamente.
Marlete Henriques com o irmão Victor Correia, junto da imagem que se tornou bandeira da Revolução
Seguia de carro pelo IC19 quando o impacto se deu. “Eh, pá! Aquelas pessoas parecem os meus irmãos”, lembra-se de pensar, ao avistar um enorme outdoor do lado direito da estrada.
As dúvidas acompanharam a viagem de Victor Correia em direcção a Lisboa, até se desfazerem por completo no regresso.
“Passei pelo mesmo sítio, voltei a olhar e disse: só pode ser. Mas foi mais à frente, a caminho do supermercado, que tirei a prova dos nove, ao encontrar a mesma imagem, embora mais pequena, presa a um poste”.
Já estacionado, e diante do cartaz, Victor confirmou a identidade de um dos dois casais da fotografia: Marlete Duarte Lopes Correia Henriques e José Carlos Duarte Lopes Correia. Nada mais nada menos do que os seus irmãos.
“Foi uma grande surpresa”, conta ao Afrolink, enquanto remexe memórias de resistência. “Eu tenho a foto original, e sei que quem a tirou fez várias”, acrescenta, assumindo-se como o guardião natural do espólio da família.
“Acabei por ficar com os álbuns porque fui o único a permanecer em Portugal”, explica, de volta às movimentações que marcaram o pré e pós 25 de Abril de 1974.
“Digamos que todos nós, na nossa família, éramos activos na política, em defesa das Independências. Mas a Marlete e o José Carlos eram ainda mais, e especialmente ela. Os dois estavam sempre nas manifestações”.
Desde afixar cartazes por todo o lado, para divulgar protestos, e apelar à mobilização, até ‘acampar’ noite e dia à porta da prisão de Caxias para exigir a libertação de presos políticos, o envolvimento dos irmãos Correia construía-se também a partir de sólidas raízes familiares.
“O meu pai tinha um rádio, e ouvíamos a BBC para ficarmos a par do que estava a acontecer. Lembro-me que quando assassinaram Amílcar Cabral [20 de Janeiro de 1973], disseram que o chefe dos terroristas tinha sido morto. Foi assim que anunciaram”.
Já depois da Revolução, e reconhecidas as Independências dos países ocupados por Portugal, a família Correia – que era originária de Cabo Verde, e tinha chegado ao país em 1969 –, começou a fazer o caminho de regresso.
Símbolo da Revolução de Abril, conquista de africanos e portugueses
José Carlos acabou por se fixar em Cabo Verde, depois de uma temporada por Angola, e Marlete seguiu para a Guiné-Bissau, embora tenha, mais tarde, voltado para Portugal, onde vive actualmente.
Mas é pelas memórias do irmão Victor que prefere que a sua fotografia seja legendada.
“Essa imagem passou a ser um símbolo da Revolução de 25 de Abril de 1974, em que a Marlete e o José Carlos aparecem como representantes das ex-colónias, do fim da guerra colonial”, aponta o empresário, que, entre avanços e recuos cronológicos, recupera outra circunstância do passado.
“Morávamos em plena cidade de Lisboa, ali na Estefânia, mais propriamente na Rua General Farinha Beirão, em que as traseiras dão para a Polícia Judiciária”, recorda, adiantando que, pela proximidade com os calabouços, antes de 1974 era comum os prisioneiros tentarem fugir a partir das suas casas. “Depois os polícias cercavam aquilo tudo e resolvia-se”.
Victor sublinha ainda que, mesmo após o derrube do fascismo e conquista da Democracia, foi fundamental continuar a mobilizar pessoas em defesa do pleno reconhecimento dos países africanos que foram ocupados por Portugal.
“Havia manifestações em Lisboa, organizadas por nós, com milhares de pessoas. E nesses milhares de pessoas estamos a falar de muitos africanos, porque nessa altura tínhamos os movimentos de libertação de Angola, Moçambique, São Tomé, Cabo Verde, Guiné….havia o PAIGC, MLSTP, MPLA, Frelimo, e todos se batiam pela Independência. Estávamos unidos, a bater o pé nesse sentido”.
Fica assim evidente que o contributo africano para o 25 de Abril – do qual se tem falado por causa da resistência que Portugal encontrou nos territórios colonizados –, se fez também de forma expressiva a partir de Lisboa, onde as Casas representantes dos diferentes países concertaram esforços de luta.
“Uma dessas Casas ainda existe no mesmo sítio, ali na Rua Duque de Palmela, mas hoje tem o nome de Associação Cabo-Verdiana”, nota Victor, revelando que, para além de fóruns de estrategização, esses espaços eram igualmente importantes vias de confraternização.
Insistindo na ideia de que importa mostrar que o 25 de Abril foi uma conquista de todos, portugueses e africanos, o irmão de Marlete e José Carlos destaca o quanto a fotografia na génese desta conversa é mais uma prova disso mesmo.
“Foi muito bem tirada. Olhamos para ela e vemos força, poder, todo o vigor da juventude, da luta, e das pessoas da altura”.
Reparemos em todas elas.
A luta por direitos continua a mobilizar Marlete
Contra a retirada abusiva de crianças às suas famílias, criminalizadas pela pobreza
Sem qualquer notificação, em claro incumprimento do que a lei determina, Carol Archangelo e Carlos Orleans, oriundos do Brasil e residentes no distrito de Viseu, depararam-se com a retirada dos filhos, encaminhados, a partir da escola, para uma família de acolhimento. Já em Lisboa, a são-tomense Ana Paula dos Santos viu uma situação de despejo, executada pela Câmara Municipal de Loures, ser usada como arma para a separar dos filhos, incluindo um recém-nascido. Casos como estes repetem-se um pouco por todo o país, revelando um padrão por parte do Estado: de racismo, xenofobia, e criminalização da pobreza. O problema vem sendo denunciado há anos, sem que uma verdadeira mudança ocorra, realidade que a antropóloga Rita Cássia Silva pretende transformar. Para isso propõe, por exemplo, “criar um fundo nacional de apoio às mulheres e crianças, direccionando às famílias os valores financeiros entre 1.100 e 3.300 euros mensais que são destinados aos centros de acolhimento de crianças e jovens (instituições privadas e/ou religiosas)”.
Sem qualquer notificação, em claro incumprimento do que a lei determina, Carol Archangelo e Carlos Orleans, oriundos do Brasil e residentes no distrito de Viseu, depararam-se com a retirada dos filhos, encaminhados, a partir da escola, para uma família de acolhimento. Já em Lisboa, a são-tomense Ana Paula dos Santos viu uma situação de despejo, executada pela Câmara Municipal de Loures, ser usada como arma para a separar dos filhos, incluindo um recém-nascido. Casos como estes repetem-se um pouco por todo o país, revelando um padrão por parte do Estado: de racismo, xenofobia, e criminalização da pobreza. O problema vem sendo denunciado há anos, sem que uma verdadeira mudança ocorra, realidade que a antropóloga Rita Cássia Silva pretende transformar. Para isso propõe, por exemplo, “criar um fundo nacional de apoio às mulheres e crianças, direccionando às famílias os valores financeiros entre 1.100 e 3.300 euros mensais que são destinados aos centros de acolhimentos de crianças e jovens (instituições privadas e/ou religiosas)”.
por Rita Cássia Silva, antropóloga, artista-pesquisadora, ativista de Direitos Humanos, antirracista
Carta aberta – A salvaguarda dos direitos fundamentais e humanos das crianças e jovens junto às suas famílias de origens e a manutenção das suas identidades culturais em Portugal tem de ser um dos pilares mais importantes do Estado Português
Exmo. Senhor Presidente da República Portuguesa, Professor Marcelo Rebelo de Sousa
Exmos. (as) Senhores (as) Parlamentares da Assembleia da República Portuguesa, Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias
Todas as Entidades portuguesas competentes e personalidades relevantes das áreas da Justiça; Educação; Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
Promoção dos Direitos das Crianças e Jovens; Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género; Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial.
É com preocupação e indignação que reflito sobre os filhos do casal Carol Archangelo e Carlos Orleans ambos naturais do Brasil, que denunciaram recentemente estarem a ser vítimas de xenofobia e perseguição institucional no exercício da maternidade e paternidade dos seus filhos, por parte da CPCJ (Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, entidade similar ao Conselho Tutelar no Brasil) de São Pedro do Sul, em Viseu, Portugal. “Não é você que manda nos seus filhos, nem você que decide por eles. E você tem que engolir isso!”, “Fui ameaçado lá, inclusive em ser preso se alterasse o tom de voz" (sobre o tratamento recebido pela Direção da CPCJ de São Pedro do Sul).
É também com preocupação e indignação que reflito sobre as filhas e o filhinho de Ana Paula dos Santos, natural de São Tomé e Príncipe. Conforme compreendi através das informações tornadas públicas nos meios de comunicação portugueses e pelas associações e movimentos civis, a família tem sofrido violência institucional patrimonial e também psicológica, uma vez que a casa em que morava foi demolida pela Câmara Municipal de Loures e, até ao prezado momento, não lhe foi concedido nenhum realojamento, mesmo que o concelho de Loures tenha mais de 9.000 casas vazias. Reflito sobre como uma entidade como a Câmara Municipal de Loures não demonstra ter uma responsabilidade social efectiva nas vidas das pessoas que foram atingidas por ela e sobre como isto impacta a sociedade em que vivemos nos tempos correntes. Uma vez que há mais famílias a vivenciar situações destas sem que haja responsabilidades por parte da Câmara.
Segundo as informações tornadas públicas por meio das redes sociais e dos demais meios de comunicação no Brasil e em Portugal, as crianças filhas do casal brasileiro Carol Archangelo e Carlos Orleans foram levadas da escola por profissionais do ISS (Instituto da Segurança Social) em meados do mês de março do corrente ano, sem que mãe e pai tivessem conhecimento algum, diretamente para uma família de acolhimento. No entanto, as crianças não eram maltratadas por seus pais. Estavam a ser acompanhadas por uma medida de promoção e proteção pela CPCJ junto aos pais. Esta situação terá ocorrido devido a uma sinalização inicial que foi feita por uma professora numa escola, quando a criança mais pequena tinha 4 anos de idade e demonstrava estar cansada. Segundo denúncia da mãe das crianças, houve um documento escrito por duas pessoas com manifesto preconceito: “Demonstraram sempre que não gostavam da gente, por um julgamento pelo nosso estereótipo e profissão”.
Tendo em consideração que crianças são seres humanos em pleno desenvolvimento, e que têm as suas particularidades comportamentais, que deveriam ser devidamente respeitadas, principalmente em muitas das escolas portuguesas, onde crianças imigrantes e/ou filhas de pessoas com percursos de migração, crianças com NEE (necessidades educacionais especiais) e crianças com deficiência têm vindo a ser maltratadas, discriminadas e negligenciadas por parte de profissionais da educação, reflito se esta criança não estaria a ser discriminada pelo facto dos seus pais serem tatuadores e terem a nacionalidade brasileira. É facto que a profissão de tatuador em Portugal gera preconceitos sociais, porque a prática da tatuagem no senso comum é interpretada ora associada com contextos de criminalidade, ora associada com contextos culturais dos povos não-europeus. Algo herdado do pensamento científico europeu a partir do século XIX. No entanto, a tatuagem é uma das mais antigas expressões humanas, podendo preceder à palavra.
Tendo em consideração a LPCJP (Lei de Proteção às Crianças e Jovens em Perigo), artigos 84.º, 85.º, 86.º, 94.º, 103.º, 104.º, 107.º e 114.º e a CSDC (Convenção Sobre os Direitos das Crianças), artigos 5.º (orientação da criança); artigo 12.º (opinião da criança); artigo 17.º (acesso à informação) e artigo 18.º (responsabilidade parental), tanto as crianças como os seus representantes legais, no caso específico de Carol Archangelo e Carlos Orleans, mãe e pai das crianças, deveriam ter sido institucionalmente informados sobre todos os procedimentos relacionados com a medida de promoção e proteção das crianças aplicada pela CPCJ de São Pedro do Sul, Viseu. Ora, mãe e pai denunciaram que ficaram aterrorizados quando receberam a notícia por parte de agentes da polícia local sobre a retirada institucional dos seus filhos, a partir da escola. Eles não foram informados institucionalmente que havia a possibilidade dos seus filhos serem encaminhados para uma família de acolhimento.
Reflito que se não havia maus-tratos familiares contra as crianças, certamente as crianças vivenciaram e estão ainda a vivenciar o trauma de estarem a ser privadas das suas principais referências afectivas sem que compreendam o porquê de tal acontecimento. Este tipo de procedimento não coloca as crianças em perigo psicologicamente? Não potencializa doenças? Li que após terem sido levadas da escola, as crianças passaram quatro dias sem ver a mãe e o pai e só estiveram com eles durante 45 minutos.
Considero que tais procedimentos devem ser devidamente investigados pelas entidades portuguesas competentes na matéria e devidamente acompanhados pelos Consulados Gerais do Brasil em Portugal. As famílias não podem ser discriminadas institucionalmente em situações que envolvem a necessidade de criação de estratégias e entendimento mútuo em prol do bem-estar de crianças e jovens, não podem ser violentadas em seus direitos fundamentais e humanos.
Mãe e pai, Carol Archangelo e Carlos Orleans, são pessoas trabalhadoras, brasileiras, como inúmeras famílias brasileiras que vêm para Portugal criar melhores condições de vida e viver sem o perigo de enfrentar violências no quotidiano urbano das grandes e pequenas cidades no Brasil. Trabalham em Portugal e contribuem para o desenvolvimento económico e sociocultural do país através da arte realizada no exercício das suas profissões enquanto tatuadores.
Integram a comunidade brasileira que, juntamente com comunidades imigrantes de outros países sul-americanos, africanos, asiáticos, europeus, sustentam o sistema de segurança social português. Nenhuma família, nem imigrante, nem natural de Portugal, deveria vivenciar situações traumatizantes como esta.
Quanto às violências patrimonial, psicológica e institucional que estão a ser desferidas pela Câmara Municipal de Loures contra a mãe Ana Paula dos Santos e a sua família, é preciso refletir que além de terem ficado sem casa, Ana Paula estava grávida e vivenciou com as suas crianças o impensável: ameaças institucionais de que haveria uma separação familiar por parte da CPCJ e que a mãe não sairia da maternidade com o seu filho nascituro nos braços se não tivesse uma morada. As assistentes sociais deram-lhe um prazo de 8 dias para que ela conseguisse uma casa em condições para toda a sua família.
Em um país onde o salário mínimo mensal é de 870€ e o arrendamento de um T2 no concelho de Loures não custa menos que um salário mínimo, com exigências de pagamentos de uma a três rendas adiantadas enquanto pagamento de caução e existência de uma pessoa fiadora, como uma mulher trabalhadora, mãe de família pode se governar? Há neste momento uma constante pressão por parte das assistentes sociais do ISS (Instituto de Segurança Social Portuguesa) para que Ana Paula consiga uma casa. Ana Paula e a sua família estão ainda salvaguardadas numa pensão assegurada pelo ISS, localizada fora do concelho de Loures e sem condições (na pensão não se pode cozinhar, só dormir). As violências psicológica, patrimonial e institucional que foram iniciadas durante o período do pré-parto da mãe Ana Paula dos Santos, auxiliar efetiva num lar de idosos, continuam na fase do pós-parto. Ana Paula é uma mulher trabalhadora com percurso de migração para Portugal. É muito importante que estas violências parem de ser desferidas. Ana Paula dos Santos e a sua família, bem como outras famílias que estão a vivenciar o mesmo, necessitam de paz e de soluções que possam salvaguardá-las nos seus direitos fundamentais e humanos.
Os problemas de vulnerabilidades sociais, como violência doméstica, falta de recursos financeiros, falta de rede de apoio familiar, desemprego, falta de habitação, não podem ser critérios para haver separações familiares institucionalmente. Muito menos que permitam que mulheres parturientes saiam das maternidades portuguesas sem os seus filhos e filhas nos braços, como já aconteceu num passado recente e como infelizmente continua a acontecer. Tais problemáticas devem ser resolvidas através da implementação de políticas públicas que possam potencializar o fortalecimento das mulheres e famílias, para que as crianças não tenham de enfrentar o aprofundamento da vivência da pobreza material e do adoecimento psíquico em seus corpos, com a perda das suas principais referências afetivas e, em muitos casos, com a perda das suas identidades culturais. Retiradas de crianças às mulheres-mães, pais e famílias através de procedimentos irregulares, sem factos comprovados de violências familiares e com criminalização da pobreza, reproduzem violências coloniais e são práticas que devem ser devidamente erradicadas.
Face às situações que estão a ocorrer é relevante recordar que faz exatamente sete anos, neste ano de 2025, que um coletivo formado por ilustres personalidades com diferentes trajetórias de vida, naturalidades, nacionalidades, profissões, bem como organizações da sociedade civil, lutaram perante a Assembleia da República Portuguesa – Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, para que o sistema de proteção à infância e juventude em Portugal pudesse não ter falhas que impedissem crianças e jovens de crescerem saudavelmente junto aos seus familiares. Anabela da Piedade, Dr. António Garcia Pereira, Dr. Gameiro Fernandes, Dra. Rita Cássia Silva, Sra. Amélia dos Santos, Alexandra Borges, Judite França, Ana Vilma Maximiano, Dra. Dulce Galvez, Paula Sequeira, Francisca Magalhães de Lemos, Anabela Caratão, Cristina Bártolo, Nádia Penas. Mulheres-mães de origens portuguesas, brasileiras e africanas, homens-pais, todas e todos tornados vítimas de violências institucionais atrozes. Amarca – Associação e Movimento de Alerta à Retirada de Crianças e Jovens, Não Adoto Este Silêncio – Movimento Verdade, UMAR – União de Mulheres Alternativa e Resposta, Dignidade – Associação para os Direitos das Mulheres e Crianças, APMJ – Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima.
Portugal passou por um acordar através do conhecimento tornado público nos meios de comunicação portugueses sobre situações de violências institucionais desferidas contra crianças e jovens, mulheres-mães (maioritariamente), avós, homens-pais, famílias que estavam a perder as guardas dos seus filhos e filhas, que, por sua vez, estavam a ser institucionalizados indevidamente ou entregues pela justiça a homens-pais agressores de mulheres e crianças. Foram detetadas práticas de escritas de relatórios sociais sem factos comprovados, relatórios psicológicos caluniosos, escritas e discursos discriminatórios, racistas, xenófobos, misóginos, perseguições institucionais... Tais demandas potencializaram um debate televisivo, a primeira série informativa da televisão portuguesa, reportagem jornalística, jornalismo de investigação na TV pública, diferentes modos de denúncias, matérias jornalísticas, uma petição cidadã com mais de 5.000 assinaturas (Não Adoto Este Silêncio – adoções ilegais da IURD e abertura de uma Comissão de Inquérito Parlamentar), reflexões, entre outras iniciativas.
Parece-me salutar que seja da responsabilidade da Assembleia da República Portuguesa - Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, a formação de uma equipa investigativa formada por especialistas independentes e diversos culturalmente para investigar os procedimentos irregulares no âmbito de separações familiares no sistema de proteção de crianças e jovens. Conforme sugestão do ilustre Deputado António Filipe, do PCP (Partido Comunista Português), em 2018, na sua intervenção no âmbito da petição N.º460/XIII (3.ª).
Como consequências das lutas civis no âmbito da proteção de crianças e jovens em Portugal perante violações de direitos fundamentais e humanos das crianças e famílias, considero ser relevante que mantenhamos as nossas memórias bem lúcidas e que as organizações formadas por pessoas das comunidades imigrantes tenham acesso ao conhecimento:
A nível governamental, o Presidente de Portugal, Professor Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou a Lei n.º 39/2019, 2019-06-18. Um projeto Lei que foi proposto na Assembleia da República, por parte do PCP (Partido Comunista Português), após a audição no âmbito da Petição N.º 460/XIII/3. Todos os partidos políticos portugueses votaram a favor, com a surpreendente abstenção do PS (Partido Socialista). Na prática, profissionais como juízes, procuradores, assistentes sociais, psicólogos, advogados, dirigentes religiosos, entre outros, não podem ser membros dos órgãos sociais de centros de acolhimentos de crianças e jovens considerados como estando em perigo e trabalharem em seus processos, relatórios sociais e outros documentos de crianças e jovens que vão ser colocados nestes mesmos centros de acolhimento. No entanto, é preciso ter umaespecial atenção, porque conforme o próprio Presidente Marcelo refletiu, a Lei poderia ter ido mais longe ao abranger também os profissionais técnico das instituições visadas que são quem frequentemente está em contacto directo com as situações em análise.
O Estado Português foi condenado pelo TEDH – Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, devido ao processo de Anabela Caratão, cidadã de origem portuguesa que foi vítima de violência doméstica, e que teve os seus dois filhos bebés gémeos separados dela e entre si pela CPCJ, dentro de um hospital no concelho de Loures. Anabela Caratão, que era artista plástica, ficou totalmente impedida de conviver com os seus filhos e quando lhe encaminharam para começar a fazer visitas assistidas por profissionais da assistência social, a entidade onde as tais visitas deveriam ocorrer cobrou-lhe financeiramente para que Anabela Caratão pudesse ver o próprio filho.
Houve a condenação de duas profissionais da assistência social do ISS – Instituto da Segurança Social, que foram responsáveis pela prática da retirada das filhas de Ana Vilma Maximiano, cidadã de origem portuguesa que foi vítima de violência doméstica e ameaçada de ter as suas filhas institucionalizadas. No entanto, encaminharam duas crianças ao agressor de Ana Vilma e a outra criança a um progenitor totalmente ausente, desvinculado afetivamente da criança. Ana Vilma Maximiano que era funcionária pública, fez greve de fome em frente ao Palácio da Presidência da República, em Lisboa, a fim de denunciar as violências institucionais que estavam a ser desferidas contra as suas filhas e contra si, e fundou, com outras mulheres – mães e famílias vítimas de violências privadas e/ou institucionais –, a associação civil AMARCA – Associação de Alerta à Retirada de Crianças e Jovens.
Em 2021, ainda no rescaldo da pandemia de COVID-19, com o apoio da DGArtes e de entidades parceiras portuguesas (Apuro, Femafro, Teatro Bocage), mulheres-mães imigrantes naturais do Brasil, de Portugal e de África, que foram vítimas de violência doméstica e institucional por parte do Estado Português e do Estado Brasileiro, puderam denunciar tais violências através da ficção. O projeto Epifanias Artes: audioblogue, com e para pessoas que sonham igualdade, lançou uma série de cinco performances radiofónicas cujas transmissões em direto de cada um dos cinco episódios foram seguidas de conversações aprofundadas com ilustres personalidades da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa). Algo que foi inovador em Portugal, dado que mulheres tornadas vítimas de violências institucionais são quase sempre silenciadas e invisibilizadas pelas instituições. Esta intervenção gerou um relatório onde propus ao governo português sugestões de boas práticas como: criar a possibilidade das mães, se assim o quiserem, poderem acompanhar seus filhos e filhas pequenos durante os primeiros anos de vida (1 - 4), anos estes que são cruciais para o desenvolvimento da saúde na infância, tendo como exemplo os países nórdicos; erradicar a prática de privação materna institucional com a desvinculação materno-afetiva entre mães e filhos – violência de género e violência contra a criança, dado que se trata de uma prática secular; criar legislação para criminalização de práticas de escritas de relatórios sociais e/ou psicológicos caluniosos, omissos, racistas, xenófobos e/ou discriminatórios contra mulheres e crianças, e no geral; possibilitar a implementação de financiamento para a criação de redes comunitárias para que crianças possam ser cuidadas por pessoas em que mães, pais e encarregados de educação conheçam e confiem, durante os seus períodos laborais; salvaguardar as crianças de situações de pobreza extrema e outras violências, aquando de situações de desemprego das suas mães e famílias: nenhuma mulher deveria ficar sem ter acesso ao apoio social de um valor básico de sobrevivência que lhe permita sobreviver com os seus filhos e filhas; salvaguardar crianças e mulheres em situações que estejam a vivenciar algum tipo de vulnerabilidade social e a necessitar de habitação. Mães e filhos não podem ser colocados na rua, como pudemos observar através das redes sociais e da comunicação social, durante o período de pandemia/sindemia, nem mulheres podem parir sem assistência alguma, na rua e serem criminalizadas, como no caso da jovem mulher cabo-verdiana Sara Furtado, entre outras sugestões.
Apesar de ter recebido a confirmação de receção do relatório por parte do Gabinete do Primeiro – Ministro, na altura, Dr. António Costa, até o prezado momento não disponho de informações sobre os debates políticos que deveriam existir em torno das temáticas outrora apresentadas e que continuam a suscitar profundas reflexões, uma vez que mulheres, crianças e famílias continuam a ser separadas devido às práticas seculares que são inconcebíveis neste nosso século.
A região norte de Portugal, onde o casal brasileiro Carol Archangelo e Carlos Orleans reside, é emblemática no que diz respeito às práticas de revitimizações de mulheres e crianças, tornadas vítimas de violências privadas e/ou institucionais. Vergonhosos tratamentos decorreram no Norte, contra as cidadãs brasileiras ex-vítimas de violência doméstica: Liliane Fraga, Adriana Botelho e Karine Ribeiro. Desde a retirada da criança, ainda sendo amamentada pela mãe, por parte da CPCJ, para entrega à família de homem agressor, passando por expulsão de casa com ajuda da força policial e retirada de criança com alegações de juiz a dizer que não sabia se a mãe de nacionalidade brasileira era de “favela” ou “empresária”, até sequestro de criança do Brasil para Portugal. Seria fundamental que o Governo português se atentasse de facto aos modos ignóbeis com que muitas das mulheres e crianças e famílias de nacionalidade brasileira ou com dupla nacionalidade têm vivenciado em seus corpos por parte de instituições. Até o prezado momento não há conhecimento por parte de organizações civis feministas brasileiras, organizações de direitos humanos ou pelo Instituto Maria da Penha que mulheres e crianças de nacionalidade portuguesa sejam torturadas psicologicamente, fisicamente e/ou patrimonialmente no Brasil.
Por fim, como é de conhecimento público, o Estado Português faculta aos centros de acolhimentos de crianças e jovens considerados em perigo, valores financeiros entre 1.100 e 3.300 euros mensais por cada criança/jovem a viver em instituições. O Plano de Ação de Garantia à Infância (2022-2030), lançado pelo governo português, liderado pelo PS, em Janeiro de 2023, preconiza a promoção dos direitos das crianças tendo em vista a melhoria da educação, saúde, segurança e proteção, a fim de que possam crescer em ambientes familiares e sociais saudáveis. Para tal, assume o objetivo de desinstitucionalização das crianças e jovens progressivamente. Bem como, a necessidade de haver famílias de acolhimentos ao invés de centros de acolhimentos em Portugal (uma responsabilidade que certamente vai ao encontro dos encaminhamentos da ONU, em relatórios sobre as consequências das institucionalizações na saúde mental das crianças, jovens e adultos).
Pergunto-vos se ao criar um fundo nacional de apoio às mulheres e crianças, direcionando às famílias os valores financeiros entre 1.100 e 3.300 euros mensais que são destinados aos centros de acolhimento de crianças e jovens (instituições privadas e/ou religiosas), o Estado Português não estará a potencializar a dignificação das famílias, salvaguardando o direito das crianças às suas famílias de origens, às suas identidades culturais, o direito das mulheres a viver com plenitude a maternidade, não potencializará a confiança social nas instituições do Estado? O desenvolvimento da saúde coletiva, ao invés de doenças psicossomáticas?
Pergunto-vos se ao criar um plano de formação nacional obrigatório para todas as pessoas profissionais das áreas da assistência social, justiça, psicologia, educação, entre outras, onde possam acessar aos conhecimentos sobre origens e consequências do racismo, da xenofobia, da discriminação de género, da aporofobia, do classismo, da discriminação religiosa, da revitimização de violências, o Estado Português não estará a potencializar uma consciencialização coletiva sobre ética, direitos fundamentais, direitos humanos, deveres e a aprendizagem de metodologias não excludentes?
Estamos a normalizar a barbárie: entre a indignação pontual e o silêncio estrutural
Num “gesto provocador”, conforme o apresenta, a empresária de impacto social, Myriam Taylor, perguntou ao ChatGPT: “Se fosses o diabo, como destruirias a Humanidade?”. A resposta, conta-nos, foi clara: “Através da erosão da empatia, da glorificação do ego, da divisão, da normalização da injustiça, da destruição da confiança e da apatia perante o sofrimento”. Mais do que notar que é “exatamente o caminho que estamos a seguir”, neste artigo de opinião Myriam aponta soluções. “O desafio é claro e urgente: precisamos de resgatar a ideia de coletivo. De voltar a ensinar – em casa, nas escolas, nos media – que a liberdade e a justiça não são bens individuais. Que sem compaixão, sem responsabilidade partilhada, não há sociedade possível”.
Num “gesto provocador”, conforme o apresenta, a empresária de impacto social, Myriam Taylor, perguntou ao ChatGPT: “Se fosses o diabo, como destruirias a Humanidade?”. A resposta, conta-nos, foi clara: “Através da erosão da empatia, da glorificação do ego, da divisão, da normalização da injustiça, da destruição da confiança e da apatia perante o sofrimento”. Mais do que notar que é “exatamente o caminho que estamos a seguir”, neste artigo de opinião Myriam aponta soluções. “O desafio é claro e urgente: precisamos de resgatar a ideia de coletivo. De voltar a ensinar – em casa, nas escolas, nos media – que a liberdade e a justiça não são bens individuais. Que sem compaixão, sem responsabilidade partilhada, não há sociedade possível”.
Myriam Taylor perguntou ao ChatGPT: “Se fosses o diabo, como destruirias a Humanidade?”
Texto de Myriam Taylor
Vivemos tempos de distanciamento emocional profundo. Um tempo em que o grito coletivo foi substituído por um scroll distraído. Onde a empatia deixou de ser um impulso natural para se tornar uma raridade. Onde o sucesso é medido pelo isolamento vitorioso, e não pela construção partilhada.
Estamos a educar crianças e jovens para o desempenho, não para a consciência. Ensinamos a competir, não a cooperar. A destacar-se, não a cuidar. E o resultado está à vista: uma sociedade muitas vezes incapaz de reagir com profundidade e continuidade à dor do outro.
Na semana passada, Portugal foi confrontado com um crime chocante: uma menor foi violada por três jovens que filmaram o ato e partilharam as imagens nas redes sociais. O caso foi amplamente noticiado e houve manifestações de indignação pública – por parte de cidadãos, organizações e plataformas de direitos humanos. No entanto, esta comoção, apesar de genuína, esbate-se rapidamente na espuma dos dias. Falta-nos continuidade, estruturas de proteção eficazes e um grito coletivo que dure mais do que um ciclo de notícias.
Este caso não é uma exceção. É um reflexo. O mesmo padrão repete-se em escala global. Em Gaza, mulheres e crianças são massacradas todos os dias, com o mundo a assistir. No Congo, mulheres continuam a ser vítimas de violência sexual extrema como arma de guerra, e crianças são exploradas como mão de obra escrava na extração de coltan e outros recursos que alimentam os nossos dispositivos digitais. Há indignações pontuais, sim – mas o que se impõe é um silêncio estrutural, normalizador.
A barbárie já não choca como deveria. Está a ser digerida em pequenas doses – e isso é perigosíssimo. Porque a barbárie instala-se não com gritos, mas com ausências: de cuidado, de mobilização, de responsabilização.
Quando educamos apenas para o “eu”, matamos o “nós”. E quando o “nós” desaparece, deixamos de reconhecer a dor do outro como nossa.
O desafio é claro e urgente: precisamos de resgatar a ideia de coletivo. De voltar a ensinar – em casa, nas escolas, nos media – que a liberdade e a justiça não são bens individuais. Que sem compaixão, sem responsabilidade partilhada, não há sociedade possível.
Esta inquietação levou-me, num gesto provocador, a perguntar ao ChatGPT: “Se fosses o diabo, como destruirias a Humanidade?”. A resposta foi clara: através da erosão da empatia, da glorificação do ego, da divisão, da normalização da injustiça, da destruição da confiança e da apatia perante o sofrimento. Soa familiar? Porque é exatamente o caminho que estamos a seguir.
Mas ainda há tempo. Este texto não é só um grito. É um apelo. Que sejamos vizinhos atentos, cidadãos ativos, educadores conscientes. Que não deixemos o horror passar como mais um vídeo no feed.
Estamos num ponto de viragem. Somos todos chamados a tomar uma posição. Em que lado escolhemos estar?
Eva Rapdiva - o backlash em dois países e a urgência de falarmos sobre múltipla pertença e legitimidade
Licenciada em Ciência Política e Relações Internacionais, pós-graduada em Gestão Financeira e mestranda em Desenvolvimento Global, Eva Cruzeiro, popularizada pelo nome artístico Eva Rapdiva, é candidata a deputada pelo Partido Socialista, ocupando a 8.ª posição na lista do círculo eleitoral de Lisboa. A notícia está a desencadear uma onda de contestação, sobre a qual Myriam Taylor, empresária de impacto social, reflecte neste artigo de opinião.
Licenciada em Ciência Política e Relações Internacionais, pós-graduada em Gestão Financeira e mestranda em Desenvolvimento Global, Eva Cruzeiro, popularizada pelo nome artístico Eva Rapdiva, é candidata a deputada pelo Partido Socialista, ocupando a 8.ª posição na lista do círculo eleitoral de Lisboa. A notícia está a desencadear uma onda de contestação, sobre a qual Myriam Taylor, empresária de impacto social, reflecte neste artigo de opinião.
Texto de Myriam Taylor
A nomeação de Eva Rapdiva para a lista do Partido Socialista às eleições legislativas fez estalar um debate que ultrapassa largamente as fronteiras da política. Assistimos a uma reacção em cadeia — tanto em Portugal como em Angola — que, mais do que qualquer questão partidária, nos convida (ou obriga) a reflectir sobre pertença, identidade e legitimidade.
Eva é, ao mesmo tempo, portuguesa e angolana. Não “meio de cá e meio de lá”. É de cá e de lá, inteira. Afro-europeia, mulher, artista, com uma voz pública forjada na denúncia da injustiça social e racial. E é precisamente essa pluralidade que parece ter incomodado tantos, em dois contextos que, embora distintos, continuam a resistir à ideia de múltiplas identidades coexistirem num mesmo corpo, numa mesma história.
Em Portugal, vimos os ataques de sempre: o questionamento sobre quem tem direito a representar o país. Como se a negritude fosse um corpo estranho à identidade portuguesa, como se o simples facto de Eva existir e falar com autoridade fosse uma afronta à ordem estabelecida. Já em Angola, surgiram críticas num registo diferente, mas igualmente revelador — a ideia de que o envolvimento dela na política portuguesa significaria um afastamento das raízes ou um “esquecimento” da pátria.
Importa recordar, neste contexto, que há alguns anos a então deputada e líder do CDS, Assunção Cristas, mostrou no Parlamento o seu passaporte angolano com orgulho — e esse gesto, embora simbólico, nunca suscitou qualquer tipo de comoção social, muito menos indignação pública. Nenhum debate sobre "dupla lealdade", nenhuma exigência de explicações sobre "a quem serve". O contraste é gritante. E diz muito sobre como a cor da pele e a origem racializada continuam a definir a forma como legitimamos (ou não) a presença de alguém nos espaços de poder.
É curioso (e doloroso) constatar como, mesmo nos espaços que deviam acolher-nos, continuamos a ser desafiadas a “escolher um lado”. Como se a nossa existência tivesse de caber numa única caixa, numa só bandeira, numa só narrativa. Mas nós, filhas da diáspora, somos feitas de muitas camadas. E isso não é uma falha — é uma força.
A reacção à candidatura da Eva mostra-nos como ainda há um longo caminho a percorrer na aceitação da pluralidade identitária. Mas também revela que a sua presença incomoda porque quebra expectativas. Porque desloca o centro. Porque obriga-nos a repensar o que significa ser portuguesa, ser angolana, ser europeia — e quem tem o direito de ocupar os lugares de decisão.
Eva Rapdiva não está “a ser permitida” ocupar um espaço. Está a reclamar, com legitimidade e mérito, um lugar que também é seu. E isso é revolucionário. Não apenas para ela, mas para todas nós que crescemos a ouvir que não era para “gente como nós”.
Que este momento sirva para nos unirmos em torno de algo maior: a construção de uma sociedade que abrace a complexidade das nossas existências. Que reconheça que somos plurais, móveis, e que isso não nos torna menos, mas muito mais.
Eva representa a possibilidade de um novo tempo. E é nosso dever assegurar que essa possibilidade floresça — com coragem, com dignidade e com amor.
Plantar vida humana, colher regeneração e celebrar, ou, numa palavra: Úlulu
Entre viagens a São Tomé e Príncipe, destino que marcou a sua rota durante cerca de três anos, a artista transdisciplinar Raquel Lima encontrou raízes que desconhecia, e, a partir delas, começou a ‘escavar’ memórias e rituais que cultivam outros saberes e fazeres, terreno fértil para plantar futuros alternativos. A performance “Úlulu” floresce dessa sementeira, e estreia-se hoje, 3, às 19h30, no TBA – Teatro do Bairro Alto, em Lisboa, pretexto para o Afrolink conversar com a criadora. Em palco acompanhada da mãe, Maria Palmira Joaquim, e do músico Okan Kayma, Raquel desafia-nos a sentir. Sem “querer fechar uma interpretação daquilo que está em cena, queremos que o público se questione”.
Entre viagens a São Tomé e Príncipe, destino que marcou a sua rota durante cerca de três anos, a artista transdisciplinar Raquel Lima encontrou raízes que desconhecia, e, a partir delas, começou a ‘escavar’ memórias e rituais que cultivam outros saberes e fazeres, terreno fértil para plantar futuros alternativos. A performance “Úlulu” floresce dessa sementeira, e estreia-se hoje, 3, às 19h30, no TBA – Teatro do Bairro Alto, em Lisboa, pretexto para o Afrolink conversar com a criadora. Em palco acompanhada da mãe, Maria Palmira Joaquim, e do músico Okan Kayma, Raquel desafia-nos a sentir. Sem “querer fechar uma interpretação daquilo que está em cena, queremos que o público se questione”.
De cima: Okan Kayma, Raquel Lima e Maria Palmira Joaquim, fotografados por Pedro Jafuno
Num vai-e-vem que se tornou rotina, entre a morada em Portugal e uma investigação académica em São Tomé e Príncipe, Raquel Lima aterrou numa palavra: Úlulu. “Significa placenta”, traduz a poeta e artista transdisciplinar, enquanto busca entendimentos que vão muito além de dicionários, e da expressão em língua em forro.
“As pessoas referem-se a úlulu como um ritual. Falaram-me dessa prática antiga, de enterrar, nos quintais de casa, a placenta e o cordão umbilical dos recém-nascidos, para que, mais tarde, por mais que cresçam e viajem, saibam sempre como voltar ao lugar de origem”.
Fascinada com essa ideia de “retorno simbólico”, a também investigadora relaciona-a com as suas próprias viagens.
“O meu pai é de São Tomé, mas fui educada pela minha mãe, que é angolana. Então, não cresci com a cultura são-tomense próxima. Toda essa parte fui conquistar, de certa forma, já adulta, depois dos 30 anos”.
Ainda a ligar os pontos da própria história, Raquel encontra no úlulu não apenas identificação individual, mas também conexão colectiva. “Acho que toda a diáspora negra, em parte, passa por esse percurso, que é este lugar de Sankofa, de olhar para trás”.
Nesse “retorno”, a artista calibra perspectivas: “Passei a dizer plantação da placenta, em vez de enterro, porque tem essa ideia de germinar uma ligação inequívoca, e para sempre, com a pessoa que nasce”.
O movimento de leitura e releitura, fincado em São Tomé e Príncipe, permitiu deslindar novas ‘sementes’. “Ao longo da minha pesquisa, fui percebendo que há outros países com rituais semelhantes”, indica Raquel, explicando que no Brasil, por exemplo, há relatos de oferenda da placenta ao mar – em reverência a Iemanjá –, como forma de protecção contra infortúnios de afogamentos, e atracção de prosperidade e abundância. Já na Colômbia, para prevenir eventuais derivas criminosas, coloca-se o cordão umbilical dentro de uma pequena caixa, para que os ratos não o apanhem, “porque se algum o comer, a criança pode tornar-se ratera, ou seja, ladra”.
Unidos pelo momento da nascença, os diferentes rituais cruzam-se na performance “Úlulu”, que se estreia hoje, 3, às 19h30, no TBA – Teatro do Bairro Alto, em Lisboa, e pode ser vista até sábado, 5.
“A certa altura, vamos ouvir uma senhora na Colômbia, num quilombo de São Basílio de Palenque [considerada a primeira cidade negra livre de toda a América]”, aponta a criadora do espectáculo, antecipando outras participações. “Também vamos escutar uma senhora de Olinda, que fica em Recife, no Brasil, e outra que está em São Tomé, a falar em forro”.
Interessada em contrastar as múltiplas versões desse ritual, Raquel faz do palco um espaço de expressão documental, desde o primeiro momento alargado aos espectadores.
Ritualizar a ida ao teatro
“Não queremos que seja um espectáculo em que as pessoas entram, assistem, aplaudem e vão embora. O público está connosco, acompanha os nossos rituais, tenta ganhar consciência dos seus próprios rituais individuais…do que é fazer um gesto ritualístico e colectivo. E, se tudo correr bem, depois continua esse exercício em casa”.
A proposta, antecipa a artista transdisciplinar, é de “tirar um bocadinho o teatro do lugar de consumo. Ou seja, se a ida ao teatro também for um ritual, como é que essa prática pode acontecer?”.
Desde logo, aponta a criadora de “Úlulu”, “há uma procura de gerar um certo desconforto no público”, a partir da noção de que existe alguma ansiedade à chegada para um espectáculo, de “começar a atribuir significados, a tentar perceber para onde é que as personagens vão”.
Sem nos darmos conta, cena após cena, dia após dia, desabituamo-nos de apenas estar e ficar em silêncio. Aliás, questiona Raquel, em que medida chegamos ao lugar que ocupamos numa plateia? Estamos inteiros e disponíveis para a experiência, ou cheios de ausências que tornam o corpo visível, mas não presente?
Entre questionamentos, a poeta continua a ensaiar respostas. Reconhece, por exemplo, que “o texto não pode ser tão importante”, porque “o silêncio tem de prevalecer, tal como o gesto, e o movimento”.
Além do desafio de despir “Úlulu” de ‘demasiados’ palavras – “tinha um texto muito maior, e tive de o lapidar” –, a artista propõe-se vestir a performance de um certo breu.
“O que se faz no escuro? Pretendo contrariar a ideia de iluminismo e da projecção de luz como um lugar de revelação, porque na penumbra também se revela muita coisa”.
É disso exemplo o mito de Nanã, pontua Raquel, que traz a referência do Candomblé. “Nanã foi buscar terra ao fundo da lagoa, lugar de escuridão, para Oxalá criar a Humanidade. Então, interessa-me trabalhar a obscuridade e o tempo para respirar, que também é o tempo de gestação, embora não necessariamente de gestar, mas de virmos desse silêncio, desse úlulu, dessa placenta no escuro”.
Aqui, de novo, encontramos uma ideia de retorno às origens, agora externalizada na relação com a audiência.
No ciclo de vida
Sem “querer fechar uma interpretação daquilo que está em cena, queremos que o público se questione sobre os seus gestos quotidianos, sobre os seus lugares de pertencimento, que compreenda que pertencemos acima de tudo, ao nosso corpo, e que reflicta sobre como é que esse corpo gera o nosso próprio lugar”.
Em palco acompanhada da mãe, Maria Palmira Joaquim, e do músico Okan Kayma, a criadora desafia-nos a sentir.
“Vamos estar sempre a pedir ao público para interagir, para que possa chegar plenamente. Por exemplo, através de rituais muito pequeninos, em que as pessoas não têm de sair do lugar, não têm de se sentir desconfortáveis nem expostas”.
Nesta espécie de viagem de regresso a nós próprios, geográfica e emocionalmente impulsionada, “Úlulu” convoca-nos também a olhar para o Planeta.
“Nós não somos o centro, estamos aqui de passagem, com os nossos retornos, as nossas migrações. Mas há um lugar de parar, observar e escutar a Natureza: o que é que diz uma cascata? O que diz uma rocha? O que dizem as fibras vegetais?”.
Entre diálogos, Raquel sublinha que a regeneração planetária não tem de se fazer necessariamente através do ser humano. “Ainda que nós desapareçamos do planeta, há materiais que ficam, nomeadamente as fibras vegetais, com as quais nós vamos trabalhar muito em palco. Porque esses materiais vão ter histórias para contar e, eventualmente, vão-se regenerar”.
Partindo da ideia de que “existem rituais que servem exactamente para nos conectar com o Planeta”, a investigadora destaca a importância do “cuidado com o gesto ritualístico quotidiano”, que inclui rotinas como lavar os dentes ou a automassagem.
“Como é que esses momentos não só são retorno ao corpo, mas muitos deles estão-nos a falar sobre uma ligação ancestral ao próprio Planeta?”.
O úlulu abre muitas possibilidades de resposta.
“Plantar uma placenta é extremamente potente, porque é uma parte de nós poderosíssima em termos de sistema imunitário e células estaminais”, nota Raquel, realçando o efeito expansor deste ritual. “Imaginemos, então, como a quantidade de úlulus plantados em São Tomé fertiliza o próprio solo. Imaginemos esse lugar do nosso corpo voltar à terra enquanto composto que se decompõe, para depois germinar e criar mais vida”. Ciclicamente.
“O úlulu dá-me esta ideia de ritmo, de um mantra circular e do movimento repetitivo, mas que nunca se repete porque é sempre diferente. Então, é um pretexto para falar de outro tipo de ligações mais globais”.
Regeneração colectiva e celebração
Diante das ameaças que vivemos, em que a Paz e a Justiça surgem cada vez mais fragilizadas perante sucessivas crises – do clima às migrações, passando pela democracia –, podem os rituais de “retorno” às origens oferecer uma via de regeneração colectiva? Haverá futuro sem respeitar os ciclos e ritmos da natureza humana e ambiental?
“Eu tento não romantizar porque, realmente, quando olhamos à volta vemos muito colapso a acontecer, e é importante ter essa consciência. Mas eu também digo que há aqui um lugar de esperança”, nota Raquel, antes de declamar um pedaço do texto de “Úlulu”. Escrito assim: “E ainda que o nosso mundo já tenha acabado ou esteja a acabar, as crianças dormem aconchegadas nas costas de anciãs, e respiram num ritual, o mais profundo ritual que não se repete. Cada inspiração é única, cada inspiração é diferente, cada dia é um dia”.
A mensagem, assumidamente positiva – porque também importa esperançar e celebrar – é indissociável da vida que a compõe.
“Há aqui um lugar muito familiar. O meu companheiro faz apoio à criação. A minha mãe está em cena, o meu bebé está em todo o lado. Então, não é um espectáculo separado da vida, se é que isso é sequer possível”.
Certa da “impossibilidade de dissociar” a sua existência da performance, Raquel considera que é justamente isso que a peça tem de decolonial.
“A Tobi [Ayé], a nossa consultora de cosmovisão indígena, explica isso melhor do que qualquer pessoa. Ela disse: ‘Raquel, receberes a tua mãe em palco é, em si mesmo, um ritual’. Eu acho que esse ritual tinha de acontecer, que é o ritual de a minha mãe entender-se como mãe, eu entender-me como filha, e falarmos sobre isso. De eu pedir-lhe essa bênção. Isso foi uma chave durante este processo criativo. Mudou tudo”.
Entre curas, traumas, colapso, plantação, colheita, regeneração e celebração, a criadora de “Úlulu” recorda-nos também que o processo de descolonização das mentes é longo.
“Não dá para adormecer. Aliás, eu acho que o colonialismo é esse estado de sono, esse lado de sonolência”. Pelo contrário, sublinha Raquel,“o movimento decolonial é estar constantemente desperto e constantemente a despertar”.
“Úlulu” abana-nos nessa direcção, ao mesmo tempo que se propõe encaminhar-nos para um lugar da poesia: “De se dizer uma frase que pode ser interpretada de várias formas, mas que acima de tudo tem de ser sentida”. Em conexão connosco, em relação com as outras pessoas, e na ligação ao Planeta.
Maria Palmira Joaquim, fotografada por Pedro Jafuno
Direcção artística e criação
Raquel LimaInterpretação
Maria Palmira Joaquim, Okan Kayma, Raquel LimaCenografia
Eneida TavaresDesenho de luz
Lui L’AbbateFigurinos
Neusa TrovoadaSonoplastia e composição original
Okan KaymaVídeo / filmagens
Sara MoraisMovimento
Lucília RaimundoConsultora de cosmovisão indígena
Tobi AyéApoio à criação
Danilo LopesVozes
Ana Maria Semedo, Elcínia Dias, Eliane Borges, Eneida Tavares, Ernestina Miranda, Marilene de Andrade, Tobi Ayé
Olhar externo
Dori Nigro
Produção
Joana Costa Santos
Administração
Agência 25
Coprodução
Teatro do Bairro Alto, Teatro Municipal do Porto / FITEI
Coprodução em residência
OSSO, Alkantara, O Espaço do Tempo
Apoio
República Portuguesa – Cultura / DGARTES – Direção-Geral das Artes, Câmara Municipal de Lisboa / Polo Cultural das Gaivotas, Culturgest, Rural Vivo, Santos & Monteiro
Dos saberes do arroz africano à libertação das memórias, Zia Soares revela-nos um outro mundo
Titulada em crioulo guineense, a peça “Arus Femia” – que em português significa “Arroz Fêmea” –, estreia-se esta semana no Teatro do Campo Alegre, no Porto, com duas sessões. A primeira está marcada para sexta-feira, 21, às 19h30, seguindo-se outra no sábado, 22, às 21h30. Neste dia, as reflexões desembrulhadas em palco estendem-se ao programa da Conferência “Arroz Africano no Mundo Atlântico”, que acontece a partir das 14h30, no Rivoli.
Ia e regressava de Bissau, sem outro plano a não ser trabalhar nos campos de arroz. “Interessava-me saber como é que se planta”, conta Zia Soares, que, durante quatro anos, desdobrou viagens à Guiné e, com elas, viu germinar a sua mais recente criação: “Arus Femia”. Presente no ensaio de imprensa, realizado no Espaço da Penha, em Lisboa, o Afrolink conversou com a encenadora e actriz sobre esta produção, que “desarruma” os nossos olhares, escutares e falares. “É sobre isto que este espectáculo trabalha: a criação de um outro mundo, de uma outra língua, de outras perspectivas”. Titulada em crioulo guineense, a peça – que em português significa “Arroz Fêmea” –, estreia-se esta semana no Teatro Campo Alegre, no Porto, com duas sessões. A primeira está marcada para sexta-feira, 21, às 19h30, seguindo-se outra no sábado, 22, às 21h30. Neste dia, as reflexões desembrulhadas em palco estendem-se ao programa da Conferência “Arroz Africano no Mundo Atlântico”, que acontece a partir das 14h30, no Rivoli. “Para além da obra artística, esta é uma discussão para a sociedade civil”, sublinha Zia Soares, que, de inquietação em criação, encontra novas chaves de leitura do mundo. Desta vez, os questionamentos atravessam a história do arroz africano no mundo Atlântico. “Como uma espécie domesticada de forma independente na África Ocidental há mais de três mil anos chegou às plantações do Novo Mundo? Que protagonismo tiveram as mulheres escravizadas no estabelecimento deste alimento africano vital nas Américas?”. Do palco para a conferência, libertam-se memórias.
Fotos de Arlindo Camacho (também de capa), aqui com elenco do espectáculo “Arus Femia”, que inclui elementos do grupo cultural da Guiné-Bissau, Netos de Bandim
Sem uma única palavra, o diálogo constrói-se de silêncios e gestos, num serpentear de corpos e expressar de pés. Com eles desponta um movimento comum, tão harmonioso quanto misterioso.
“O que é isto? Quem és tu? O que é que tu queres? Não dizes nada?”.
Há uma estranheza neste encontro-confronto que nos prende a atenção, desarruma pensamentos, e marca os primeiros minutos de “Arus Femia”, a mais recente criação de Zia Soares.
“Nós estamos habituados a muito ruído, de todo o tipo, tanto sonoro como visual. E este espectáculo traz outra perspectiva. Há uma possibilidade de mundo no silêncio”, introduz a encenadora e actriz, propondo novos olhares, escutares e falares.
“Na expressão europeia, euro-centrada, as palavras, o que se diz e aquilo que se escreve têm uma hegemonia sobre tudo o resto”, nota a criadora, interessada em conhecer – e dar a conhecer – outros modos de comunicar.
“O silêncio não é uma incapacidade de expressão. Não é uma assombração, e sim um assombramento, uma forma de expressão completamente diferente, que nos diz que há um outro entendimento possível que desconhecemos”.
Mais do que teorizar sobre alternativas de ser e de estar, Zia faz por vivê-las.
Foi assim que, durante quatro anos, desdobrou viagens à Guiné-Bissau, sem outro plano a não ser trabalhar nos campos de arroz: “Interessava-me saber como é que se planta”.
O processo, construído na ligação a, e com outras mulheres e comunidade, acabou por produzir “Arus Femia”, espectáculo titulado em crioulo guineense, e que, em português, significa “Arroz Fêmea”.
“Há um entendimento maior que me acompanha: de que há muitas coisas que tenho de saber, que tenho de descobrir, que tenho de escavar, e em que tenho de mergulhar. Essa é a certeza que tenho, mas aquilo que vou encontrar quando mergulho é desconhecido também para mim”.
Não surpreende, por isso, que a experiência nos arrozais tenha acontecido desligada de programações artísticas, guiada por essa ânsia de conhecer, espicaçada por conversas e leituras sobre o contributo africano para a globalização do consumo do arroz.
“Como uma espécie domesticada de forma independente na África Ocidental há mais de três mil anos chegou às plantações do Novo Mundo? Que protagonismo tiveram as mulheres escravizadas no estabelecimento deste alimento africano vital nas Américas?”.
O palco em discussão
A proposta de reflexão, presente na Conferência “Arroz Africano no Mundo Atlântico”, prolonga a acção de “Arus Femia”, que se estreia esta semana no Teatro Campo Alegre, no Porto, com duas sessões.
A primeira está marcada para sexta-feira, 21, às 19h30, seguindo-se outra no sábado, 22, às 21h30, dia em que a apresentação é antecedida, a partir das 14h30, no Rivoli, por essa Conferência.
“Para além da obra artística, esta é uma discussão para a sociedade civil”, sublinha Zia Soares, que, de inquietação em criação, encontra novas chaves de leitura do mundo, neste caso apontadas para reflectir sobre soberania alimentar, crise climática, migrações e feminismo. Sem quaisquer pressões de entendimentos, garante a criadora.
“Não me sinto responsável pela forma como o público vai receber e interpretar o espectáculo. A mim cabe-me ter coisas que me impactam e inquietam, e que eu traduzo artisticamente”, revela Zia, interessada em estimular a reflexão de quem assiste, seja ela qual for.
Depois do Porto, a proposta segue para Lisboa, apresentando-se, a 2 de Abril, no CAM – Centro de Arte Moderna da Gulbenkian, com entrada gratuita.
Ainda na capital, o Teatro do Bairro vai acolher cinco dias da produção, de 7 a 11 de Maio, mês que encerra com a presença do espectáculo na primeira Bienal da Guiné-Bissau.
Entre os palcos e a conferência, libertam-se memórias.
“A maioria das pessoas identifica a escravidão com o açúcar e poucas a associam ao arroz”, assinala-se na sinopse da conferência, recordando-se que os africanos escravizados cultivavam o cereal no estuário do Sado, em Portugal, no Brasil, nas Caraíbas e no sul dos Estados Unidos.
Este e outros saberes inspiraram “Arus Femia”, que, no entanto, se solta de cronologias e geografias. “É sobre isto que este espectáculo trabalha: a criação de um outro mundo, de uma outra língua, de outras perspectivas”, reflecte a autora, sublinhando a natureza não exclusivamente humana das personagens.
“Vemos em palco uma comunidade para além de qualquer tempo, em que as memórias não se fixam, estão sempre a circular, como acontece com a natureza, que não está presa, que se vai reconfigurando e se vai transformando”.
Pelo contrário, nota Zia, “nesta nossa forma de vida, estamos a acumular memórias, e como não sabemos o que fazer com elas, isso traz-nos muitas dores”.
Será a Dormência, nome de uma das sete personagens de “Arus Femia”, um modo de resistir à dor das memórias?
Será, como sugere outra personagem, que é preciso afundar, para lembrar? Ou então, lembrar para depois esquecer?
Entre os nossos próprios questionamentos, e aqueles que o espectáculo verbaliza, persiste a certeza de que um outro mundo está ao nosso alcance.
Com “coisas que nós não conseguimos ver, ouvir, nem olhar quando temos tanto ruído à nossa volta”.
Zia Soares, foto de Sofia Berberan
Direcção, encenação, texto
Zia Soares
Interpretação
Albertinho Monteiro, Aoaní, Dionezia Cá, Izária Sá, Ulé Baldé, Urbício Vieira, Xullaji
Música
Xullaji
Movimento coreográfico
Vânia Doutel Vaz
Cenografia
Neusa Trovoada
Design de iluminação
Carolina Caramelo
Vídeo
António Castelo, Lentim Nhabaly
Video design
Cláudia Sevivas
Conteúdo visual para animação 2D
Camila Reis, Nú Barreto
Figurinos
Neusa Trovoada
Tranças
Mariana Desidério
Tradução para kriol
Miguel de Barros
Engenheiro de som
Jorge Gonçalves
Direcção de produção
Camila Reis
Apoio à pesquisa
TINIGUENA
Produção
Sowing_artsCoprodução
Teatro Municipal do Porto, Netos de Bandim, STATION service for contemporary dance
Apoio
Câmara Municipal de Lagos/Centro Cultural de Lagos, Casa da Dança, Fundação Calouste Gulbenkian, GROWTH, Largo Residências/Jardins da Bombarda, O Rumo do Fumo, Polo Cultural Gaivotas Boavista, RDP África
Com quantas músicas se compõe a Paz? Juliata Cohen canta-nos
Nasceu em França, há 32 anos, com Marrocos e Tunísia no sangue, e cresceu sob a inspiração de múltiplas influências culturais, desde cedo alargadas a viagens frequentes a Israel. Já adulta, Juliata Cohen encontrou em Jerusalém um bastião de entendimentos humanos, de onde partiu para seguir um apelo de alma, pronunciado numa língua que desconhecia, mas admirava: o bambara. Encontrou o idioma nas vozes de artistas como Fatoumata Diawara, Amadou & Mariam ou Oumou Sangaré, e, por dois anos, fez dele ‘morada’, entre viagens pelo Mali e o Burkina Faso. Já com algum vocabulário em bambara, seguiu para Cabo Verde, destino de um novo impulso musical, entretanto adoptado como casa e laboratório de experiências, traduzidas em “22:22”, o seu álbum de estreia. Lançado a 22 de Janeiro, o trabalho conta com os contributos de duas referências da música cabo-verdiana – Djô da Silva e Mario Lucio –, e, por estes dias, está a ser apresentado em Portugal. Amanhã, 8, Juliata sobe ao palco do Wow, no Porto, e no sábado seguinte, 15, podemos ouvi-la na Fábrica Braço de Prata, em Lisboa. Até lá, fique a conhecer um pouco mais da sua história, que também passa pelo artesanato.
Nasceu em França, há 32 anos, com Marrocos e Tunísia no sangue, e cresceu sob a inspiração de múltiplas influências culturais, desde cedo alargadas a viagens frequentes a Israel. Já adulta, Juliata Cohen encontrou em Jerusalém um bastião de entendimentos humanos, de onde partiu para seguir um apelo de alma, pronunciado numa língua que desconhecia, mas admirava: o bambara. Encontrou o idioma nas vozes de artistas como Fatoumata Diawara, Amadou & Mariam ou Oumou Sangaré, e, por dois anos, fez dele ‘morada’, entre viagens pelo Mali e o Burkina Faso. Já com algum vocabulário em bambara, seguiu para Cabo Verde, destino de um novo impulso musical, entretanto adoptado como casa e laboratório de experiências, traduzidas em “22:22”, o seu álbum de estreia. Lançado a 22 de Janeiro, o trabalho conta com os contributos de duas referências da música cabo-verdiana – Djô da Silva e Mario Lucio –, e, por estes dias, está a ser apresentado em Portugal. Amanhã, 8, Juliata sobe ao palco do Wow, no Porto, e no sábado seguinte, 15, podemos ouvi-la na Fábrica Braço de Prata, em Lisboa. Até lá, fique a conhecer um pouco mais da sua história, que também passa pelo artesanato.
Sem conhecer uma única palavra da língua, Juliata Cohen agarrou no sentimento, e soltou a voz no crioulo de Cabo Verde, para interpretar o tema “Tan Kalakatan”.
“Estava apaixonada pela música”, conta ao Afrolink, revisitando o primeiro contacto com Carlos Alberto Sousa Mendes, mais conhecido por Princezito.
Na altura ainda a viver em Israel, a artista conta que para além de ser ter entusiasmado a gravar a canção que o cabo-verdiano compôs para Mayra Andrade, decidiu partilhar com ele o resultado.
“Procurei o contacto no Facebook, e escrevi a dizer: sou fã do seu trabalho, aqui está uma versão da sua música”.
A mensagem abriu espaço a uma conversa, e, de repente, o arquipélago africano ficou mais perto.
“Ligou-me porque estava espantado que conseguisse cantar em crioulo. Ficou super surpreendido, e acabámos a falar ao telefone 30 minutos, em francês e inglês, tudo misturado. Quando disse que tinha o sonho de ir para Cabo Verde, respondeu logo que seria bem-vinda”.
Hoje Juliata vive na cidade da Praia, fala crioulo, e tem no seu álbum de estreia uma forte identidade cabo-verdiana.
Hora como herança
Intitulado “22:22”, o disco foi produzido pelo renomado Mario Lucio, e com o selo de qualidade da editora Harmonia/LusAfrica, de Djô da Silva, mundialmente reconhecido pela ligação a Cesária Évora.
“22:22 é uma ‘hora-espelho’, uma boa hora para rezar, e também um bom momento de alinhamento, de sincronicidade”.
O significado, explica a cantautora, reflecte parte da sua herança familiar. “Trago isso da minha avó materna, e utilizo essa hora quando quero mandar uma reza para o céu ou desejar uma coisa, até para outra pessoa. Sempre foi um momento de conexão, uma coisa forte”.
A dimensão espiritual, presente no título “22:22”, estende-se aos oito temas que integram o álbum, criado, tal como Juliata, sob uma miscelânea de influências.
Nascida em França, há 32 anos, a artista é filha de mãe marroquina e pai tunisino, e cresceu entre Paris e Israel.
“Fui pela primeira vez aos 8 anos, para um casamento, e depois passei a ir todos os anos para festas tradicionais. Às vezes ficava duas semanas, outras dois meses no Verão”.
O destino, que durante a infância e adolescência permitia o encontro com a família do lado paterno, tornou-se residência, já em idade adulta, durante cerca de dois anos e meio.
“Já estava acostumada aos meus familiares, mas nunca tinha vivido no Médio Oriente. Aí tive a sorte de descobrir um lado que talvez poucos conhecem, porque estava no meio de um lugar de multiculturalidade, com pessoas de todas as religiões, com tolerância, aceitação e paz”.
Dessa temporada, de descoberta de Jerusalém, Juliata guarda as melhores lembranças.
“É um lugar muito sagrado, que tem uma energia única no mundo, e é muito raro ouvir falar sobre isso. Ouvimos falar muito mais sobre a guerra sem fim, que continua até hoje, mas é importante pôr luz nesse outro lado que também faz parte da vida lá”.
Música de Paz
Determinada em contribuir para essa ‘iluminação’ de perspectivas – para que o mundo não veja apenas a separação das pessoas e os problemas –, a cantora usa a arte para quebrar fronteiras, aplicando mais uma dimensão do legado familiar.
“Tenho esta vontade de misturar línguas, por isso às vezes canto em árabe e hebraico ao mesmo tempo”, assinala, sublinhando o poder desse cruzamento: “É um símbolo de Paz, uma forma de conservar a minha herança judaica e árabe”.
Além da inspiração das próprias raízes, desde cedo Juliata se sentiu fascina por outras maneiras de pensar, e por outras culturas. O interesse, revela, foi sendo musicalmente alimentado a partir da colecção de discos de um tio DJ.
“Ele tinha o hábito de escutar música africana, de Angola, Cabo Verde, Marrocos, Etiópia, e também do Brasil. Tinha 10 anos quando ele me dizia: ‘Não, não, não vais ouvir Britney Spears. Vem cá, e ouve Stevie Wonders, Ray Charles…”.
O exemplo fez escola, e reforçou a veia artística da cantora, desde cedo encaminhada pela família para a música, o teatro e a dança.
“Estamos habituados a adaptar e a misturar. Foi sempre parte da minha educação respeitar todo o mundo com sua cultura, religião, forma de viver. Acho que por isso sempre tive uma grande vontade de viajar, de ir ainda para mais longe do que as viagens que a minha família, de alguma forma, me foi proporcionando”.
Encontros de línguas
Um dos impulsos para percorrer mundo continua a ser a música, mesmo que cantada em idiomas desconhecidos.
“Eu tinha uma conexão muito grande com a língua bambara, falada nuns oito países da Costa de África, então sempre quis aprender”.
O fascínio, que foi crescendo a partir das vozes de artistas como Fatoumata Diawara, Amadou & Mariam ou Oumou Sangaré acabou por fixá-la durante dois anos na rota Mali-Burkina Faso.
“No Burkina, no início, o primeiro contacto que tinha era de um baixista, muito profissional. Todo o mundo estava a recomendar esta conexão. Depois começámos um projecto e, com tempo, paciência e experiência conheci outros artistas”.
Sempre na espontaneidade de cada encontro, e com abertura para novas ligações, o mapa de Juliata estendeu-se a Cabo Verde, destino cumprido já com algum vocabulário em bambara na bagagem, e o contacto de Princezito nas ligações.
“A minha música é um encontro de países, línguas e culturas”, diz em português, um dos cinco idiomas que fala, embora consiga cantar em sete. Mais do que “falar certinho”, a autora de “22:22” preocupa-se em comunicar.
Com o mesmo engenho criativo, a artista produz colares, brincos e pulseiras, que vende pelas ruas de Cabo Verde, também como expressão da sua ‘missão’ conciliadora.
“Faz parte de mim. Tanto para o processo de criar uma jóia, como para o processo de criar uma música, gosto de misturar influências, por exemplo juntar uma pedra de Marrocos, com um búzio de Cabo Verde, e com isso ter uma história que junta culturas e países. É o mesmo que faço com a música. É um ponto de encontro, um ponto de unir as culturas, as línguas, os povos, as histórias”.
A proposta sobe ao palco do Wow, quarteirão cultural no Porto, amanhã, 8, às 22h30, enquanto no sábado seguinte, 15, podemos ouvi-la na Fábrica Braço de Prata, em Lisboa, às 23h30.
Depois, a agenda de divulgação de “22:22”, que apresenta como uma proposta afro-árabe soul, passa por Cabo Verde e França. Mais para a frente, ainda sem calendarização, a artista planeia uma imersão nos ritmos brasileiros.
Mas, vá para onde for, pode sempre acompanhá-la e ouvi-la nas plataformas digitais.
A vida de Georgina Ribas deu esta obra de arte, e isso vê-se no Brooklyn
A “Gala Black History Month”, organizada pela Embaixada do Canadá em Portugal, em parceria com a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) e também com a Câmara Municipal de Lisboa, homenageou, no passado dia 19 de Fevereiro, quatro personalidades que marcaram e continuam a marcar a História Negra em Portugal. A atleta Naide Gomes e o músico Tito Paris subiram ao palco para receber as suas distinções, a que se juntaram mais duas, atribuídas a título póstumo: coube a um dos filhos de Johnson Semedo receber o tributo ao pai, enquanto a homenagem a Georgina Ribas foi confiada à rede Afrolink.
A “Gala Black History Month”, organizada pela Embaixada do Canadá em Portugal, em parceria com a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) e também com a Câmara Municipal de Lisboa, homenageou, no passado dia 19 de Fevereiro, quatro personalidades que marcaram e continuam a marcar a História Negra em Portugal. A atleta Naide Gomes e o músico Tito Paris subiram ao palco para receber as suas distinções, a que se juntaram mais duas, atribuídas a título póstumo: coube a um dos filhos de Johnson Semedo receber o tributo ao pai, enquanto a homenagem a Georgina Ribas foi confiada à rede Afrolink.
Entrega da obra de Brian Amadi, de homenagem a Georgina Ribas, a Carlos Lopes e Claúdia Oliveira, nossos anfitriões de muitos e bons momentos no Brooklyn
Pelo segundo ano consecutivo, a Embaixada do Canadá em Portugal realizou a “Gala de Homenagem do Black History Month em Lisboa”, de tributo à presença negra no país, através do reconhecimento de personalidades que se destacaram e continuam a destacar na história portuguesa.
Uma das individualidades distinguidas a título póstumo, no passado dia 19 de Fevereiro, foi a musicóloga Georgina Ribas, figura ímpar do feminismo negro no país, ainda pouco conhecida – e até desconhecida por muitos.
Para realçar o inestimável contributo da pioneira professora de música, a Embaixada do Canadá convidou o artista multidisciplinar Brian Amadi a imortalizá-la em quadro, desafio criativo que agora pode ser apreciado em Lisboa.
Apresentada na noite da Gala, a obra de arte foi entregue à rede Afrolink, enquanto iniciativa que, desde a primeira palavra publicada, assume o propósito de visibilizar vidas e projectos de pessoas negras em Portugal. Com este compromisso, o quadro que celebra o legado de Georgina Ribas foi oferecido ao Brooklyn, situado na Praça da Alegria. Mais do que um restaurante, o Brooklyn é um pólo de cultura, onde a presença negra ocupa lugar de destaque. Não apenas nas paredes, vestidas de referências da nossa História, mas também no menu, onde se pode saborear um pouco de Cabo Verde, e ainda na programação de eventos, sempre aberta à promoção e elevação da comunidade negra.
Foi no Brooklyn que aconteceu, por exemplo, a primeira gravação ao vivo d’ O Tal Podcast, e é também neste espaço que, todas as últimas quintas-feiras do mês, o humor sobe ao palco com o Brooklyn Comedy Club, que tem como host o comediante Carlos Pereira.
Agora a casa fica ainda mais completa e nossa com a chegada de Georgina Ribas. Celebramos, celebramo-la, e celebramo-nos, aproveitando o momento para recordar a sua história.
O pouco que sabemos sobre Georgina Ribas é o suficiente para percebermos que deveríamos saber muito mais. Mas, tal como acontece com a generalidade das personalidades negras que marcaram a sociedade portuguesa, os seus méritos surgem dispersos, muitas vezes como notas de rodapé em listas de créditos alheios.
É assim que encontramos o seu nome associado à obra do violinista, maestro, arranjador e compositor Lopes da Costa, e à história de Luís de Oliveira Guimarães, fundador e primeiro presidente da Sociedade Portuguesa de Autores.
A ligação de Georgina a Lopes da Costa surge em “Vista Alegre”, obra produzida para o teatro de revista (Teatro do Ginásio, em 1934) que ajudou a compor.
Já com Luís de Oliveira Guimarães, a parceria da angolana encontra-se nos créditos musicais da peça “Corridinho”.
Não fossem as referências ‘escavadas’ por intelectuais africanos, como Mário Pinto de Andrade, e estudiosos da presença africana em Portugal, como Cristina Roldão, José Pereira e Pedro Varela – co-organizadores da exposição “Para uma história do movimento negro em Portugal, 1911-1933”, apresentada no ano passado – e, provavelmente, não teríamos nada mais a acrescentar. Felizmente, temos.
“Grande influência social e moral junto da intelectualidade africana”
Num artigo publicado em 2014 no Jornal de Angola, Filipe Zau, doutorado em Ciências da Educação e mestre em Relações Interculturais, lembrou o papel da sua conterrânea nos primórdios do associativismo de Angola.
Recuando à génese do Grémio Africano, Filipe Zau recorda que a estrutura – cujos estatutos foram aprovados “pelo Governo Civil de Lisboa, a 28 de Agosto de 1929” – “tinha como principais objectivos ‘concorrer para o prestígio social e mental dos africanos; congregar e estreitar os laços de uma união e solidariedade entre naturais d’África e as raças nacionais; promover o levantamento do nível intelectual e revigoramento físico dos indígenas da África Portuguesa”.
O especialista adianta que, segundo Mário Pinto de Andrade, “nesta associação [do Grémio Africano] distinguiu-se Dona Georgina Ribas, notável musicóloga feminista, que exerceu grande influência social e moral junto da intelectualidade africana então residente na capital portuguesa”.
Nascida em Angola, em 1882, a pianista chegou a Portugal com três anos, tendo-se formado no Conservatório Nacional de Lisboa. Foi também professora de música num espaço no Rossio.
Cristina Roldão, em texto assinado no "Público", adianta igualmente, citando o periódico "A Voz D’Africa", que, em 1929, Georgina estaria "envolvida na direcção da Liga das Mulheres Africanas, organização sobre a qual pouco mais sabemos do que ter feito parte do Partido Nacional Africano”. Hoje, quase 75 anos depois da morte de Georgina, queremos e merecemos saber mais.
Na Gala Black History Month, que decorreu no passado dia 19 de Fevereiro, no Capitólio, em Lisboa
Quem tem medo de criminalizar o racismo? Até tu, aliado?
Protestam nas ruas, sempre com o hashtag do momento a tiracolo para poses instagramáveis. Ocupam o espaço mediático com tiradas de eloquência, demasiadas vezes confundidas com originalidades de pensamento. Não perdem uma ocasião para falar de como se integram na vida dos “bairros” – apadrinhados por cachupa e amadrinhados por batukadeiras –, nem se coíbem de usar as vidas negras que observam para teorizar sobre o que (lhes) faz falta. Dizem-se aliados da luta anti-racista, mas revelam-se uns apaniguados do sistema, quando as pessoas pelas quais dizem marchar, e com quais se orgulham de ‘misturar’, ousam pensar e expressar entendimentos diversos – e até contrários – dos seus. Só assim se explica que, em vez de apoiarem a Iniciativa Legislativa Cidadã para criminalizar o racismo, a xenofobia e de todas as práticas discriminatórias, os pretensos aliados prefiram invocar objecções, colocando-se acima das pessoas que sofrem a violência racista e a vêem escapar impune. Como quem sabe sempre mais. Só que não!
Protestam nas ruas, sempre com o hashtag do momento a tiracolo para poses instagramáveis. Ocupam o espaço mediático com tiradas de eloquência, demasiadas vezes confundidas com originalidades de pensamento. Não perdem uma ocasião para falar de como se integram na vida dos “bairros” – apadrinhados por cachupa e amadrinhados por batukadeiras –, nem se coíbem de usar as vidas negras que observam para teorizar sobre o que (lhes) faz falta. Dizem-se aliados da luta anti-racista, mas revelam-se uns apaniguados do sistema, quando as pessoas pelas quais dizem marchar, e com as quais se orgulham de ‘misturar’, ousam pensar e expressar entendimentos diversos – e até contrários – dos seus. Só assim se explica que, em vez de apoiarem a Iniciativa Legislativa Cidadã para criminalizar o racismo, a xenofobia e de todas as práticas discriminatórias, os pretensos aliados prefiram invocar objecções, colocando-se acima das pessoas que sofrem a violência racista e a vêem escapar impune. Como quem sabe sempre mais. Só que não!
Olho para os números que, no início desta semana, me diziam que desde 10 de Dezembro de 2024 – data de formalização da proposta –, cerca de 2.700 pessoas assinaram online a Iniciativa Legislativa Cidadã que prevê a alteração do Código Penal, para que se criminalize o racismo, a xenofobia e de todas as práticas discriminatórias.
Comparo os dados com as largas dezenas de milhares de pessoas que, no passado dia 11 de Janeiro, saíram à rua para combater o racismo e a xenofobia, sob o mote “Não nos encostem à parede”. Junto os cerca de 6.000 seguidores desta campanha no Instagram, e constato o óbvio: há uma linha demasiado ténue que separa um aliado da luta anti-racista de um apaniguado do sistema racista.
Só assim se explica que, em vez de apoiarem a Iniciativa Legislativa Cidadã para criminalizar o racismo, os pretensos aliados prefiram invocar objecções, colocando-se acima das pessoas que sofrem a violência racista e, repetidamente, a vêem escapar impune.
Importa, por isso, lembrar – uma vez mais e sempre – o papel de um aliado, à luz do que definiu a afroamericana Kayla Reed, pessoa negra e queer, estratega do Movimento pelas Vidas Negras, a partir do qual co-fundou o Projecto pela Justiça Eleitoral.
Desconstruindo a palavra inglesa ally (aliado) letra a letra, a activista aponta quatro acções fundamentais para quem ocupa esse lugar.
Passo a enumerar, e a traduzir:
A - always center the impacted – focar sempre naqueles que sofrem o racismo na pele;
L - listen & learn from those who live in the oppression – ouvir e aprender com aqueles que vivem sob a opressão;
L - leverage your privilegie – colocar o próprio privilégio/poder ao serviço da luta;
Y - yield the floor – ceder o ‘palco’.
Entre “Setenta e Quatro”, “Gerador”, “DN” e “Brasil Já”, publicações onde fui e vou assinando opinião, perdi a conta ao número de vezes em que escrevi sobre pessoas que se afirmam aliadas da luta anti-racista, mas estão sempre voltadas para si próprias; não conseguem ouvir sem retorquir um ‘mas’ e perceber que, por mais empáticas que possam ser, e por muito que sofram discriminações, nomeadamente de género, nunca vão saber o que é estar na pele de uma pessoa negra. Nunca. Da mesma forma, não preciso dos dedos das duas mãos para contar o número de pessoas brancas com quem me cruzei que usam da influência que têm para criar acessos efectivos e quebrar barreiras estruturais.
Cabe aqui fazer uma dupla ressalva: uma coisa é abrir a porta a pessoas negras, outra muito diferente é construir espaços que as acolham. Do mesmo modo, convém prestar atenção ao papel que, quando são ‘integradas’ em estruturas brancas, as pessoas negras ocupam. É-nos reconhecido o direito de pensar e de opinar, quando ele coloca em causa o pensamento e opinião brancos?
A menos que acreditem na ficção do racismo reverso, percebam que pessoas brancas nunca saberão o que é ser alvo de racismo, da mesma forma que pessoas que não menstruam nunca saberão o que são dores menstruais, e pessoas que não engravidam nunca saberão o que é passar por um aborto.
Convém, por isso, ouvir e aprender com quem vive essas realidades, e perceber algo fundamental: se as pessoas que vivem as opressões apontam o caminho para as combater, a única coisa que quem não as vive e se diz aliado tem de fazer é apoiar e seguir sob o seu comando.
É vital entender que as dúvidas e questionamentos individuais – por mais legítimos que sejam – não se podem sobrepor a lutas colectivas que combatem violações de Direitos Humanos, e legislam contra a sua impunidade.
A iniciativa cidadã para criminalizar práticas racistas parte do Grupo de Ação Conjunta Contra o Racismo e a Xenofobia, que reúne mais de 80 colectivos “determinados a lutar por um Portugal, uma Europa e um mundo mais inclusivos e interculturais, contra todas as opressões e formas de discriminação”.
Travar o avanço desta proposta é compactuar com o sistema de impunidade, porque sabemos que os casos de racismo raramente são punidos, e, que quando o são, poucas vezes vão além do pagamento de coimas.
Recusar assinar a Iniciativa Legislativa Cidadã de criminalização do racismo não é uma expressão de divergência, é um acto racista.
Porque, conforme explicam ao Afrolink os juristas Anizabela Amaral e Nuno Silva, o que a proposta de alteração ao Código Penal permite é agravar as consequências de práticas já previstas na Lei, para que, por exemplo, agredir pessoas negras– como fez a jornaleira Tânia Laranjo em 2019 com Joacine Katar Moreira e Mamadou Ba –, não seja equiparado à colocação incorrecta de um toldo numa esplanada.
Ignorar que as normas existentes promovem uma cultura de impunidade é próprio de racistas, e de quem não está a focar em quem sofre o racismo na pele. E isso não se resolve com hashtags no Instagram, frases eloquentes, nem rodadas de cachupa.
Racismo em Portugal comprovado por assinatura: onde está a sua?
Cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas votaram num partido abertamente racista e xenófobo nas últimas Legislativas, transformando-o na terceira força política em Portugal. Os alarmes deveriam ter soado bem alto, mas, em vez disso, várias vozes se apressaram a absolver o eleitorado racista, justificando as suas escolhas com “zangas”, “ressentimentos” e “descontentamentos”. Como se houvesse contexto capaz de tornar aceitável e até justificável o racismo e a xenofobia. Ou como se as pessoas escolhessem propostas racistas inocentemente e sem intenção. Afinal, garante o primeiro-ministro, em Portugal "o ódio e as questões raciais não têm uma natureza de preocupação”. Facto é que a aparente facilidade com que a extrema-direita mobiliza racistas e xenófobos no país contrasta com a dificuldade que o Grupo de Ação Conjunta contra o Racismo e a Xenofobia (GAC) enfrenta para juntar 20 mil assinaturas em defesa da criminalização do racismo. O Afrolink deixa-lhe com o essencial desta iniciativa do GAC, percorrida a partir dos esclarecimentos dos juristas Anizabela Amaral e Nuno Silva, que integram a campanha.
Cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas votaram num partido abertamente racista e xenófobo nas últimas Legislativas, transformando-o na terceira força política em Portugal. Os alarmes deveriam ter soado bem alto, mas, em vez disso, várias vozes se apressaram a absolver o eleitorado racista, justificando as suas escolhas com “zangas”, “ressentimentos” e “descontentamentos”. Como se houvesse contexto capaz de tornar aceitável e até justificável o racismo e a xenofobia. Ou como se as pessoas escolhessem propostas racistas inocentemente e sem intenção. Afinal, garante o primeiro-ministro, em Portugal "o ódio e as questões raciais não têm uma natureza de preocupação”. Facto é que a aparente facilidade com que a extrema-direita mobiliza racistas e xenófobos no país contrasta com a dificuldade que o Grupo de Ação Conjunta contra o Racismo e a Xenofobia (GAC) enfrenta para juntar 20 mil assinaturas em defesa da criminalização do racismo. O Afrolink deixa-lhe com o essencial desta iniciativa do GAC, percorrida a partir dos esclarecimentos dos juristas Anizabela Amaral e Nuno Silva, que integram a campanha.
Anunciar duas pessoas negras como se fossem mercadoria, à semelhança de velhos leilões escravocratas, tornou-se tentador para Tânia Laranjo. “Não resisto”, escreveu em 2019 a jornalista do Correio da Manhã e da CMTV, aproveitando a febre consumista da “Black Friday” para divulgar a sua “promoção especial leve 2 e não pague nenhum”.
A parangona, exibida no Facebook com os rostos do dirigente do SOS Racismo, Mamadou Ba, e da então deputada Joacine Katar Moreira, viralizou entre partilhas, reacções e comentários de ódio, e, mais de cinco anos depois, permanece impune. Apesar de a Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR) ter condenado Tânia Laranjo ao pagamento de uma coima de 435,76€ por “prática discriminatória em razão da cor da pele”, a decisão foi contestada pela repórter e o desfecho não se adivinha reparador.
Ainda assim, poderia ser pior: 80% dos processos instaurados pela CICDR acabam arquivados, segundo um estudo do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, que analisou denúncias nas áreas da educação, habitação/vizinhança e forças de segurança feitas entre 2006 e 2016, e encerradas até Fevereiro de 2020.
A pesquisa foi desenvolvida no âmbito do projecto “Combat - O combate ao racismo em Portugal: uma análise de políticas públicas e legislação anti-discriminação”, e demonstra a pertinência da Iniciativa Legislativa Cidadã promovida pelo Grupo de Ação Conjunta Contra o Racismo e a Xenofobia (GAC).
“O objectivo é fazer alterações ao Código Penal, reforçando o combate à discriminação e aos crimes praticados em razão da origem étnico-racial, origem nacional ou religiosa, cor, nacionalidade, ascendência, território de origem, religião, língua, sexo, orientação sexual, identidade ou expressão de género ou características sexuais, deficiência física ou psíquica”.
A proposta, explicam ao Afrolink os juristas Anizabela Amaral e Nuno Silva, que integram o grupo de especialistas que redigiu o texto, resulta de um processo amplamente discutido e participado.
“Houve um primeiro momento em que verificámos todas as opções jurídicas que tínhamos em cima da mesa”, reconstitui Nuno, adiantando que a ideia inicial de criar uma nova lei sobre esta matéria foi preterida pela opção de introduzir mudanças ao artigo 240.º do Código Penal, que enquadra a discriminação e incitamento ao ódio e à violência.
“É mais simples alterar apenas um ou dois artigos, do que estarmos a criar um diploma novo”, reforça, sem nunca perder de vista o propósito. “A Iniciativa Legislativa Cidadã exige um mínimo de 20 mil assinaturas que, do ponto de vista dos movimentos associativos, é um objectivo muito difícil de conseguir, daí a preocupação de agregar o maior número de pessoas possível, quer entre nós, quer lá fora”.
Convencer a opinião pública
A força mobilizadora, acrescenta Anizabela, passa pela capacidade de conquistar a “aceitação da opinião pública, e da própria Assembleia” da República.
“Temos plena consciência que há muitas outras reivindicações a nível legislativo que deixámos de lado, áreas que ficam em aberto, como a protecção das vítimas, mas desta forma achámos que seria mais fácil convencer as pessoas”.
O processo ganhou expressão há um ano, a partir da manifestação “Vota contra o Racismo”, embora as primeiras conversas sobre uma concertação viessem de 2023.
“Tem sido um tema recorrente para as discussões do SOS Racismo esta questão da criminalização. Aliás, mesmo a lei que existe actualmente, e que queremos rever, já foi um trabalho muito empurrado pelos movimentos, e pelo SOS”.
A dinâmica impulsionadora da sociedade civil volta a sobressair nesta Iniciativa Legislativa Cidadã.
“Por um lado, abrimos a proposta ao debate público”, explica Anizabela, revistando as etapas iniciais: “Criámos um QR Code que ia parar a um formulário, para recolhermos opiniões dos colectivos e de todas as pessoas que se quisessem manifestar”.
O período de auscultação acabou por se prolongar porque “as pessoas sentiram necessidade de conhecer melhor o tema, de se apropriarem mais da questão”, nota a jurista, acrescentando que esse tempo também foi essencial para se reflectir sobre a melhor abordagem jurídica.
Além de 20 mil assinaturas
“Ainda bem que o processo foi demorado, porque assim permitiu mastigarmos bem tudo e conseguirmos chegar a um consenso”, aponta Nuno, de novo voltado para as metas.
“Obviamente que o objectivo último é fazer chegar à Assembleia as 20 mil assinaturas, para dar início a um processo de discussão e obrigar o Parlamento a debater esta proposta”, assinala, identificando outros ganhos. “Isto é também um pretexto, uma ferramenta excelente para, pelo menos durante um ano, nós conseguirmos ter este assunto discutido em vários locais, em vários fóruns. Ou seja, a ideia é também que se possa reflectir sobre a questão do Direito Penal, sobre a questão do racismo, e abrir caminho mais para a frente”.
O debate está lançado, e as assinaturas podem ser recolhidas presencialmente, em papel, por acção dos mais de 80 colectivos que compõem o GAC, e online, pelo site da Assembleia da República e das petições públicas.
“Mesmo que cheguemos ao fim da Legislatura sem as 20 mil assinaturas, as que tivermos não se perdem. Podemos dar continuidade ao processo na Legislatura seguinte”, clarifica Anizabela.
“No final, vamos juntar todas as assinaturas na plataforma da Assembleia da República, já com aquela margem dos 5% que nos dizem que é para as que não correm bem. Depois, tendo as 20 mil, somos chamados a apresentar a proposta em plenário”.
Primeiro na generalidade e a seguir na especialidade, a discussão, antecipa a jurista, “vai exigir alguma negociação e capacidade de persuasão”.
Ao mesmo tempo, nota Anizabela, “algumas entidades e alguns partidos terão que se posicionar, e será muito interessante perceber quem são essas pessoas que se vão posicionar contra as práticas racistas serem crime”.
Medo da criminalização
Por enquanto, a oposição à iniciativa evidencia-se no volume ainda inexpressivo de assinaturas, justificado, aqui e ali, com receios de que a criminalização do racismo acarreta mais custos do que benefícios.
Por exemplo, há quem tema que a alteração ao artigo 240.º do Código Penal possa ser instrumentalizada contra activistas anti-racistas, e não falta quem receie a criação de um estado policial.
No entanto, Nuno Silva afasta esses e outros cenários. “As condutas que colocamos nesta proposta de alteração, como passíveis de serem criminalizadas já constavam na lei como ilícitas. Portanto, não vai haver um extra policiamento de condutas. O que queremos é dar-lhes consequências diferentes”.
O repertório de práticas sob escrutínio inclui, entre outras, a recusa ou condicionamento de venda, arrendamento ou subarrendamento de imóveis, motivada pela origem racial e étnica, cor, nacionalidade, ascendência e território de origem.
Portanto, insiste Nuno, “quando dizem, mas vocês agora vão criar uma espécie de Estado policial com uma super vigilância, respondo que não. As condutas que são ilegais são exactamente as mesmas, o que nós queremos alterar é a forma como o Estado as interpreta, e como é que nós, como sociedade, olhamos para elas”.
O jurista defende que não avançar com a alteração proposta implica continuar a equiparar um carro mal-estacionado a agressões à honra e à dignidade.
Sobre a possibilidade de a lei se virar contra activistas anti-racistas, Nuno considera uma hipótese descabida.
“Quem é racista e quem tem comportamentos racistas é que pode estar preocupado porque vai ter aqui uma consequência diferente do que uma mera coima a pagar”.
Educar para consciencializar
Além de se dar maior gravidade às condutas, criminalizando-as, Anizabela lembra que as mudanças terão de passar sempre por um “trabalho ao nível das escolas de direito, das universidades, das magistraturas, da formação dos magistrados e da formação dos advogados”.
Confiante na transformação, a jurista sublinha que hoje em dia já temos “magistrados que lamentam não poderem ir mais longe”, na aplicação da lei, e reconhecem as limitações do artigo 240.º do Código Penal. Em concreto, Anizabela nota que é fundamental retirar a exigência de que a discriminação, para ter enquadramento criminal, tem de ocorrer publicamente, ou por qualquer meio destinado a divulgação.
Actualmente, é nessas estreitas circunstâncias que os actos racistas são criminalizados, a exemplo do que aconteceu no caso que envolveu os filhos dos actores brasileiros Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank.
Agredidos por Adélia Barros, que os chamou de “pretos imundos”, as crianças, na altura com 7 e 9 anos, tiveram de ouvir vários insultos, como: “Portugal não é lugar para vocês! Voltem para África e para o Brasil."
Condenada a quatro anos de pena suspensa e ao pagamento de uma indemnização de 14.500 euros, a que acrescem 2.500 euros para o SOS Racismo, a agressora está ainda obrigada a um internamento para tratar o alcoolismo.
Este desfecho, a que não será alheio o mediatismo dos protagonistas, comprovado por intervenções dos Presidentes da República de Portugal e do Brasil, dificulta o entendimento sobre a necessidade de endurecer a lei.
Racismo não é crime - a luta continua!
“Estamos a ser acusados de desinformação, de sermos mentirosos”, lamenta Anizabela, acrescentando: “Temos pessoas que dizem: ‘Claro que o racismo é crime, porque senão, como é que o André Ventura tinha sido condenado? Portanto, as pessoas vão buscar casos de condenações por racismo para dizer que já existem, e nós vamos desconstruindo”.
Impõe-se continuar a fazê-lo, destaca Nuno, a partir das experiências já vividas em tribunal.
“Uma coisa que sempre me afligiu muito nos julgamentos que fui acompanhando é a forma como, quer procuradores, quer juízes, sentem estes temas”, diz. “Parecem demasiado despreocupados com isto e, sobretudo, parece que remetem muitas vezes estas questões para acontecimentos singulares, em que acontece um em 1000 casos, e, portanto, não lhes dão a devida atenção”.
Atento às limitações presentes em qualquer lei – “temos consciência que nós não vamos fazer nenhuma revolução só com essa alteração legislativa” –, Nuno confia no seu bom contributo.
“As práticas racistas não vão deixar de existir, nem as instituições vão mudar. Portanto, esta alteração da lei não vai resolver o problema do racismo estrutural, mas há uma diferença relativa relevante, não só do ponto de vista da autocensura, mas também da forma como nós, a partir daqui, podemos começar a construir uma sociedade um bocadinho melhor”.
A esperança vai buscar inspiração a outras frentes. “Lembro-me, por exemplo, do caso da violência doméstica, que há uns anos nem sequer era crime. Aliás, era permitido aos homens exercerem violência sobre as mulheres. Depois, começámos a ter algumas alterações legislativas para contornar isto, e foi criado um crime específico para esta matéria”, recorda o jurista, sem saltar etapas. “Ainda assim, durante muitos anos, o crime dependia de queixa. Portanto, a pessoa que tinha sido violentada teria de apresentar queixa para haver investigação e, a certa altura, alterou-se esse requisito e o crime passou a ser público”.
A alteração trouxe muitos benefícios, reconhece Nuno, lembrando que a luta continua. “Continuamos a ter decisões profundamente machistas, profundamente patriarcais, mas as mesmas são sindicáveis, ou seja, é possível mudar as decisões de um tribunal pelos tribunais superiores, e passamos a ter uma base legal para combater”.
Não dar a nossa assinatura por isto, é escolher o racismo e proteger os racistas.
Pelos cabelos de Talaku nasceu uma marca, que cresce entre fios de Amor
Entre o que aprendeu sobre educar uma criança negra numa família totalmente branca, e aquilo que começou a viver e a sentir, Neus Rubau precisou de uma espécie de “reprogramação” a partir do momento em que adoptou Talaku. Dos comportamentos racistas que começou a identificar, aos conflitos de identidade da filha, Neus ganhou outra consciência racial, e novas necessidades, como aprender a cuidar do cabelo afro. Uma história que hoje se conta com loja online, serviço de consultoria personalizado, e uma marca própria: a Curly & Roll.
Entre o que aprendeu sobre educar uma criança negra numa família totalmente branca, e aquilo que começou a viver e a sentir, Neus Rubau precisou de uma espécie de “reprogramação” a partir do momento em que adoptou Talaku. Dos comportamentos racistas que começou a identificar, aos conflitos de identidade da filha, Neus ganhou outra consciência racial, e novas necessidades, como aprender a cuidar do cabelo afro. Uma história que hoje se conta com loja online, serviço de consultoria personalizado, e uma marca própria: a Curly & Roll.
Neus, na apresentação em Lisboa, fotografada por Vivian Machado
De mochila às costas, e com a filha pela mão, Neus Rubau não tinha uma rota nem um mapa, mas sabia que tinha de partir de Girona em busca de orientação. Completamente perdida, socorreu-se, para começar, das duas únicas lojas que, na vizinha e maior Barcelona, pareciam abrir algum caminho.
“Na minha cidade não havia nada, mesmo nada”, recorda ao Afrolink, de volta ao desespero que sentia por não conseguir dar resposta a uma necessidade muito concreta: cuidar do afro de Talaku, a sua filha.
Hoje, muitas idas e vindas depois, esta é uma história que se conta com marca própria: a Curly & Roll, lançada a partir da experiência da Talaku.es, loja online baptizada à letra do nome da criança que trocou às voltas ao destino de Neus.
Até à adopção de Talaku, quando a menina tinha três anos, a família era integralmente composta por pessoas brancas, quase na totalidade sem literacia étnico-racial.
Não era o caso de Neus que, para melhor acolher a filha, originária do Quénia, decidiu informar-se sobre a sua identidade africana e negra, através da ligação a colectivos que se dedicam a esse trabalho de consciencialização.
“Tudo aquilo que me avisaram que iria acontecer aconteceu”, partilha, referindo-se a um quotidiano de microagressões racistas. Os episódios acumulam-se no baú das memórias, de onde a espanhola retira uma interecção num parque infantil.
“Um dia, a Talaku veio ter comigo a dizer que as meninas não queriam brincar com ela por ser negra. Aquilo marcou-me”.
Entre o que aprendeu sobre educar uma criança negra, e aquilo que começou a viver e a sentir, depressa Neus percebeu que iria precisar de uma espécie de “reprogramação”.
Contrariando o instinto mais primário, de confrontar as mães das crianças com o comportamento das filhas, a empresária optou pela via pedagógica.
“Em vez de apontar para o racismo, perguntei às meninas porque é que não queriam brincar com a Talaku, se era apenas por ter uma cor diferente. Acho que aí perceberam que aquilo não fazia sentido, e, pouco depois já estavam todas a brincar”.
Questionar para transformar
Se a ‘voz da razão’ dessa história fosse negra, e não branca, o desfecho teria sido o mesmo? Teriam as crianças ouvido, sem que as suas mães interferissem? Neus nunca parou – nem pára – de fazer perguntas.
Na viagem que se habituou a fazer a Barcelona, por exemplo, para abastecer a mochila de produtos capilares, o questionamento era constante. O que comprar? Como se utiliza este frasco? Em que quantidades?
As respostas foram chegando à velha moda do “aprender fazendo”.
“Ia experimentando no cabelo da Talaku, e fui procurando informação no YouTube”.
Aos poucos, a insistência e prática começaram a dar resultados: além de encontrar o seu método para cuidar do afro da filha, Neus começou a partilhar, com outras famílias, as suas aprendizagens.
Primeiro de modo informal, em grupos de pais adoptivos e projectos de literacia racial, aos quais já estava ligada, e depois através da loja.
A Talaku.es nasceu em 2013 e, no final do ano passado apresentou-se em Portugal, mercado onde pretende expandir o alcance.
“Em Espanha o produto já está estabelecido, e a vender muito bem”, nota Neus, destacando uma das novidades do projecto: o desenvolvimento de uma marca própria e vegana. “Estamos em 100 salões de cabeleireiro com os nossos produtos Curly& Roll”.
A oferta, disponível na loja online – onde 2% da vendas revertem para ONG’s –, deu resposta a uma contrariedade que, com o crescimento da Talaku.es, se acentuou: a incapacidade de a loja repor stocks de artigos que não produz.
“Ter a nossa marca permite-nos responder melhor à oferta, e os nossos produtos têm a versatilidade de funcionar para todos os tipos de cabelo, do mais cacheado ao mais crespo”.
Mais do que falar sobre os benefícios do catálogo Talaku, Neus faz questão que os mesmos sejam comprovados, e, por isso, a apresentação da Curly& Roll em Lisboa aconteceu com a presença de Elizabeth Acosta, do salão Elizabeth Rizos.
“Queremos que os profissionais em Portugal tenham formação nos nossos produtos”, antecipa a espanhola, sem nunca perder de vista o lugar da aprendizagem.
“Hoje a Talaku já tem 17 anos e decidiu alisar o cabelo”, conta, afastando imediatamente qualquer leitura derrotista ou desencantada.
“A minha filha sempre gostou muito de fazer penteados. Sei que está a adoptar um novo visual, não por rejeitar a sua identidade ou por querer ser aceite, mas porque diz que quer uma alternativa mais prática”.
A motivação faz toda a diferença, sublinha Neus, de volta ao dia em que, com apenas quatro anos, Talaku tentou “limpar” a cor, esfregando o rosto com saliva.
“Nada nos prepara para isso, mas temos de ser capazes de reagir e educar as nossas crianças para aceitar e amar quem são, e como são, e não verem nada de errado nas diferenças”. Todas especialmente humanas.
Elizabeth Acosta, do salão Elizabeth Rizos, fotografada por Vivian Machado
Os planos de Artemisa Ferreira para documentar Cabo Verde
Ainda estudante, Artemisa Ferreira quis saber mais sobre os jovens portugueses descendentes de cabo-verdianos, que foi encontrando durante a licenciatura e o mestrado no norte do país. Desse interesse resultou o documentário “Identidade Repartida”, expressão de pertenças além-fronteiras. No regresso ao seu Cabo Verde natal, e já com o grau de mestre em Realização, Cinema e Televisão no currículo, escreveu e realizou a premiada curta “Oji”, centrada no impacto das redes sociais nas relações familiares. Agora apresenta-nos “Os 47’s - depoimentos que ficaram”, documentário que relata as “aflições causadas pela fome nos anos 40 em Cabo Verde”, e que, por cá, foi exibido no espaço Tabanka Sul, no Seixal, e no Mbongi67, em Queluz. Presente nas duas sessões, a cineasta, escritora e professora conversou com o Afrolink sobre este projecto, antecipando os próximos planos: "Quero documentar aquilo que existe, e que ainda está por contar em Cabo Verde".
Ainda estudante, Artemisa Ferreira quis saber mais sobre os jovens portugueses descendentes de cabo-verdianos, que foi encontrando durante a licenciatura e o mestrado no norte do país. Desse interesse resultou o documentário “Identidade Repartida”, expressão de pertenças além-fronteiras. No regresso ao seu Cabo Verde natal, e já com o grau de mestre em Realização, Cinema e Televisão no currículo, escreveu e realizou a premiada curta “Oji”, centrada no impacto das redes sociais nas relações familiares. Agora apresenta-nos “Os 47’s - depoimentos que ficaram”, documentário que relata as “aflições causadas pela fome nos anos 40 em Cabo Verde”, e que, por cá, foi exibido no espaço Tabanka Sul, no Seixal, e no Mbongi67, em Queluz. Presente nas duas sessões, a cineasta, escritora e professora conversou com o Afrolink sobre este projecto, antecipando os próximos planos: "Quero documentar aquilo que existe, e que ainda está por contar em Cabo Verde".
Apresentação d’ “Os 47’s - depoimentos que ficaram”, no espaço Mbongi67
Assombra memórias como o pior dos nossos pesadelos: por um lado, vive-se com o receio de que se concretize – ou melhor, que se repita – por outro, faz-se de tudo para o esquecer. Herdeira deste temor colectivo, gerado a partir de um capítulo trágico da História de Cabo Verde, Artemisa Ferreira decidiu confrontá-lo.
O resultado vê-se no documentário “Os 47’s - depoimentos que ficaram”, filme que relata as “aflições causadas pela fome nos anos 40”, período no qual o arquipélago africano perdeu quase metade da população.
“Este é um passado que não é muito falado. Por isso muitos jovens – e não só – desconhecem a realidade daquilo que foi e ainda é Cabo Verde”, nota a cineasta, quebrando décadas de um pesado silêncio.
“O país passou por uma seca severa, em que a partir do terceiro ano sem chover nada, as pessoas começaram a morrer de fome”.
Quase oito décadas depois, a cabo-verdiana assinala que “a conjuntura internacional mudou, mas a falta de chuva é uma realidade que persiste no país. Por isso, é importante conhecer os efeitos das secas, e encontrar respostas para o futuro”.
Licenciada em Tecnologias de Informação e Comunicação e Mestre em Realização Cinema e Televisão, Artemisa procura dar o seu contributo a partir da sétima arte.
“Quero documentar aquilo que existe, e que ainda está por contar em Cabo Verde”.
Identidades e globalidades
O interesse pelo desconhecido levou-a a debruçar-se sobre a realidade dos jovens portugueses descendentes de cabo-verdianos, comunidade com a qual se cruzou durante o Ensino Superior, cumprido em universidades lusas.
Desse encontro resultou o documentário “Identidade Repartida”, expressão de pertenças além-fronteiras.
“Percebi que em Portugal esses jovens não são considerados portugueses, e quando chegam a Cabo Verde também não são considerados cabo-verdianos. Então quis saber como se sentem”.
Entre mundos, a indefinição e os conflitos de identidade acabaram por surpreender Artemisa: enquanto os filhos de pai e mãe cabo-verdianos diziam sentir-se portugueses, aqueles em que um dos progenitores era português manifestavam uma maior identificação com Cabo Verde.
“Havia mais dúvidas naqueles em que ambos os pais eram cabo-verdianos”, sublinha a realizadora.
Depois dessa experiência, documentada em 2013 no âmbito do mestrado, a também escritora e professora universitária apresentou a curta de ficção “Oji”.
A produção, centrada no impacto das redes sociais nas relações familiares, venceu o prémio revelação no Plateau – Festival de Cinema da Praia 2015, e, dois anos depois, conquistou o troféu de melhor montagem na I Mostra Competitiva do Cinema Negro Adélia Sampaio, no Brasil.
Valas coloniais
Agora é com os “Os 47’s - depoimentos que ficaram” que Artemisa nos continua a prender ao grande ecrã.
“A narrativa é construída por entrevistas com pessoas que passaram pela fome, outras que não passaram por isso, e especialistas de diferentes áreas de estudo”, explica a cineasta, que, com esta obra, revela “as diferentes formas de luta dos cabo-verdianos para sobreviver”.
Os relatos incluem o chamado desastre da assistência, eternizado na cidade da Praia, mas não adequadamente memorializado.
"As pessoas vêem o monumento [às Vítimas da Fome e do Desastre da Assistência de 1949], mas não sabem o que representa", lamenta a também professora universitária, de lição voltada para um dos episódios mais desafortunados que marcaram os destinos do país.
"A população ia à procura de apoio, de algo para comer. Nesse local [onde funcionavam os Serviços Cabo-verdianos de Assistência], havia um muro que acabou por ruir e desabou por cima de quem ali estava. Eram crianças, jovens, idosos, grávidas...muita gente".
Os registos, aponta Artemisa, referem cerca de 230 mortes, número que, acredita, peca por defeito: "Tivemos feridos em estado grave que não sobreviveram, e não estão contabilizados".
Nessa época, morria-se sob o jugo colonial português, enquanto a propaganda ocultava os crimes do Estado Novo, regime que mantinha uma política de auxílio zero aos territórios ocupados.
"Segundo alguns relatos, o que Salazar fez na altura foi mandar abrir valas, mais e mais valas para enterrar a população".
A história conta-se n' "Os 47’s - depoimentos que ficaram”, que apresenta, em 90 minutos, mais de 70 testemunhos, reunidos em sete anos de trabalho.
Naufrágios e resistências femininas
Pelo caminho, a cineasta recolheu tanta informação, que não descarta a hipótese de retomar alguns episódios apresentados no documentário.
É o caso, por exemplo, dos naufrágios que, nessa época, acabaram por ajudar a mitigar os horrores da seca. “O mais famoso é o do navio John E. Schmeltzer, que encalhou em Santo Antão”, aponta Artemisa, assinalando que a rota “seguia da Argentina para a Europa, com toneladas e toneladas de milho”.
Ao navegar por este passado de infortúnio, a realizadora percebeu também como as mulheres assumiram um papel fundamental no combate à fome. “É impressionante o que elas fizeram para sobreviver, e para que as famílias sobrevivessem”.
Os testemunhos incluem a história dramática de uma mulher que, durante dias, andou com o filho morto às costas. “Talvez assim pudesse receber um bocadinho mais de alimento”, calcula a realizadora, interessada em aprofundar essa e outras estratégias femininas de resistência.
“Quero levar estes relatos para a literatura”, antecipa, trazendo para a conversa outra expressão do seu trabalho artístico: a escrita.
Autora do livro de poemas “Desejo”, Artemisa também integra a colectânea poética “Cabo Verde-Galiza – Um Abraço Poético”, e, com a obra “Gruta Abençoada”, tornou-se a primeira escritora a publicar um livro inteiro de poesias eróticas em Cabo Verde.
Apesar de algumas críticas e resistências, a realizadora conta que o texto inspirou um grupo teatral de São Vicente a apresentar uma peça sonora.
“Somos conservadores quando falamos publicamente, mas não quando estamos nas esquinas com os amigos”, diz, afastando da sua abordagem leituras pornográficas.
“Não associo o erotismo à parte sexual ou carnal, mas sim ao belo. Para mim, tudo o que é belo é erótico”.
Inspiração literária
Entre os livros e o grande ecrã, o caminho de criação artística também encontra no ensino uma via de expressão.
“Trabalho com os meus alunos a adaptação da literatura cabo-verdiana para o cinema”, adianta Artemisa, professora na Universidade de Cabo Verde- UniCV.
No último ano lectivo, por exemplo, a obra “Mornas eram as noites”, de Dina Salústio, deu o mote para a apresentação de quase 12 documentários.
A inspiração literária promete ganhar expressão também na cinematografia da escritora, que está a trabalhar numa docuficção.
O projecto deverá concretizar-se através da Ceiba Produções, empresa criada por Artemisa para implementar as suas propostas na área audiovisual.
Os planos, revela a realizadora, incluem um documentário sobre o músico Renato Cardoso, já em construção.
Igualmente em movimento está a afirmação e consolidação da presença feminina neste sector. "Reunimos um grupo de nove mulheres, e criámos um espaço para nos apoiarmos no desenvolvimento dos nossos projectos".
Nasceu assim o “Koletivu Nhanha”, baptizado à letra da identidade de uma antiga combatente: Ana da Veiga, que liderou a chamada Revolta de Ribeirão Manuel, no início do século XX.
Popularizada Nhanha Bongolon, tornou-se um símbolo da força e resistência feminina contra a opressão colonial. Agora também activo na luta pela igualdade de género. Dentro e fora do grande ecrã.
À procura de Mário Pinto de Andrade, numa via de encontro com Sarah Maldoror
Neste 2025 em que se assinalam os 50 anos das Independências de Angola, Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe, a editora Letra Livre vai lançar uma há muito aguardada reedição da obra antológica de Mário Pinto de Andrade, intitulada “Origens do Nacionalismo Africano”. A novidade é antecipada ao Afrolink por Henda Ducados, filha do líder histórico, que, juntamente com a irmã, Annouchka de Andrade, se tem dedicado a preservar e difundir o legado familiar. Além de nos darem a conhecer os múltiplos contributos paternos para os processos de libertação – ultrapassando as fronteiras mais estritas da intervenção política –, Henda e Annouchka abrem os arquivos maternos, permitindo-nos aceder à vida e obra de Sarah Maldoror, apelidada de “mãe do cinema africano”.
Neste 2025 em que se assinalam os 50 anos das Independências de Angola, Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe, a editora Letra Livre vai lançar uma há muito aguardada reedição da obra antológica de Mário Pinto de Andrade, intitulada “Origens do Nacionalismo Africano”. A novidade é antecipada ao Afrolink por Henda Ducados, filha do líder histórico, que, juntamente com a irmã, Annouchka de Andrade, se tem dedicado a preservar e difundir o legado familiar. Além de nos darem a conhecer os múltiplos contributos paternos para os processos de libertação – ultrapassando as fronteiras mais estritas da intervenção política –, Henda e Annouchka abrem os arquivos maternos, permitindo-nos aceder à vida e obra de Sarah Maldoror, apelidada de “mãe do cinema africano”. A destacada herança ganha expressão a partir das actividades da “Associação dos Amigos de Sarah Maldoror e Mário de Andrade”, um dos temas abordados na conversa com Henda, que, no final de 2024, após décadas em Angola, se mudou para Portugal. “Aqui consigo ajudar mais a minha irmã”, explica, de calendário apontado para os diversos compromissos da associação, entre exposições, presenças académicas e projectos de restauro do espólio de Sarah. “Até 2026 já temos a agenda cheia”, conta a economista e socióloga, lembrando o que virá depois disso: os centenários do nascimento de Mário (2028) e Sarah (2029). “Acho impressionante a sua cumplicidade. Evoluíram juntos. Viveram uma história de amor que teve como sustento a emancipação cultural de ambos.” O que ainda falta contar?
Henda Ducados, imagem da “Associação dos Amigos de Sarah Maldoror e Mário de Andrade”
Estava sempre agarrado a um livro, embrenhado em torrentes de leituras, anotações e pensamentos, num quotidiano que também não dispensava caminhadas para desanuviar e arrumar ideias. “Tenho essa memória muito vívida: o Mário era um homem de rituais”, recorda Henda Ducados, desfiando lembranças familiares que fazem parte da nossa História colectiva.
Filha de Mário Pinto de Andrade e Sarah Maldoror, a economista e socióloga dedica-se, em conjunto com a irmã, Annouchka de Andrade, a compilar, preservar e divulgar o legado dos pais. Ou melhor: de Mário e de Sarah.
“Nunca me referi ao Mário como pai, nem à Sarah como mãe, porque fomos educadas assim”, explica, afastando desse tratamento qualquer leitura de distanciamento. “O afecto está cá quando falo neles. Simplesmente na nossa casa o hábito era diferente”.
Além de uma infância rodeada de livros, Henda recorda algumas peripécias próprias das lutas na clandestinidade.
“Cada sítio onde vivemos está associado a um evento histórico, e eu acho isso bastante interessante”, nota, começando pelo seu local de nascimento: Marrocos.
“Rabat [a capital] era a sede do Secretariado-Geral da Conferência das Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas (CONCP)”, assinala, antes de apontar para a localização seguinte: Argélia.
“Foi o palco das revoluções: todos os movimentos nacionalistas tiveram um escritório e uma presença muito grande lá. Lembro-me que a nossa casa estava sempre cheia de pessoas a ir a vir, e que um dos líderes do americano Black Panther, o Eldridge Cleaver, era nosso vizinho”.
O ultimato argelino
Com a recordação de Cleaver assaltam memórias do génio materno: “Uma vez, a Sarah disse-lhe: podes entrar, mas nada de confusão aqui! Faz o favor de deixar a tua arma à porta, porque eu tenho filhas.”
A passagem pela Argélia acabou, contudo, por ficar marcada por outro ultimato: 24 horas para abandonar o território.
“A nossa saída do país foi dramática, porque a Sarah tinha ido à Guiné-Bissau, a convite do Amílcar Cabral, para fazer um filme sobre a luta do país. Lá no terreno, ela mudou o rumo do filme, porque viu que as mulheres tinham um papel muito importante. Então, filmou o trabalho das mulheres, e quando voltou a Argélia, houve uma polémica com o responsável”, descreve Henda, explicando que, embora a produção incidisse sobre o combate guineense, era financiada pela Frente de Libertação Nacional argelina.
“Não gostaram do resultado. Mas não foi isso que levou a Sarah a ser expulsa. Ela infelizmente não se conseguiu conter, insultou um general e acabou presa, com ordem para deixar o território”.
O episódio, que não teve um desfecho pior porque havia a influência de Mário, precipitou a mudança de mãe e filhas para Paris, onde acabaram por se estabelecer.
Para trás ficaram as imagens da discórdia, sem que, contudo, tenham sido esquecidas.
“Hoje esse filme está perdido, mas, recentemente, a minha irmã foi a Argélia, e fez um bom contacto ao nível do Exército, e ao nível da Cinemateca, para ver se conseguimos recuperar a película”.
Compreender Angola, pela escrita de Obama
A diligência faz parte do compromisso de preservação do legado paterno e materno, assumido pelas duas herdeiras.
“Na verdade, respondemos a uma demanda que tem sido excepcional”, conta Henda, assinalando o crescente interesse que a “Associação dos Amigos de Sarah Maldoror e Mário de Andrade” tem despertado em todo o mundo.
“Criámos o projecto em 2020, quando a Sarah faleceu”, recua a economista, na altura ainda a residir em Luanda, destino que se impôs na sua trajectória há mais de três décadas.
“Foi uma escolha um pouco natural, porque o Mário tinha falecido em 1990, e, nessa altura, eu fui a Angola pela primeira vez, para o funeral”. A dolorosa experiência da perda acabou, dois anos depois, por precipitar a mudança.
“Quando acabei os meus estudos, em Chicago, disse: e agora? De repente, tive um grito interior, e senti que era necessário ir”.
O propósito da viagem, que durante muito tempo Henda não conseguiu explicar, revelou-se a partir de uma leitura. “Pode parecer anedótico, mas foi assim mesmo: eu estava a ler o livro do Obama, “Dreams of my Father”, e há uma parte, no fim da viagem que ele fez ao Quénia, em que está nas ruas de Nairobi, já preparado para regressar aos EUA, e sente o pai, consegue vê-lo num engraxador de rua, num motorista de táxi. E no fundo é isso…quando estive em Angola, senti-me mais próxima do Mário”.
A par do reforço da ligação ancestral, a também socióloga aproveitou a temporada angolana para co-fundar a Rede Mulher, aprofundar conhecimentos em microcrédito e descobrir novos sentimentos de pertença.
“É interessante porque quando o Obama chegou ao Quénia, pela primeira vez ninguém questionou o nome dele, que foi pronunciado como deve ser. Isso também aconteceu comigo”.
Apesar de o pai lhe ter explicado a escolha do seu nome – “sempre me disse que era saudade, não só de Angola, mas da mãe –, em Angola, Henda ganhou nova força identitária. Como num processo de renascimento.
“O óbito do Mário foi tão violento que essa foi uma forma de me curar”.
Mais do que lidar com o impacto da morte paterna – “perdi aí alguém muito chegado pela primeira vez” –, a economista reconhece agora que carregava, de forma inconsciente, o peso de não ter resposta a algumas questões, em relação ao percurso do pai, e a necessidade de conhecer as origens.
Legado na agenda
Hoje fixada em Lisboa, Henda explica que como Annouchka vive em Paris, a sua mudança para Portugal permite uma maior partilha de responsabilidades, na dinamização da “Associação dos Amigos de Sarah Maldoror e Mário de Andrade”.
“Aqui consigo ajudar mais a minha irmã”, sublinha, de calendário apontado para os diversos compromissos da associação, entre exposições, presenças académicas e projectos de restauro do espólio de Sarah.
“Até 2026 já temos a agenda cheia”, nota, lembrando o que virá depois disso: os centenários do nascimento de Mário (2028) e Sarah (2029).
Para este ano, as novidades passam pela reedição, pela Letra Livre, da obra antológica de Mário Pinto de Andrade, intitulada “Origens do Nacionalismo Africano”, e por um colóquio sobre o líder histórico, a acontecer em Junho na cidade brasileira de São Paulo.
Também em 2025 – em que se assinalam os 50 anos das Independências de Angola, Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe – está na calha o lançamento de uma compilação de textos do destacado pan-africanista, que sucede à estreia, em 2024, do documentário “Mário”, do americano Billy Woodberry.
“O filme é interessante porque retrata a vida do Mário, mas apenas dimensão política. Eu fiquei com a sede de querer ver mais do poeta, do humanista e do intelectual e pensador”, admite Henda, empenhada em dar a conhecer mais do pai.
Por exemplo, conta, “muita gente não sabe que o Mário ajudou a Sarah a escrever os seus primeiros dois filmes: Monangambé e Sambizanga. Mas foi ele que escreveu os diálogos, e que ajudou no roteiro”.
Amor de emancipação
A colaboração reflete uma das dimensões que, para a filha, importa aprofundar: “Eu acho essa parte da cumplicidade impressionante, porque é a cumplicidade de uma pessoa que não é africana, como a Sarah, que descobriu e abraçou a literatura angolana com ele, e abraçou a causa do movimento de libertação”.
Lembrando que a realizadora já tinha uma identidade construída antes de conhecer Mário, a economista assinala que também ele já era uma pessoa com obras publicadas.
“Evoluíram juntos. Viveram uma história de amor que teve como sustento a emancipação cultural de ambos.”
O que ainda falta contar?
“Havemos ainda de descobrir mais”, acredita Henda, que se continua a surpreender com o legado que lhe corre nas veiais.
“A Sarah tem sido estudada há mais de 20 anos nos Estados Unidos, mas agora há mais pessoas a estudar, a criar cadeiras de cinema sobre o trabalho dela, e nós estamos a fazer palestras nessas universidades”, nota, traçando uma rota que já passou pelas prestigiadas Harvard e Princeton, e que em breve também estará em Yale.
Muda-se a geografia, da América para a Europa, e o interesse na realizadora mantém-se: os 45 filmes que integram a obra de Sarah têm sido seleccionados para vários festivais, processo indissociável do trabalho de restauração desenvolvido por Henda e Annouchka. A este estímulo para novas exibições, junta-se o recurso à tecnologia Blu-ray, via em utilização para facilitar o acesso de mais pessoais à marca Maldoror.
Já a assinatura Pinto de Andrade transporta ainda uma dimensão Kimbundu pouco analisada, visível, por exemplo, na letra da canção “Muimbu Ua Sabalu”, imortalizada em interpretações de Ruy Mingas e Bonga.
Mas muito mais do que um extenso e rico acervo, Mário deixou um caminho para a sua preservação. “Lembro-me que dizia sempre: ‘Atenção, às minhas notas, atenção aos meus cadernos’. Aliás, quando ele partiu, depositámos os documentos na Fundação Mário Soares/ Maria Barroso, e o pessoal ficou surpreendido, porque estava tudo muito organizado”.
Os impressionantes planos de conservação não deixaram sequer de fora o regresso à cidade de origem. “Eu gostaria que um dia tu me ajudasses...vamos criar uma associação no Golungo Alto, dizia-me ele, mas eu só olhava e respondia: o quê? O Golungo Alto? Tão longe! Era uma coisa que no meu imaginário não se poderia materializar”.
Hoje, a três anos do centenário do nascimento do líder histórico, as actividades da “Associação dos Amigos de Sarah Maldoror e Mário de Andrade” demonstram-nos que tudo é possível.
“O contar da história é um compromisso”, sublinha Henda. “Uma pessoa não pode dizer: o meu pai não foi um escritor, a minha mãe não foi realizadora…não tenho nada para contar. Não! Todos nós temos uma história para contar. E eu acho que é muito importante contá-la, ter orgulho em quem somos, tentar compreender o nosso papel na sociedade, e como havemos de marcar a diferença”.
Sem encolhimentos de fronteiras: “Há muitas coisas para fazer e para melhorar, seja nos nossos países de origem, seja na diáspora”. Com legado.
Edição esgotada da obra antológica de Mário Pinto de Andrade, que será reeditada pela Letra Livre
Televisão a branco e branco
Trabalhei como jornalista durante quase 20 anos, percurso iniciado na revista Visão, continuado no semanário Sol, e expandido a partir da saída para Angola, onde assumi, pela primeira vez, funções de chefia. As novas responsabilidades permitiram-me adicionar à minha assinatura profissional a única secção para a qual, até aí, nunca tinha escrito uma palavra: política. A nacional, entenda-se, porque a minha formação em Relações Internacionais acabou por me direccionar para o acompanhamento da actualidade ‘global’ – que é como quem diz do Norte Global. Faço o enquadramento para assinalar que apesar da minha experiência no jornalismo, nunca consumi tanto comentário político como no último ano e meio. Entre páginas de jornais e canais de televisão, a minha dieta informativa passou a incluir doses generosas de análise e opinião, demasiadas vezes indigestas de tão destemperadas. Cada uma à sua maneira, as diferentes posições que vou encontrando evidenciam que o pensamento que habita o espaço público até pode ter diferentes cores partidárias, mas há uma que sobressai: a da pele branca. Afinal, onde estão os comentadores negros?
Trabalhei como jornalista durante quase 20 anos, percurso iniciado na revista Visão, continuado no semanário Sol, e expandido a partir da saída para Angola, onde assumi, pela primeira vez, funções de chefia. As novas responsabilidades permitiram-me adicionar à minha assinatura profissional a única secção para a qual, até aí, nunca tinha escrito uma palavra: política. A nacional, entenda-se, porque a minha formação em Relações Internacionais acabou por me direccionar para o acompanhamento da actualidade ‘global’ – que é como quem diz do Norte Global. Faço o enquadramento para assinalar que apesar da minha experiência no jornalismo, nunca consumi tanto comentário político como no último ano e meio. Entre páginas de jornais e canais de televisão, a minha dieta informativa passou a incluir doses generosas de análise e opinião, demasiadas vezes indigestas de tão destemperadas. Cada uma à sua maneira, as diferentes posições que vou encontrando evidenciam que o pensamento que habita o espaço público até pode ter diferentes cores partidárias, mas há uma que sobressai: a da pele branca. Afinal, onde estão os comentadores negros?
Semanalmente, junto-me aos camaradas Nuno Ramos de Almeida e Pedro Tadeu n’ Os Comentadores. É um espaço integrado no AbrilAbril, também acessível via YouTube, e que parte de comentários feitos nas televisões, a que se soma um artigo publicado na imprensa escrita – não forçosamente de opinião.
Estou neste trio há mais de um ano, e, episódio após episódio, fui encontrando o meu lugar num território que, até aí, me era completamente estranho, e que sempre senti que me estava vedado.
Afinal, quantas pessoas negras assinam colunas de opinião política em revistas e jornais? Quantas têm espaço na TV portuguesa?
Vejo que a professora Luísa Semedo resiste nas páginas do Público, depois do afastamento abrupto da socióloga Cristina Roldão, mas não encontro nenhuma outra referência na imprensa escrita.
A ausência acentua-se quando ligo a televisão: à excepção dos programas desportivos, só me deparo com comentadores brancos.
Ressalva: os comentadores negros que aparecem a analisar futebol chegam à televisão já com expressão pública, pelas carreiras que tiveram nos relvados e/ou no comando técnico de equipas.
Sem essa projecção prévia seriam alguma vez considerados?
Foco na categoria “comentadores” porque, em teoria, ela tem subjacente o reconhecimento de intelectualidade, a que corresponde conhecimento, vivência e capacidade de interpretação e análise da actualidade, fundamentais para a construção de pensamento.
Sublinho “em teoria” porque, à luz da prática que tenho acompanhado nos diferentes canais de televisão – exercício que passou a integrar a minha digestão informativa diária por causa d’ Os Comentadores –, essa intelectualidade resume-se, regra geral, a sobranceria, vaidade e apelidos que acumulam privilégios, adornados, aqui e ali, por distinções curriculares que escondem longas cadeias de referenciações. Mas, apregoam eles e elas, o que vale é a meritocracia!
Uma ardilosa invenção segundo a qual, se não temos pessoas negras a comentar a actualidade política – e a ocupar outras posições de visibilidade e influência social –, é por não fazerem o suficiente para chegar lá.
E como quem decide goza do enorme privilégio de poder escolher não ver cores, continuamos a viver num mundo em que a televisão se pensa e vê a branco e branco, e em que a cobertura mediática ignora a presença negra, a menos que sirva para confirmar percepções de identidades.
Não estranha, por isso, que, a dar-se o milagre de nos chamarem para comentar a actualidade num espaço mainstream, o convite esteja invariavelmente amarrado a uma qualquer situação de racismo. O que não deixa de ser sintomático: por um lado, dizem-nos que não vêem cores, e, por outro, não nos conseguem reconhecer para além da nossa negritude.
Esta tem sido a regra, mas esta não tem de continuar a ser a regra. Da mesma forma que se abriu caminho – e bem – à opinião feminina no espaço público, é crucial que se faça o mesmo em relação às pessoas negras e a todas aquelas que continuam invisibilizadas.
Sei que a simples exposição às diferenças humanas não produz, por si só, a aceitação dessas diferenças, contudo, parece-me evidente que sem a desconstrução dos preconceitos associados a essas diferenças, continuaremos a viver numa sociedade de profunda desumanização do “outro”.
Se todos os tipos de pessoas trabalham, pagam impostos, arrendam e compram casas, consomem, constroem famílias, amam, sofrem, pensam, indignam-se, revoltam-se…porque é que na configuração do espaço público português, apenas as pessoas brancas são consideradas na multidimensionalidade humana?
O que sabemos é que a partir dessa subtracção de vidas se multiplicam os olhares de desumanização e a normalização de práticas discriminatórias, cristalizando-se percepções de subalternidade, incivilidade e criminalidade. Mas o que para tantos representa enviesamento, apagamento e silenciamento, continua a ser, aos olhos da branquitude “criadora de todas as causas e coisas”, um bom programa de fortalecimento e entretenimento de poder.
Cabe-nos, por isso, a nós, pessoas racializadas e aliadas, continuar a apresentar outros programas. Conscientes de que a revolução não será televisionada, mas precisa de ser imaginada. À imagem do que nos lembra Jonathan Horstmann, na citação que abre a newsletter desta semana: “A voz negra é forçada a ser imaginativa, caso contrário será silenciada”.
Nós por cá, reiteramos o compromisso de continuar a imaginar.
“Um Passado Presente” – para imaginar um futuro mais consciente e anti-racista
Há uma parede estrutural – feita de efabulações, omissões, manipulações e distorções históricas –, que mantém o edifício colonial português de pé. Mas hoje sabemos o suficiente do caderno de encargos da obra imperial para reconhecermos que assenta sobre fracturas invididuais, familiares e colectivas, que tornam visível a necessidade de um projecto de reparação. Apesar disso, Portugal-o construtor prefere cobrir-se de tapumes de silêncio, manter a fachada de ‘bom colonizador’, e ignorar o lastro de destruição que, 50 anos após a queda do estado novo, continua a infiltrar vidas. Com que resultados? “Um Passado Presente” abre caminho para encontramos respostas.
Há uma parede estrutural – feita de efabulações, omissões, manipulações e distorções históricas –, que mantém o edifício colonial português de pé. Mas hoje sabemos o suficiente do caderno de encargos da obra imperial para reconhecermos que assenta sobre fracturas invididuais, familiares e colectivas, que tornam visível a necessidade de um projecto de reparação. Apesar disso, “Portugal-o construtor” prefere cobrir-se de tapumes de silêncio, manter a fachada de ‘bom colonizador’, e ignorar o lastro de destruição que, 50 anos após a queda do estado novo, continua a infiltrar vidas. Com que resultados? “Um Passado Presente” abre caminho para encontramos respostas. Carlota Matos, artista e autora da proposta, explica de que forma: procurando “criar um espaço de diálogo”, em que se reflecte “sobre o impacto do colonialismo e do processo de descolonização, tanto no passado como nos dias de hoje”. Acompanhada da mãe, Fátima Matos, que chegou a Portugal como “retornada”, em 1976; e do artista MoYah, que deixou Moçambique durante a guerra civil, terminada em 1992; Carlota sublinha o carácter agregador deste projecto. “Num contexto em que ainda há muito branqueamento da história, este trabalho oferece uma oportunidade para confrontar essas realidades, trazer novas perspectivas e imaginar um futuro mais consciente e activamente anti-racista”. O Afrolink conta-lhe tudo.
Texto escrito a partir da recolha de depoimentos de Janeth Tavares, que assina as fotografias
Registo da apresentação informal ao público, no âmbito do Programa de Residências d’O Rumo do Fumo
Fechado na gaveta, encurralado entre “o transtorno e o desconforto” que sempre lhe causou, o passado fez-se finalmente presente na história de Carlota Matos.
Herdeira da ‘marca’ dos “retornados”, a artista portuense cresceu a ouvir a mãe falar sobre a infância em Moçambique, e sobre “o choque cultural que sentiu na vinda para Portugal, aos 12 anos”.
Mais do que a “nostalgia”, Carlota sempre identificou os silêncios que se colavam a essas memórias. “Eu sabia que ainda existia muito por contar”. Mas, como ultrapassar “o transtorno e o desconforto” que o tema sempre lhe causou, e procurar saber mais?
“Sabia também que, ao criar um projecto sobre isto, queria fazê-lo com um artista moçambicano e incluir a sua perspetiva”.
O momento surgiu há cerca de um ano, no Reino Unido, destino de migração e expansão profissional. “Conheci o MoYah em Bristol. Depois de uma conversa inicial, apercebemo-nos de que temos muitos pontos em comum no nosso trabalho e na relação com a arte: ambos trabalhamos bastante em projectos sociais, e temos interesse em abordar questões de família, identidade e descolonização”.
Dessa aproximação de experiências, olhares e leituras históricas, nasceu a vontade de construir uma colaboração, para já concretizada no projecto “Um Passado Presente”.
“Termos sido seleccionados para o Programa de Residências d’O Rumo do Fumo deu-nos a oportunidade de iniciarmos este processo juntos”, nota Carlota, que abriu a criação a um terceiro elemento: a própria mãe.
“Projecto de performance… o que é isso, como se faz, filhota?”, era esta a minha dúvida inicial”, introduz Fátima Matos, destacando o repertório de aprendizagens.
“A história, com entrevistas de outros retornados, e ainda as pesquisas, os livros com interesse nestes temas, incluindo romances de autores moçambicanos; bibliografia em documentários, filmes, reportagens, textos, arquivos históricos; as videochamadas com a minha filha, foi tudo muito importante para o desenrolar do processo e continuidade desejados”.
Nascida em Moçambique, Fátima recorda como a mudança para Portugal, aos 13 anos, foi marcada por “dificuldades na integração”, revisitadas agora n’ “Um Passado Presente”.
Além das próprias lembranças, que passam pela “bondade, generosidade e educação” transmitidas pela mãe, a hoje reformada de uma carreira na banca, destaca a importância de ter conhecido a história do artista moçambicano MoYah, que apresenta como “protagonista e cúmplice” de uma “grande aventura”.
Filho de um Moçambique já liberto do jugo colonial português, demarcador de fronteiras na vida de Fátima Matos, MoYah reside actualmente em Inglaterra, depois de na juventude se ter fixado em Lisboa. A mudança chegou com o estatuto de refugiado político, vivência que o criativo procura visibilizar a partir da arte, que desenvolve como “uma óptima ferramenta para aproximar as pessoas e nutrir a empatia”, a seu ver “uma das bases para uma sociedade frutífera.”
Histórias por contar, aprendizagens por fazer
Inteiramente dedicado à carreira artística, o moçambicano encontrou na música, e em particular no Rap, uma via “poderosa de autoconhecimento e expressão social”, através da qual alerta para várias injustiças sociais.
“Os temas da migração, da identidade, do lar e da diáspora africana são realmente interessantes para mim, pois fui forçado a fugir do meu país natal, Moçambique, ainda criança, durante a guerra civil”, conta MoYah, defendendo que precisamos saber mais sobre esse capítulo da nossa História.
“Não creio que exista arte contemporânea suficiente que explore e reflita a experiência dos moçambicanos que migraram para Portugal naquela época e as complexidades que rodearam a sua migração”.
Disposto a contribuir para um maior conhecimento, MoYah partilha que, “como artista full-timer” – agora também voltado para a prática teatral – encontra constantemente novas maneiras de se conectar com as pessoas “e fornecer diferentes perspectivas para experiências humanas que nem sempre são representadas, especialmente a experiência vivida por refugiados”.
Assumido apologista da “representatividade artística de pessoas do Sul Global”, o moçambicano considera que “Um Passado Presente” oferece “uma boa oportunidade para retratar e transmitir histórias que não são frequentemente ouvidas nos espaços convencionais”.
Aliás, muitas dessas vivências nem sequer foram contadas, porque ainda precisam de ser reconhecidas. E também aí, a arte pode facilitar despertares de consciência, como aconteceu com Fátima, durante os ensaios no estúdio.
“Fez-me enfrentar as dificuldades, praticar a auto-reflexão, aceitar as emoções difíceis, descobrir e partilhar curiosidades sobre mim mesma, fortalecer momentos sensíveis com sinais de humanidade”.
Já a filha Carlota sublinha o efeito desbloqueador do que estava por contar. “Comecei também a ter com a minha mãe as conversas que nunca tivemos, usando o livro ‘Caderno de Memórias Coloniais’ de Isabela Figueiredo como ponto de partida”.
Além do impacto particular do projecto, a autora de “Um Presente Passado” reflecte sobre o seu efeito estrutural.
“Dialoguei com o MoYah e outras pessoas moçambicanas, e passei muito tempo a refletir sobre o meu lugar de fala e de privilégio, o porquê deste projeto e o meu papel nele. Percebi também que ao procurar entender a história da minha mãe, da minha família e do meu país, estou a procurar entender-me a mim mesma”.
Sustentar o futuro com honestidade
O processo de criação artística teve como foco de partida a pesquisa, na primeira de quatro semanas de residência centrada no contexto político que se vivia em Moçambique nos anos 70 e 80, atravessando a luta e a conquista da Independência, as movimentações dos “Retornados” e a Guerra Civil, encerrada em 1992, após 16 anos de confrontos.
“Pretendemos com Um Passado Presente investigar como tornar possível o diálogo entre diferentes gerações, aumentar a compreensão e escuta entre pessoas que cresceram em mundos tão diferentes”.
A proposta conta já com uma apresentação informal, realizada no final do Verão passado, em Lisboa, no âmbito da residência artística d´O Rumo do Fumo, que beneficiou de um workshop de escrita criativa de Sukina Noor, e dos registos fotográficos de Janeth Tavares.
“Foi basicamente um ensaio aberto com público. Foi muito bom, abordámos vários temas – alguns difíceis –, recebemos a opinião e a partilha de todos os presentes, e tudo foi evoluindo com naturalidade”, recorda Fátima, surpresa com a “recepção tão entusiasta do público”.
O bom acolhimento da plateia, onde outros herdeiros de “retornados” também quebraram silêncios pesados, é igualmente destacado por Carlota.
“A oportunidade de abrir as portas do nosso estúdio foi fundamental. As intervenções positivas dos presentes reforçaram para nós a importância deste projecto, e o feedback que recebemos vai enriquecer o nosso trabalho e ajudar-nos a pensar e planear o futuro”.
O caminho deverá incluir novos voos, antecipa a autora d’ “Um Passado Presente”. “Estamos no início desta viagem, à procura de mais residências artísticas que nos permitam continuar a criar e a explorar o cariz multidisciplinar do projecto”.
Já com algumas das próximas paragens identificadas, Carlota Matos mantém o propósito de tirar da gaveta o tema dos “retornados”.
“A presença de famílias portuguesas brancas em países colonizados e todo o contexto político que a engloba foram, para e por muitos, enterrados”.
Mas a caminho do 50.º aniversário das Independências de quatro dos cinco países ocupados por Portugal (excepção feita para a Guiné-Bissau), a artista quer desenterrar o que precisamos de ver e reconhecer.
“Um Passado Presente procura criar um espaço de diálogo, reflectindo sobre o impacto do colonialismo e do processo de descolonização, tanto no passado como nos dias de hoje. É um projecto sobre encontros e desencontros entre diferentes perspectivas e gerações, que abre um espaço onde estas complexidades possam ser discutidas de forma honesta”.
A proposta torna-se ainda mais relevante, “num contexto em que ainda há muito branqueamento da História”, conforme reconhece a sua autora.
“Este trabalho oferece uma oportunidade para confrontar essas realidades, trazer novas perspectivas e imaginar um futuro mais consciente e activamente anti-racista”. Livre da podridão do edifício colonial.
Carlota Matos, com o livro que ajudou a “desbloquear” conversas com a mãe, Fátima Matos
Residência CPLP mais perto de avançar, com africanos a ficar para trás
A Assembleia da República (AR) aprovou, no passado dia 20, alterações à Lei de Estrangeiros, abrindo caminho para que o título de residência da CPLP possa finalmente entrar em vigor, respeitando as normas europeias. As mudanças ainda terão de passar pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da AR, e obter a ratificação presidencial, processo que deverá ficar concluído até ao final do primeiro trimestre de 2025. Até lá, a antropóloga, artista, pesquisadora e activista de Direitos Humanos, Rita Cássia de Silva, alerta para o carácter discriminatório do novo instrumento, numa carta que dirige “às pessoas conterrâneas brasileiras em Portugal”, e que o Afrolink publica na íntegra. Nela, a investigadora defende que “não deve haver pessoas migrantes de 1.ª, 2.ª e 3.ª categorias no âmbito da CPLP”, lamentando que os países africanos tenham ficado para trás.
A Assembleia da República (AR) aprovou, no passado dia 20, alterações à Lei de Estrangeiros, abrindo caminho para que o título de residência da CPLP possa finalmente entrar em vigor, respeitando as normas europeias. As mudanças ainda terão de passar pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da AR, e obter a ratificação presidencial, processo que deverá ficar concluído até ao final do primeiro trimestre de 2025. Até lá, a antropóloga, artista, pesquisadora e activista de Direitos Humanos, Rita Cássia Silva, alerta para o carácter discriminatório do novo instrumento, numa carta que dirige “às pessoas conterrâneas brasileiras em Portugal”, e que o Afrolink publica na íntegra. Nela, a investigadora defende que “não deve haver pessoas migrantes de 1.ª, 2.ª e 3.ª categorias no âmbito da CPLP”, lamentando que os países africanos tenham ficado para trás.
por Rita Cássia Silva
Carta às pessoas conterrâneas brasileiras em Portugal: não deve haver pessoas migrantes de 1.ª, 2.ª e 3.ª categorias no âmbito da CPLP
Na Revista Portugal Colonial, de propaganda da expansão colonial em África, publicada em Março de 1931 e que era distribuída para “Agentes em todas as cidades Ultramarinas, Madeira, Açôres, Brasil, etc.”, lê-se na página 5, as vis considerações de um certo Sr. colonialista Dr. Agostinho de Campos:
“Porque é que se coloniza? Para que se teem colónias? Que sentido se contém hoje em dia na expressão “Império Colonial”? Nos séculos XV e XVI Portugueses e Espanhóis navegaram, descobriram, conquistaram mundos novos, e começaram os trabalhos da moderna colonização. A crença e o entusiasmo religioso, a ambição de glória, o espírito cavalheiresco, a ânsia de lucro, o orgulho da nação ou de raça, a energia física e moral exuberante, o génio aventureiro, o instinto das necessidades políticas, as fatalidades geográficas, a lei do menor esforço (verdadeiro ou ilusório), a velocidade adquirida em séculos de guerras contra vizinhos, pobreza e imaginação que via luzir ao longe o oiro apetecido – de todos estes impulsos sociais e naturais, alguns contraditórios, se formou uma corrente de forças, superior à vontade e ao raciocínio humano, que nos fêz – a nós e a outros depois de nós – dilatar a Fé e o Império. Na sua essência a iniciativa e persistência colonizadora resume-se em três palavras: exuberar, possuir, dominar. Dar emprego a energias transbordantes. Ter o que julgamos faltar-nos. E ser senhores –; quanta vez para não sermos escravos!”
Tendo sido um homem fascista, pertencente ao movimento colonialista português tardio, o seu desejo de que os homens portugueses não fossem “escravos” toldou-lhe o espírito. De modo que, não havia dentro de si, uma consciencialização sobre a barbárie. Estima-se que mais de 12 milhões de pessoas africanas foram arrancadas dos territórios africanos e torturadas vivas psicologicamente, fisicamente e patrimonialmente, entre os séculos XVI - XIX, tendo sido Portugal o precursor do tráfico transatlântico, responsável direto pelo tráfico de mais de 5,8 milhões de pessoas africanas.
Tara Roberts, afro-americana, mergulhadora e contadora de histórias, nos relata as suas vivências e experiências em viagens por diferentes territórios em busca de uma compreensão histórica e resignificação dos traumas provocados pelo tráfico transatlântico de pessoas africanas escravizadas. Na reportagem “Uma Mergulhadora procura as histórias daqueles que se perderam nos navios negreiros e encontra o lado humano de uma época trágica”, que foi publicada na Revista National Geographic Portugal e atualizada em 24 de Outubro de 2022, Roberts partilha connosco:
“Também ouço histórias do naufrágio do São José Paquete de África. O navio português viajou de Lisboa para a ilha de Moçambique em 1794. Os esclavagistas colocaram mais de quinhentas pessoas, muitas das quais pertencentes à etnia macua, no porão de carga do navio. Dirigindo-se ao Brasil, o navio teve um encontro fatal com o destino às primeiras horas da manhã de 27 de Dezembro, nas rochas ao largo da Cidade do Cabo, na África do Sul. Duzentos e doze dos prisioneiros africanos a bordo morreram e os sobreviventes foram vendidos como escravos.”
Histórias sobre o tráfico transatlântico de pessoas africanas que foram escravizadas pelos europeus e sobre o colonialismo tardio português, não têm vindo a ser rigorosamente explanadas nas escolas no Brasil e muito menos em Portugal, contribuindo assim para que atualmente estejamos a lidar com ataques à frágil vigência democrática onde as pessoas africanas e os seus descendentes estão continuamente a ser invisibilizadas e prejudicadas individualmente e coletivamente.
Pois bem. O Acordo sobre a Mobilidade entre os Estados-Membros da CPLP, celebrado a 9 de Dezembro de 2021, em comemoração aos 25 anos da CPLP, um diploma que foi votado por todos os partidos políticos do parlamento português, com exceção do partido de extrema-direita, em Novembro de 2021, teve nos países africanos como Cabo Verde e Angola, papéis determinantes e do meu ponto de vista, contemplou um princípio de responsabilização histórica, quiçá reparação colonial. Segundo os dados do relatório de 2023 da AIMA - Agência para a Integração, Migrações e Asilo, 40.266 pessoas oriundas dos territórios africanos que integram a CPLP, 108.232 pessoas oriundas do Brasil e 676 pessoas oriundas de Timor-Leste tiveram concessões de visto de autorização de residência dentro do Acordo de Mobilidade entre os Estados-Membros da CPLP. O acordo esteve estremecido durante o ano passado, devido às demandas europeias relacionadas com o espaço Schengen. Qual não foi a minha surpresa ontem, quando fiquei a compreender que o parlamento português, nomeadamente, os partidos políticos de direita PSD e CDS-PP votaram a favor da concessão de autorizações de residência mediante o acordo de mobilidade CPLP, cujo texto possui discriminações entre países que integram a CPLP! Somente o PCP e o PAN votaram contra! Os países africanos ficaram para trás. Pessoas do Brasil e de Timor-Leste vão poder entrar em Portugal sem visto e pedirão o visto em território português. Todas as pessoas dos 6 países que estão localizados no continente africano, Angola, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Guiné Equatorial somente poderão entrar em Portugal com visto! Todas as pessoas devem ser respeitadas no seio da CPLP, independente da origem étnico-racial, da nacionalidade, do género, da classe social.
Parece-me ser fundamental solicitar-vos uma observação cuidadosa ao quotidiano português e ao mundo em que estamos a viver e que possam se solidarizar com os povos africanos e seus descendentes. A presença africana em Portugal é secular. Penso que seja um dever das pessoas brasileiras conscientes sobre as origens históricas da formação do povo brasileiro, contribuir para que não haja divisão entre povos na CPLP e sim dignificação histórica, verdadeiro entrelaçamento cultural, reparação colonial. O que significa evidentemente que devemos caminhar em conjunto para a salvaguarda da vigência democrática em Portugal. A corroboração com narrativas de que existem pessoas migrantes de 1.ª, 2.ª e 3.ª categorias no âmbito da CPLP, além de ser um caminho muito perigoso, potencializando o avanço da extrema-direita portuguesa, também potencializa a violação do Princípio da Igualdade, artigo 13.º da Constituição da República Portuguesa: 1. Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. 2. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual. Espero sinceramente que este diploma embora tenha já sido votado na AR - Assembleia da República Portuguesa, que possa ser devidamente retificado, antes de ser legitimado pelo Presidente de Portugal, Professor Marcelo Rebelo de Sousa. Sem África, não haveria Brasil e muito menos, o Portugal que conhecemos hoje.