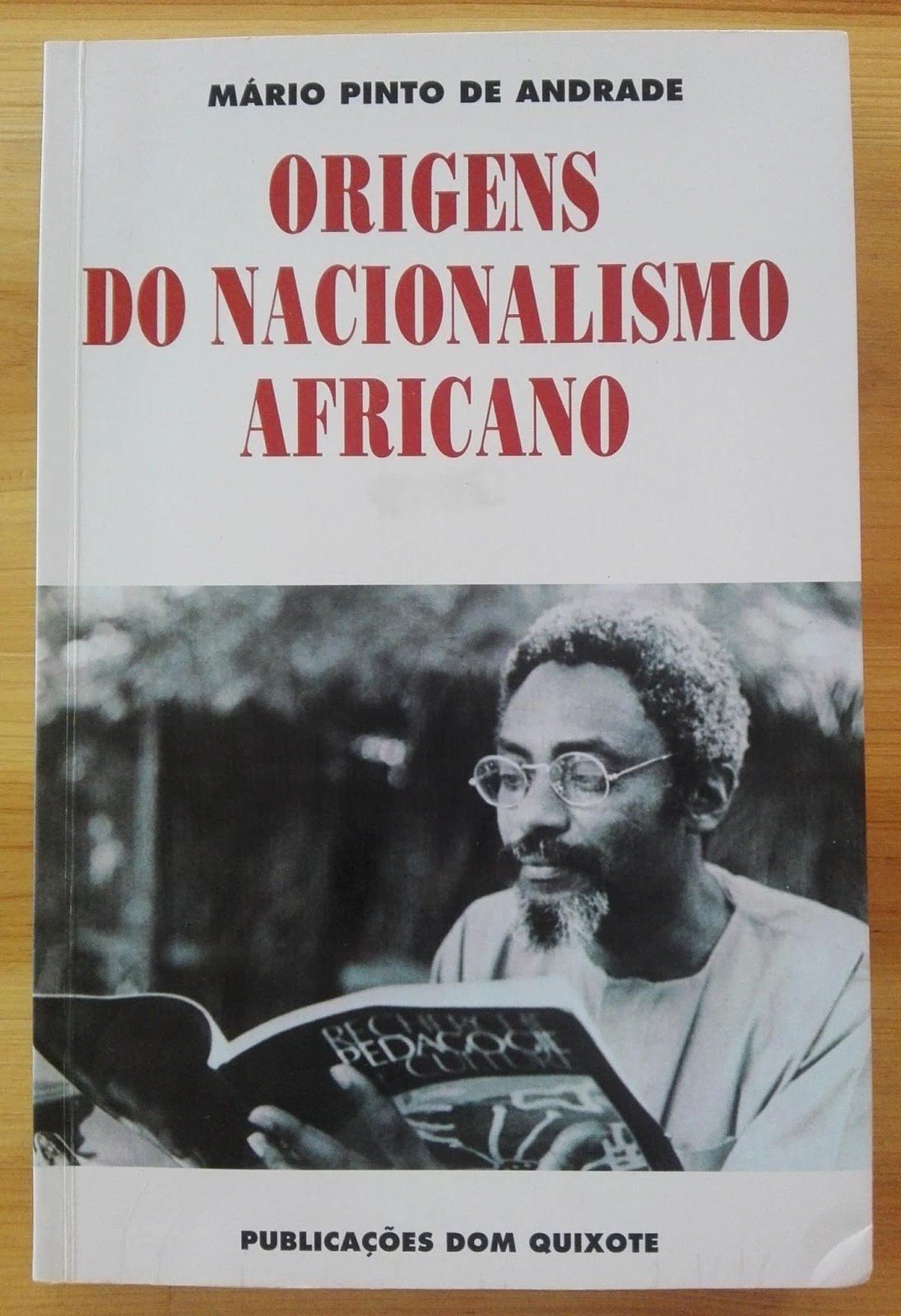HISTÓRIAS
General D: “Havia skinheads por todo o lado, para onde acham que foram? Estão nas polícias, nos hospitais, no Parlamento”
Perdemos-lhe o rasto durante 15 anos. De 1999, altura em que trabalhava no terceiro álbum, até 2014, momento em que reapareceu – primeiro nas páginas do Público, e depois no palco do Lisboa Mistura –, General D tornou-se um mito. Actualmente a residir no Reino Unido, o artista tem aprimorado talentos também fora dos palcos, nomeadamente como chef e criador da marca de alimentação Imella. Nesta entrevista, a dias do regresso aos palcos, seguimos uma rota que percorre os descaminhos da indústria da música, e os caminhos do combate político, da exclusão racial, da sustentabilidade económica e do Amor. Com a palavra, o pensamento e a prática de General D.
Quanto da História de Portugal se escreve sob o signo das atrocidades racistas que, à boa maneira dos blockbusters americanos, popularizaram os Ku Klux Klan, ou simplesmente KKK? Encontramos algumas respostas na discografia General D, que, em 1994, lançou “Portukkkal é um erro”. Três décadas depois o que mudou? O aclamado pai do hip-hop tuga responde, numa conversa que vos convido a ler.
General D, com a Medalha de Prata de Mérito Cultural, atribuída pela Câmara de Almada
Perdemos-lhe o rasto durante 15 anos. De 1999, altura em que trabalhava no terceiro álbum, até 2014, momento em que reapareceu – primeiro nas páginas do Público, e depois no palco do Lisboa Mistura –, General D tornou-se um mito.
O estatuto foi alimentado por toda a sorte de lendas sobre o seu desaparecimento – tão súbito quanto misterioso –, e por uma série de especulações a respeito do seu paradeiro.
Mas, se por cá o vazio deixado pelo aclamado ‘pai do hip-hop português’ se preenchia de ficções, lá fora o afastamento dos holofotes permitia ao músico abrir espaço para um renascimento.
A viagem de regresso a si próprio, conforme a descreve, passou por vários países e experiências profissionais até se direccionar de novo para os palcos, destino que promove este encontro com o Afrolink.
Aconteceu na passada sexta-feira, 12, no Brooklyn Lisboa, dia da celebração colectiva do nascimento de Amílcar Cabral, e, para mim, também de reforço de uma velha convicção: General D é dos melhores “soldados” que temos.
Nascido em Moçambique há quase 53 anos, Sérgio Matsinhe forjou a assinatura artística no círculo de maior proximidade: a ‘patente militar’ foi-lhe confiada por amigos, a partir das competências de liderança amplamente demonstradas, enquanto o D deve a sua proveniência a Dadinho, tratamento afectuoso que ainda hoje recebe dos mais chegados.
Actualmente a residir no Reino Unido, o artista tem aprimorado talentos também fora dos palcos, nomeadamente como chef e criador da marca de alimentação Imella.
Nesta entrevista, seguimos uma rota que percorre os descaminhos da indústria da música, do combate político, da inclusão racial, da sustentabilidade económica e do Amor. Com a palavra, o pensamento e a prática de General D.
Regressas aos palcos no próximo dia 20 de Setembro, com um concerto no ciclo “Sons do Património”, na cidade da Maia. Tens referido que, antes de mais, este é um regresso a ti próprio. De que forma?
É o regresso a mim, como se eu fosse um peixe num aquário que agora está a voltar para o mar. É assim que eu me sinto, e é super bom, principalmente porque volto para os palcos com uma nova bagagem cultural e histórica, e de noção da indústria e das pessoas. Tive a oportunidade de, com um maior distanciamento, perceber o que é isto do hip-hop, o que nós estávamos a fazer, o impacto que tinha na vida das pessoas. Então, volto com uma noção que não tinha. Porque naquela altura estávamos a ser todos empurrados pela onda, pelo destino, por Deus, ou pelo que for. Tínhamos de fazer o que tínhamos de fazer. E nunca pensei na forma como aquilo afectava o dia-a-dia das pessoas. Voltar com essa noção é uma forma mais consciente de estar no mesmo lugar.
Como é que essa consciência altera o que produzes, num contexto tão diferente, em que a indústria musical e as nossas relações ganharam novas dinâmicas, a partir do digital?
Altera muito, no sentido de que as coisas que me levaram a afastar são as que mais dificuldades criam aos artistas agora. Falo do poder que as indústrias e as editoras têm. Na altura, tinha uma luta muito grande com as editoras. Apesar de todo o desenvolvimento, acho que as correntes estão ainda mais apertadas. Hoje, as editoras têm poder sobre o Spotify, sobre os concertos, sobre tudo.
As correntes deixaram de ser de veludo, como dizia a Janet Jackson?
Exactamente. As correntes já não são de veludo, as correntes são reais. E, no outro dia, estava a ler um artigo em que se dizia que num milhão de streams, o artista ganha cerca de 4 mil euros. Depois tens esse valor dividido pela editora, pelo manager, pelo “taxman” [impostos], por isto, por aquilo. E poucos chegam a um milhão de streams. Tudo começa pelos artistas, mas os artistas não são muito beneficiados. Infelizmente não há uma grande protecção. A indústria não está aqui para proteger os artistas. Esse foi um dos motivos que me levou a afastar e a procurar meios administrativos, industriais, económicos, para criar ou tentar criar uma outra realidade, não só musical, mas também industrial ou business. Uma plataforma que melhor sirva os artistas, principalmente os artistas de reivindicação, que estão aqui com algo para dizer.
A Imella Records, label que tu criaste, é essa proposta?
Sim, ainda está no princípio, mas é a isso que se há-de propor. Por enquanto a Imella está muito focada na alimentação. Com o meu regresso aos palcos, a parte do entretenimento também pode ter um papel fundamental em ligar a alimentação, o bem-estar, a música, porque é tudo um conjunto, é tudo uma questão de vibração. E a vibração é psicológica, é espiritual, é física. E eu penso que aqueles que não gostam de nós, atacam-nos nessas formas todas, porque é necessário baixar a vibração colectiva das pessoas para depois poder oprimi-las. Usando uma linguagem mais actual, eu acho que é o que eles fazem é entrar dentro de nós e mudar a nossa password, como se fossem hackers. E quando mudam a nossa password, começam a postar coisas que não têm nada a ver connosco. É assim que nós vivemos agora, e estou a falar de forma colectiva porque eu também me incluo. Aceitamos comportamentos e formas de estar, e temos reacções em que a nossa vibração está muito lá em baixo. Por exemplo, existem pessoas a beber ou fumar até desmaiar que depois publicam isso como se fosse uma grande coisa. Apesar de ser um comportamento completamente tóxico, ao mesmo tempo é aceitável porque colectivamente fomos hackeados. É o estado em que estamos a vibrar, e é super importante trazermos a nossa vibração para cima, com a alimentação, os filmes que vemos, as culturas às quais estamos expostos, e até mesmo a roupa que vestimos – se é de algodão, se é sintética. Tudo tem vibração.
Em que fase da tua caminhada sentes que estás?
Estou a recuperar a minha password. Isso demora muito tempo. Estou a recuperar a minha password para depois poder começar a postar outras coisas. A fazer outras coisas. E a ser mais eficiente e mais efectivo na minha caminhada.
Foste alterando aspectos da tua vida a partir dessa consciência?
Por isso é que tenho essas duas formas de estar: na alimentação na música. A Imella representa a plataforma prática da alimentação, de como comermos, do self-love, a frase da marca. Depois, eu venho com a música, que é para a alma. Portanto, há o corpo, a alma e o espírito, e nós temos de funcionar como um só, temos que abarcar os três.
Além dos palcos, o músico desenvolve a marca Imella, para já focada na alimentação
Como é que se preserva a alma da música, das criações artísticas, num território capitalista, em que tudo é reduzido a produto?
Há muitos passos a serem dados nesse sentido, mas acho que o principal é nós estabelecermos uma comunicação directa entre as pessoas e os músicos e os artistas.
Porque houve desde sempre os gatekeepers [‘donos’ dos acessos] – editoras e promotores – que encaminham a nossa mensagem e a nossa música para o público, e que têm uma forma de escolher o tipo de mensagem. Isso depois vai condicionar a vibração, ou a que nível é que as pessoas vão vibrar. Havendo agora outros instrumentos, como as redes sociais, temos que fazer proveito deles, e chegar ao público directamente.
Isso não está já a acontecer?
Não, porque o que temos são novos labels daquilo que já existia, muito mais opressivos, mas dando-nos a ilusão de que realmente existe mais liberdade. Nós não temos necessariamente que pôr a nossa música, por exemplo, no Spotify ou em todas as plataformas. Há umas pens agora, que os artistas têm, e o disco físico também está a voltar.
Mas o disco físico está a voltar para um mercado de coleccionadores, mais exclusivo.
Sim, mas nem sempre. O que acontece também é que nessa onda mais coleccionadora os preços são mais altos. E interessa dar aos artistas viabilidade económica. Tudo anda à volta disso. As editoras, os patrocinadores, têm os artistas porque dão essa viabilidade económica. Repara que muitos rappers, desde os anos 90 e até antes, era pessoal do gueto, pessoal que estava nas prisões, ou que, como eu, vivia em situação precária, económica e social. E, com a editora, aparece alguém que diz: ‘Nós podemos resolver partes da tua vida’”. Então, a gente aceita isso tudo, em nome da viabilidade económica. O que nós temos que fazer é criar outra viabilidade económica, que realmente seja justa, que crie justiça e que crie um acesso, que as pessoas tenham um acesso directo à nossa área. Porque uma revolução sem o entendimento da viabilidade económica é apenas um sonho. Nós temos que avançar, e não há outra forma de vencermos se não criarmos serviços e produtos e estruturas para distribuir esses produtos e serviços. Porque é através desses produtos e serviços que criamos emprego. As pessoas detestam quando eu digo isto, mas não vale a pena ir a uma marcha e uma manifestação às três da tarde para às cinco entrar no McDonald's, e na segunda-feira seguinte encaminharmo-nos todos para servir instituições que, muitas delas, estão contra as causas que defendemos, e a apoiar financeiramente o que estamos a combater.
Enquanto não temos uma alternativa, como escapar a essa lógica dos gatekeepers?
Há tanto a fazer, há um mundo por fazer! Nós temos séculos de trabalho pela frente para nos reconstruirmos, para cuidarmos de nós, no campo da alimentação, no campo da saúde. Há tantas coisas que temos que fazer por nós! A questão é que aqueles que não gostam de nós conhecem bem os nossos passos, como é que a gente faz a coisas, e sabem como invalidar essa nossa caminhada. Por isso, temos de aparecer com uma forma diferente de estar, e com as nossas estruturas. Mas, infelizmente, eu vejo que gastamos grande parte do nosso tempo e da nossa energia a tentar mudar a pessoa que não gosta de nós. Eu tive que mudar também nesse sentido, e hoje não sinto a necessidade de modificar o pensamento de uma pessoa que é racista. Porque eu tenho que proteger as pessoas que estão do meu lado e proteger-me a mim próprio. Porque se uma cobra me morde, eu não vou correr atrás dela a perguntar: cobra, porque é que me mordeste? Eu não vou querer mudar a cobra. Se ela me morder, tenho que ir para o hospital, tenho de cuidar de mim, do veneno que está dentro [do meu corpo]. Eu não vou passar a minha vida a tentar modificar a pessoa que não gosta de mim. Quem não gosta de mim não é bem-vindo. Eu não sinto falta de quem sabe como me encontrar e não vem ter comigo.
Devemos, então, dirigir o foco para o que conseguimos fazer, em vez de dar tanta atenção à cobra. É daí que vem a crença na força do colectivo, que já expressaste noutras ocasiões? Manténs essa confiança, tendo em conta a energia em que estamos a vibrar, que na tua opinião é muito baixa?
Há uns parênteses que temos que pôr aí, e que eu aprendi a colocar: como dizia o Nipsey Hussle, “Everybody can’t go”. Ou seja, nem todos podem ir. É difícil, mas não temos que trazer toda a gente. Eu procuro juntar-me aos leões e às leoas e fazer esta construção com eles. Não perco mais tempo com cordeiros que, um dia, quando estiverem prontos, hão-de vir. Se não vierem, tudo bem. Nós somos mais de 8 mil milhões de pessoas neste mundo. Se fores ao teu telefone, se calhar tens 1.000 contactos, mas com quantas pessoas realmente contactas? Nos últimos seis meses, quantas dessas mil pessoas entraram na tua vida? Então, há muita gente à volta que não tem grande impacto na tua vida. Não são essas pessoas que fazem com que tu trabalhes, pagues as contas, estejas feliz, sorrias. Como não podemos contar com o colectivo todo, devemos juntarmo-nos com um grupo de pessoas com uma mente parecida. Não vamos concordar em tudo, mas temos de estar alinhados. É muito importante que sejam pessoas que vibrem mais ou menos ao mesmo nível, que vibrem ao mesmo tempo, e que possamos discutir e construir a partir daí. Mas, não vale a pena estar a tentar integrar no mesmo caminho, na mesma marcha, uma pessoa com uma vibração aqui e outra com a vibração ali, porque a coisa é três passos para trás, três passos para a frente. E eu já vi esta Black Revolution [Revolução Negra] há uns anos.
Achas que não houve um upgrade?
Não houve. O que estou a ver agora, já vi há 20 anos, já fiz parte disso há 30 anos, o que houve foi a mudança dos personagens, digamos assim. E depois houve outra coisa que é preciso reconhecer: há mais gente, mas é mais gente a andar em círculos. Esse é o problema. Nós andamos em círculos, não estamos a fazer grandes avanços. Enquanto não controlarmos, não tivermos uma maior influência nos meios principais, seja alimentação, comunicação, emprego, escolaridade, saúde, não estamos a avançar.
Ainda assim, há caminhos que têm sido desbravados. Tu és um pioneiro do nosso hip-hop, percurso recentemente distinguido com a Medalha de Prata de Mérito Cultural da Câmara Municipal da Almada. Surpreendeu-te?
Sim, no sentido de que não estava à espera, porque a minha realidade cotidiana não é aqui. Estou lá fora [Reino Unido] e muitas vezes eu esqueço-me do que está a acontecer aqui. Mas é bom, e eu sinto-me orgulhoso de saber que o trabalho que se fez, as coisas que eu fiz e as palavras ainda têm uma certa relevância. É super importante.
Considerando o contexto que estamos a viver, de ascensão e normalização da extrema-direita, e o conteúdo reconhecidamente interventivo da tua música, a distinção municipal, em ano de autárquicas, é indissociável de uma leitura político-partidária.
Sem dúvida. Mas isso são coisas que eu vejo desde sempre. Naquela altura, eu já percebia isso, como as forças políticas usam os artistas, como usam as pessoas. Mas – outra vez – porquê que isso acontece? Porque somos elementos isolados.
Precisaríamos de estar organizados, numa Motown Records, por exemplo.
Precisamos de estrutura. Não só de uma Motown, mas em todas as áreas: económica, política e religiosa ou espiritual, no sentido que tenha a ver com a alma e o sistema de crenças. Porque sempre tivemos um sistema de crenças que nos foi hackeado.
Embora ainda estejamos longe da mudança necessária, hoje há mais artistas negros, e mais plataformas para essa estruturação.
Isso não significa nada. Basta ver os Estados Unidos. Quem domina a cultura são os negros, mas isso não quer dizer que tenham um poder significativo. No fundo, as coisas não mudaram, e há pessoas que até dizem que há cento e tal anos estávamos melhor. Porque o que o sistema faz é criar elites dentro da comunidade. Depois, infelizmente, essas elites têm uma tendência a se juntar com o poder, e a esquecer um bocadinho a razão pela qual começaram a lutar, a fazer o que fazem. E a mensagem começa a ficar cada vez mais diluída. Em França é a mesma coisa. Lá os negros também têm uma força e expressão cultural. Mas todas as expressões culturais são dominadas pelo outro lado. Quem controla a cultura negra não são negros. Então, que poder temos? Enquanto não tivermos a capacidade de criar emprego, uma sustentabilidade económica para alimentar as nossas ambições, a nossa revolução, não teremos nenhum poder.
Mas a revolução está em curso.
Está em curso, mas anda às voltas, anda em círculos.
Há pouco falávamos sobre política e tu, a determinada altura, estiveste nesse território, com o partido Política XXI. Recentemente, numa entrevista, disseste que essa experiência fez-te perceber que a luta da nossa comunidade negra não é por aí. É por onde, então?
Não é por aí. Se formos pela política, temos que criar um partido que tenha origem nas sensibilidades africanas, e nas sensibilidades negras. Não vale a pena seres uma negra ou um negro no PS e achares que vais mudar a realidade da comunidade negra. Porque, em primeiro lugar, tens que servir a agenda do partido que estás a representar. Mas, se é por aí, se é pela política, temos de ter o nosso próprio partido. Assim como os ecologistas têm o partido Os Verdes, e a agenda deles é o ambiente.
Precisamos de um Black Panther?
Sim, um Black Panther. Ou, se não for um Black Panther, precisamos, sem dúvida, de uma força política com origem nas nossas comunidades, e que seja independente. E para ser independente é preciso sustentabilidade económica. Porque todos os partidos políticos são suportados, alimentados, pelos grupos económicos.
Estarias disponível para uma luta dessa natureza, ou seja, havendo um partido com essas características que estás aqui a enumerar, que venha dos nossos contextos, com o nosso pensamento e as nossas propostas?
Sim. Se é o que nós precisamos. Mas enquanto não estivermos prontos a discutir dinheiro, eu não entro na conversa. É tão simples quanto isso.
Essa não é, de certa forma, uma cedência à agenda capitalista?
De onde vem essa palavra: capitalista? Essa não é a nossa maka [problema]. Andamos preocupados com coisas que não são nossas. Porque capitalismo, socialismo, não somos nós. Não tem nada a ver connosco e nós temos que nos preocupar connosco. O grande problema que temos é que nós servimos as agendas todas. Queremos ir apagar os fogos em todo o lado, enquanto vemos o fogo na nossa casa. Eu não respondo ao capitalismo. Eu não quero saber do PS, do PSD, do CDS, do Chega. Eu não perco tempo a falar de nada disso. Não é a minha maka. Não é meu.
Então, o que é que defines como teu para termos esta conversa?
O meu é a Dona Joana ali da barraca, és tu...é a possibilidade de nos juntarmos, de começarmos a falar. Porque quando temos cérebros e valores super importantes para nós, mas depois o diálogo começa a ficar corrosivo porque uns são do PS, outros são do PSD, outros são disto, outros são daquilo, a conversa passa a ser à volta de coisas que não têm nada a ver connosco. Então, em vez de começarmos a discutir coisas nossas, estamos a arrastar-nos a partir de partidarismos. Mas não só. Será que realmente importa estarmos a discutir quem é do Islão ou quem é do Cristianismo? Se calhar, neste momento nós temos é que ver quem está a vibrar ao mesmo nível, ou parecido. Nós temos que nos preocupar com as coisas que realmente importam, e que nos possam fazer saltar para uma outra realidade económica e social. A partir daí podemos crescer, combater o sistema taco-a-taco. A justiça não vai acontecer só porque é justo.
De outro modo, já teria acontecido.
Exactamente. A justiça obtém-se na luta – e eu não apelo nesse sentido – ou na negociação. Nós temos que negociar a justiça. Mas só conseguimos negociar a justiça se estivermos apetrechados, se tivermos um poder colectivo. E o engraçado é que todas as outras comunidades têm. Os chineses têm, os indianos e os paquistaneses também.
O que nos bloqueia?
O nosso desejo é a integração. O desejo deles não é integração, é o respeito dentro das diferenças. Nós não. Havia aquela frase, lembras-te? “Todos diferentes, todos iguais”. Essa é a nossa mentalidade de sempre.
Entendes que essa busca de integração é uma especificidade da África dita lusófona?
Eu acho que em França sofrem da mesma questão, pela forma como a colonização foi feita. Em Angola, por exemplo, tinhas um bilhete de identidade diferente consoante o teu tom de pele, e em Moçambique era a mesma coisa. Houve a necessidade, para dominar o povo, de criar diferentes categorias de pessoas, e fazer corresponder diferentes tipos de privilégios a diferentes categorias. São coisas que ficaram até hoje, mesmo que no subconsciente. Porque não foi só colonizar a terra, foi colonizar a mente.
E nesse processo encontra-se, muitas vezes, a vontade de caber num padrão que não é o nosso. Recordo-me perfeitamente que quando tu apareceste todo o teu visual, a tua estética, eram profundamente disruptivos para o nosso contexto e comunidade. Com foi assumir a tua pele perante olhares de estranheza, rejeição e condenação?
Foi super difícil mas, ao mesmo tempo, quando tu estás no balanço, há coisas que nem vês, não dás muito valor ao que estão ou não a dizer. Tu sabes que tens alguma coisa e um percurso a fazer.
Achas que há uma orientação que é maior do que tudo?
Ah, sim, sem dúvida. Há coisas maiores. Toda a minha família, irmãos, estávamos todos sujeitos à mesma realidade cultural, estávamos na mesma situação, mas nenhum deles teve essa irrupção. Tem a ver com outro tipo de chamadas, que não conseguimos definir aqui, nem eu consigo explicar. Mas agora, olhando para trás, para passar por tudo e continuar a lutar, penso que tens mesmo que estar rodeado por outro tipo de coisas que não entendemos.
Recuando justamente aos primeiros tempos, quando inicias os Black Company há, para além da motivação musical, o propósito de fazer face aos skinheads, que se multiplicavam. Hoje, mais de 30 anos depois, estamos a lidar com uma renovação das forças que ameaçam a nossa existência. O que é que aconteceu?
É o que eu pergunto sempre às pessoas. Ok, naquela altura, havia skinheads por todo o lado, centenas e centenas, milhares. E eu pergunto: para onde é que vocês acham que essa gente foi? Será que acham que essa gente mudou de mentalidade, que mudou de ideologia? Não. Essa gente está nas polícias, nos hospitais, no Parlamento, nos cafés...está em todo o lado. E está a usar os poderes que tem, ou os minipoderes que tem, para influenciar negativamente a vida dos negros. Mas desta vez não têm que sujar as mãos. Não é preciso atirar pretos ao rio para prejudicar a nossa vida. Tem-se falado muito, por exemplo, de como as mulheres negras têm uma percentagem muito mais elevada de mortes ou de problemas graves no parto. Isto porque as coisas não mudaram assim tanto. E hoje a capacidade de nos influenciar negativamente de forma colectiva é estrondosa. Por isso eu repito: temos de estar à frente desses lugares, temos que dominar todos os diferentes campos.
E achas que vale a pena ir para o sistema e tentar influenciá-lo? Ou consideras que a mudança só se pode fazer de fora, forçando o sistema?
Só se pode fazer a mudança fora do sistema. Neste aspecto, não temos que inventar a roda, os exemplos de outras comunidades estão aí. Os judeus não pedem dinheiro ao banco, os chineses raramente pedem dinheiro, os indianos raramente procuram emprego nuns CTT. Eles têm as suas próprias estruturas e, muitos deles, têm a sua própria medicação, a sua própria maneira de manter o corpo são. Os exemplos estão aí.
A mudança exige, antes de mais, compromisso.
Sim, mas é muito raro encontrar pessoas que realmente querem ter esse compromisso, porque nós estamos muito habituados ao conforto dos sistemas do nosso opressor. E ninguém quer abdicar desse conforto, desse sistema, desse belief system [sistema de crenças].
Talvez porque por pior que seja, é um mal que já conhecemos, com o qual estamos habituados a lidar.
E quando tu pões isso em causa, como eu pus, a tua vida toda “crumble” [desmorona]. Porque toda a tua existência gira à volta dessas crenças. Quando tu pões isso em questão, a tua vida transforma-se em pó, até criares uma nova. É uma estrada muito dolorosa. A maior parte das pessoas não quer ir por aí. As pessoas preferem, ou pensam que mais vale entrar no sistema. Querem ser aceites dentro do sistema, e depois vemos o que isso faz. Porque uma coisa é que quereres liberdade, outra coisa é quereres mudar as condições de vida dentro da prisão. E muitos de nós queremos estar na prisão, só que com melhores condições. Talvez com uma televisão, sofá, mais visitas, mas, ainda assim, queremos estar na prisão. Não queremos liberdade, porque liberdade é responsabilidade. A liberdade é dura, e, para muita gente, às vezes a prisão é mais fácil. Por isso é que “everybody can’t go”. Nem todos podem ir, porque é um compromisso muito complicado.
Tu falaste da vida que se desfez. Estás a renascer das cinzas?
Sem dúvida. Absolutamente. Sim. E ao renascer das cinzas, há coisas que não dá para explicar, não dá para falar. Há forças que movem e que fazem coisas acontecer. E eu acredito muito no universo. Eu acho que o universo junta-te com pessoas.
Mas é um processo muito solitário.
Super solitário. E isso é outra coisa que tens de abraçar: a solidão.
E como se abraça a solidão quando estás em processos de dor, quando te estás a desfazer, quando parece muito mais fácil fugir desse lugar?
Sabes, a semente adora solidão, adora o escuro. Ela brota no escuro. Então, às vezes, é necessário.
Dizes que a tua luta sempre foi e continua a ser pela dignidade do homem e da mulher negros. É muito mais desafiante, hoje, lutar por essa dignidade, com a consciência que tu tens, considerando que há um romantismo que se perde no caminho? Considerando até essa ideia de que não dá para fazer colectivo com todos?
Não, porque hoje eu posso melhor, no sentido de ser mais eficiente, porque, número um, eu apostei muito e continuo a apostar em edificar estruturas. Número dois, eu não estou dependente das estruturas estatais, ou que pertencem ao poder. Eu não preciso de uma editora. Mesmo os concertos, eu adoro, mas se não os tiver, eu consigo pagar as minhas contas, porque tenho uma vida paralela. Então eu posso estar nesta vida, nesta luta, de uma posição completamente diferente. Portanto, respondendo à tua pergunta, eu não ponho as coisas em termos de ser mais difícil ou não, porque é sempre difícil. A luta é sempre difícil. Há 100 anos, ias à guerra, e a guerra continua a ser guerra. Só que se antes ias com os punhos, hoje se calhar tens um armamento diferente. Se calhar a diferença é essa. E eu apostei muito, e continuo a apostar em estruturar as coisas.
Nesse processo de dignificação das nossas vidas, cantaste uma poderosa declaração de amor às mulheres negras, com o tema “Black Magic Woman”. Três décadas depois do sucesso, é-me difícil observar esse amor à mulher negra aqui em Portugal. Consegues ver esse amor?
Como eu não vivo a realidade portuguesa do dia-a-dia, vou falar em termos gerais. E, em termos gerais, o que eu acho é que a relação entre o homem negro e a mulher negra é afectada pelo ataque à família negra. Porque a família negra sempre esteve sob ataque, é o maior inimigo de quem não gosta de nós. Atacando a família negra, é a forma mais fácil de nos controlarem. E o que me levou a esse tema foi realmente o amor que tinha e tenho pela mulher negra como instituição. E eu sei o quão essa instituição é usada pelos nossos inimigos, e de forma às vezes, inconsciente, muitas das nossas irmãs, servem o nosso inimigo. Porque esse nosso inimigo tem consciência do poder que a instituição mulher tem no desenvolvimento da família, no estabelecimento de toda a família, de toda a cena negra. Passa tudo pela mulher. E se eles tiverem o controle da mulher, eles controlam a nação. E agora as mulheres têm realmente que reparar se estão a ser controladas ou não. Outra vez, isto é uma coisa super difícil de seguir. Por isso é importante deixar cada pessoa no seu próprio processo.
À procura de Mário Pinto de Andrade, numa via de encontro com Sarah Maldoror
Neste 2025 em que se assinalam os 50 anos das Independências de Angola, Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe, a editora Letra Livre vai lançar uma há muito aguardada reedição da obra antológica de Mário Pinto de Andrade, intitulada “Origens do Nacionalismo Africano”. A novidade é antecipada ao Afrolink por Henda Ducados, filha do líder histórico, que, juntamente com a irmã, Annouchka de Andrade, se tem dedicado a preservar e difundir o legado familiar. Além de nos darem a conhecer os múltiplos contributos paternos para os processos de libertação – ultrapassando as fronteiras mais estritas da intervenção política –, Henda e Annouchka abrem os arquivos maternos, permitindo-nos aceder à vida e obra de Sarah Maldoror, apelidada de “mãe do cinema africano”.
Neste 2025 em que se assinalam os 50 anos das Independências de Angola, Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe, a editora Letra Livre vai lançar uma há muito aguardada reedição da obra antológica de Mário Pinto de Andrade, intitulada “Origens do Nacionalismo Africano”. A novidade é antecipada ao Afrolink por Henda Ducados, filha do líder histórico, que, juntamente com a irmã, Annouchka de Andrade, se tem dedicado a preservar e difundir o legado familiar. Além de nos darem a conhecer os múltiplos contributos paternos para os processos de libertação – ultrapassando as fronteiras mais estritas da intervenção política –, Henda e Annouchka abrem os arquivos maternos, permitindo-nos aceder à vida e obra de Sarah Maldoror, apelidada de “mãe do cinema africano”. A destacada herança ganha expressão a partir das actividades da “Associação dos Amigos de Sarah Maldoror e Mário de Andrade”, um dos temas abordados na conversa com Henda, que, no final de 2024, após décadas em Angola, se mudou para Portugal. “Aqui consigo ajudar mais a minha irmã”, explica, de calendário apontado para os diversos compromissos da associação, entre exposições, presenças académicas e projectos de restauro do espólio de Sarah. “Até 2026 já temos a agenda cheia”, conta a economista e socióloga, lembrando o que virá depois disso: os centenários do nascimento de Mário (2028) e Sarah (2029). “Acho impressionante a sua cumplicidade. Evoluíram juntos. Viveram uma história de amor que teve como sustento a emancipação cultural de ambos.” O que ainda falta contar?
Henda Ducados, imagem da “Associação dos Amigos de Sarah Maldoror e Mário de Andrade”
Estava sempre agarrado a um livro, embrenhado em torrentes de leituras, anotações e pensamentos, num quotidiano que também não dispensava caminhadas para desanuviar e arrumar ideias. “Tenho essa memória muito vívida: o Mário era um homem de rituais”, recorda Henda Ducados, desfiando lembranças familiares que fazem parte da nossa História colectiva.
Filha de Mário Pinto de Andrade e Sarah Maldoror, a economista e socióloga dedica-se, em conjunto com a irmã, Annouchka de Andrade, a compilar, preservar e divulgar o legado dos pais. Ou melhor: de Mário e de Sarah.
“Nunca me referi ao Mário como pai, nem à Sarah como mãe, porque fomos educadas assim”, explica, afastando desse tratamento qualquer leitura de distanciamento. “O afecto está cá quando falo neles. Simplesmente na nossa casa o hábito era diferente”.
Além de uma infância rodeada de livros, Henda recorda algumas peripécias próprias das lutas na clandestinidade.
“Cada sítio onde vivemos está associado a um evento histórico, e eu acho isso bastante interessante”, nota, começando pelo seu local de nascimento: Marrocos.
“Rabat [a capital] era a sede do Secretariado-Geral da Conferência das Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas (CONCP)”, assinala, antes de apontar para a localização seguinte: Argélia.
“Foi o palco das revoluções: todos os movimentos nacionalistas tiveram um escritório e uma presença muito grande lá. Lembro-me que a nossa casa estava sempre cheia de pessoas a ir a vir, e que um dos líderes do americano Black Panther, o Eldridge Cleaver, era nosso vizinho”.
O ultimato argelino
Com a recordação de Cleaver assaltam memórias do génio materno: “Uma vez, a Sarah disse-lhe: podes entrar, mas nada de confusão aqui! Faz o favor de deixar a tua arma à porta, porque eu tenho filhas.”
A passagem pela Argélia acabou, contudo, por ficar marcada por outro ultimato: 24 horas para abandonar o território.
“A nossa saída do país foi dramática, porque a Sarah tinha ido à Guiné-Bissau, a convite do Amílcar Cabral, para fazer um filme sobre a luta do país. Lá no terreno, ela mudou o rumo do filme, porque viu que as mulheres tinham um papel muito importante. Então, filmou o trabalho das mulheres, e quando voltou a Argélia, houve uma polémica com o responsável”, descreve Henda, explicando que, embora a produção incidisse sobre o combate guineense, era financiada pela Frente de Libertação Nacional argelina.
“Não gostaram do resultado. Mas não foi isso que levou a Sarah a ser expulsa. Ela infelizmente não se conseguiu conter, insultou um general e acabou presa, com ordem para deixar o território”.
O episódio, que não teve um desfecho pior porque havia a influência de Mário, precipitou a mudança de mãe e filhas para Paris, onde acabaram por se estabelecer.
Para trás ficaram as imagens da discórdia, sem que, contudo, tenham sido esquecidas.
“Hoje esse filme está perdido, mas, recentemente, a minha irmã foi a Argélia, e fez um bom contacto ao nível do Exército, e ao nível da Cinemateca, para ver se conseguimos recuperar a película”.
Compreender Angola, pela escrita de Obama
A diligência faz parte do compromisso de preservação do legado paterno e materno, assumido pelas duas herdeiras.
“Na verdade, respondemos a uma demanda que tem sido excepcional”, conta Henda, assinalando o crescente interesse que a “Associação dos Amigos de Sarah Maldoror e Mário de Andrade” tem despertado em todo o mundo.
“Criámos o projecto em 2020, quando a Sarah faleceu”, recua a economista, na altura ainda a residir em Luanda, destino que se impôs na sua trajectória há mais de três décadas.
“Foi uma escolha um pouco natural, porque o Mário tinha falecido em 1990, e, nessa altura, eu fui a Angola pela primeira vez, para o funeral”. A dolorosa experiência da perda acabou, dois anos depois, por precipitar a mudança.
“Quando acabei os meus estudos, em Chicago, disse: e agora? De repente, tive um grito interior, e senti que era necessário ir”.
O propósito da viagem, que durante muito tempo Henda não conseguiu explicar, revelou-se a partir de uma leitura. “Pode parecer anedótico, mas foi assim mesmo: eu estava a ler o livro do Obama, “Dreams of my Father”, e há uma parte, no fim da viagem que ele fez ao Quénia, em que está nas ruas de Nairobi, já preparado para regressar aos EUA, e sente o pai, consegue vê-lo num engraxador de rua, num motorista de táxi. E no fundo é isso…quando estive em Angola, senti-me mais próxima do Mário”.
A par do reforço da ligação ancestral, a também socióloga aproveitou a temporada angolana para co-fundar a Rede Mulher, aprofundar conhecimentos em microcrédito e descobrir novos sentimentos de pertença.
“É interessante porque quando o Obama chegou ao Quénia, pela primeira vez ninguém questionou o nome dele, que foi pronunciado como deve ser. Isso também aconteceu comigo”.
Apesar de o pai lhe ter explicado a escolha do seu nome – “sempre me disse que era saudade, não só de Angola, mas da mãe –, em Angola, Henda ganhou nova força identitária. Como num processo de renascimento.
“O óbito do Mário foi tão violento que essa foi uma forma de me curar”.
Mais do que lidar com o impacto da morte paterna – “perdi aí alguém muito chegado pela primeira vez” –, a economista reconhece agora que carregava, de forma inconsciente, o peso de não ter resposta a algumas questões, em relação ao percurso do pai, e a necessidade de conhecer as origens.
Legado na agenda
Hoje fixada em Lisboa, Henda explica que como Annouchka vive em Paris, a sua mudança para Portugal permite uma maior partilha de responsabilidades, na dinamização da “Associação dos Amigos de Sarah Maldoror e Mário de Andrade”.
“Aqui consigo ajudar mais a minha irmã”, sublinha, de calendário apontado para os diversos compromissos da associação, entre exposições, presenças académicas e projectos de restauro do espólio de Sarah.
“Até 2026 já temos a agenda cheia”, nota, lembrando o que virá depois disso: os centenários do nascimento de Mário (2028) e Sarah (2029).
Para este ano, as novidades passam pela reedição, pela Letra Livre, da obra antológica de Mário Pinto de Andrade, intitulada “Origens do Nacionalismo Africano”, e por um colóquio sobre o líder histórico, a acontecer em Junho na cidade brasileira de São Paulo.
Também em 2025 – em que se assinalam os 50 anos das Independências de Angola, Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe – está na calha o lançamento de uma compilação de textos do destacado pan-africanista, que sucede à estreia, em 2024, do documentário “Mário”, do americano Billy Woodberry.
“O filme é interessante porque retrata a vida do Mário, mas apenas dimensão política. Eu fiquei com a sede de querer ver mais do poeta, do humanista e do intelectual e pensador”, admite Henda, empenhada em dar a conhecer mais do pai.
Por exemplo, conta, “muita gente não sabe que o Mário ajudou a Sarah a escrever os seus primeiros dois filmes: Monangambé e Sambizanga. Mas foi ele que escreveu os diálogos, e que ajudou no roteiro”.
Amor de emancipação
A colaboração reflete uma das dimensões que, para a filha, importa aprofundar: “Eu acho essa parte da cumplicidade impressionante, porque é a cumplicidade de uma pessoa que não é africana, como a Sarah, que descobriu e abraçou a literatura angolana com ele, e abraçou a causa do movimento de libertação”.
Lembrando que a realizadora já tinha uma identidade construída antes de conhecer Mário, a economista assinala que também ele já era uma pessoa com obras publicadas.
“Evoluíram juntos. Viveram uma história de amor que teve como sustento a emancipação cultural de ambos.”
O que ainda falta contar?
“Havemos ainda de descobrir mais”, acredita Henda, que se continua a surpreender com o legado que lhe corre nas veiais.
“A Sarah tem sido estudada há mais de 20 anos nos Estados Unidos, mas agora há mais pessoas a estudar, a criar cadeiras de cinema sobre o trabalho dela, e nós estamos a fazer palestras nessas universidades”, nota, traçando uma rota que já passou pelas prestigiadas Harvard e Princeton, e que em breve também estará em Yale.
Muda-se a geografia, da América para a Europa, e o interesse na realizadora mantém-se: os 45 filmes que integram a obra de Sarah têm sido seleccionados para vários festivais, processo indissociável do trabalho de restauração desenvolvido por Henda e Annouchka. A este estímulo para novas exibições, junta-se o recurso à tecnologia Blu-ray, via em utilização para facilitar o acesso de mais pessoais à marca Maldoror.
Já a assinatura Pinto de Andrade transporta ainda uma dimensão Kimbundu pouco analisada, visível, por exemplo, na letra da canção “Muimbu Ua Sabalu”, imortalizada em interpretações de Ruy Mingas e Bonga.
Mas muito mais do que um extenso e rico acervo, Mário deixou um caminho para a sua preservação. “Lembro-me que dizia sempre: ‘Atenção, às minhas notas, atenção aos meus cadernos’. Aliás, quando ele partiu, depositámos os documentos na Fundação Mário Soares/ Maria Barroso, e o pessoal ficou surpreendido, porque estava tudo muito organizado”.
Os impressionantes planos de conservação não deixaram sequer de fora o regresso à cidade de origem. “Eu gostaria que um dia tu me ajudasses...vamos criar uma associação no Golungo Alto, dizia-me ele, mas eu só olhava e respondia: o quê? O Golungo Alto? Tão longe! Era uma coisa que no meu imaginário não se poderia materializar”.
Hoje, a três anos do centenário do nascimento do líder histórico, as actividades da “Associação dos Amigos de Sarah Maldoror e Mário de Andrade” demonstram-nos que tudo é possível.
“O contar da história é um compromisso”, sublinha Henda. “Uma pessoa não pode dizer: o meu pai não foi um escritor, a minha mãe não foi realizadora…não tenho nada para contar. Não! Todos nós temos uma história para contar. E eu acho que é muito importante contá-la, ter orgulho em quem somos, tentar compreender o nosso papel na sociedade, e como havemos de marcar a diferença”.
Sem encolhimentos de fronteiras: “Há muitas coisas para fazer e para melhorar, seja nos nossos países de origem, seja na diáspora”. Com legado.
Edição esgotada da obra antológica de Mário Pinto de Andrade, que será reeditada pela Letra Livre